Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
Para frear o fascismo: precisamos saber combater e rebater as fake news
Por Kauan Willian

Nossa tarefa é quebrar o senso comum | Foto: portal.lygiaclark.org.br
Nas eleições de 2018 fomos surpreendidos com novas táticas de compartilhamento de informações. Diferentemente da televisão, que tem regulação para o tempo de propaganda política, na internet há um enxurrada de conteúdos. E a extrema-direita sabe muito bem lidar com grupos no facebook, whatsapp e fabricação de conteúdos virulentos, baseados em rumores e sem fonte para a checagem.
Essa escalada, no entanto, não começou agora. O laboratório de acusações, rumores e memes acompanharam o processo de impeachment que depôs Dilma Rousseff, e foi um dos pilares para o antipetismo, usando argumentos parecidos que a extrema-direita usa para construir fantoches da esquerda ou mesmo de posições progressistas.
Caso parecido foi nas eleições nos EUA que elegeram Donald Trump. É evidente que nesses dois casos sabemos hoje que existia uma máquina de propaganda com investimento nos algoritmos. Ou seja, não foi construído tão somente pela vontade ou “ignorância” da população, como eles querem que pareça.
Mesmo assim, temos que lidar com familiares, amigos, colegas no ambiente de trabalho e nos espaços públicos em que precisamos ocupar, que se utilizam das chamadas fake news (notícias falsas) ou que apresentam argumentos antiprogressistas, anticomunistas e antipetistas. Aqui daremos algumas dicas para podermos barrar essa disseminação no dia-a-dia, tanto agora mas também fora das eleições, sabendo que essa disputa de ideias é construída durante anos e meses antes desse período.
Construa um diálogo que incentive a dúvida, o senso crítico e a busca por informação
Não podemos ignorar mais que as redes sociais e os grupos de WhatsApp foram formando opiniões que são usadas politicamente. Ao contrário de ignorarmos isso ou simplesmente ficarmos nervosos com familiares e amigos que compartilham essas informações e formas de divulgação, devemos atraí-los construindo uma cultura da dúvida e de busca por informação.
A extrema-direita trata seus interlocutores como pessoas sem senso crítico que acreditarão em todas as informações passadas e, portanto, contam com o fato que não haverá pesquisas e checagem de dados, fatos ou referências. Não podemos contribuir com esse tipo de prática, já que fortalecemos essa forma de pensar.
Podemos começar perguntando e indagando quais sites e fontes apresentam aquela opinião que está sendo compartilhada ou falada e se há alguma opinião divergente, se há dados ou livros do assunto. O objetivo é exercitar a busca daquelas pessoas por informação, da construção de um senso crítico e de um debate público. Após isso podemos apresentar indicações de links, textos e imagens que contrapõem aquela informação.
Para os religiosos, contraponha com exemplos e argumentos de religiosos
A extrema-direita está jogando estrategicamente a ideia de que ela representa todos os valores religiosos e enquanto valores progressistas estão ligados ao ateísmo. Isso faz com que possivelmente pessoas religiosas comprem tais ideias mesmo sem concordar exatamente com elas. Nossa ideia, assim como no sentido de construção do senso crítico, é mostrar que há líderes e movimentos religiosos que também defendem pautas progressistas, de esquerda e até radicais.
Mesmo não concordando com a religião daquela pessoa, podemos dar exemplos de falas de líderes religiosos, livros, movimentos e da história que mostram pessoas envolvidas com a fé pautando valores de igualdade, democráticas, contra o ódio e até protestando por direitos dos mais pobres. As pessoas tendem a ficar bastante interessadas quando falamos da luta do cristianismo progressista contra a Ditadura Militar na América Latina, por exemplo, ou das campanhas de evangélicas em prol de pessoas em situação de rua. Isso são dois exemplos de como podemos defender nossas pautas sem negar o debate religioso e da fé.
Defender a democracia sem precisar esconder a esquerda
Se é verdade que podemos conversar com as pessoas levando em consideração suas próprias crenças, em um primeiro momento, e da democracia como valores humanos universais, não precisamos esconder, em um outro momento, nossas posições políticas e ideológicas. Parte de nossa ala progressista foi contribuindo com ideias anticomunistas e anti-socialistas ao fazerem coro com frases como “a esquerda defende Ditaduras” ou mesmo “não somos contra o capitalismo”.
Devemos ter como missão também complexificar esse debate, construindo um senso crítico e confeccionando materiais didáticos sobre o assunto. Nos últimos anos avançamos muito nesse sentido e devemos continuar apoiando projetos coletivos que fazem esse trabalho de educação sobre os mitos e falseamentos históricos que rodeavam as propostas de esquerda e revolucionárias. E é preciso falar de nossos ganhos em nossa tradição que afetam a vida material dessas pessoas, como as lutas das 8 horas de trabalho pelos primeiros socialistas e anarquistas no Brasil, a luta pelo salário mínimo e pelas férias por comunistas no século XX, assim como a construção de universidades e da ascensão de classes sociais pelas lutas populares no século XXI, por exemplo.
Conteúdos fáceis de ler e memes também são legais
Uma parte intelectual de nossas fileiras já caiu no erro de acreditar que materiais didáticos como memes e imagens não politizam. É verdade que não temos a mesma estratégia de lidar com a suposta ignorância de nossos interlocutores como faz a extrema-direita. Eles também têm a vantagem de apenas alimentarem preconceitos existentes da sociedade (ideologia da classe dominante). Nossa tarefa é realmente quebrar tais sensos comuns, o que já torna o trabalho mais difícil e não podemos fazer isso apenas com memes, mas incentivando o senso crítico e o estudo, o debate, a pesquisa. Mas para chamar essas pessoas, mobilizar e contrapor uma cultura imagética e de fácil disseminação, não podemos ignorar a construção e compartilhamento desses materiais também.
Devemos lembrar que ironias, humor e diversas formas de arte já são utilizadas há tempos pela esquerda e por educadores populares nos processos de politização e lutas da sociedade. Compartilharemos memes, vídeos, imagens e cards, desde que a conversa, o debate, as referências e leituras estejam na ordem do dia, acompanhando esse processo. Temos muito trabalho a fazer agora e depois. É um processo de luta, vamos lá!
Carta à minha vó, vóinha Maria I.
A advogada popular Juliana Borges escreve uma carta para sua avó às vésperas do segundo turno.

“Eu acredito no amor ensinado por Cristo e entoado por Francisco de Assis: “onde houver ódio, que eu leve o amor”! l Crédito: Vitor Sá
Salvador – BA, 06 de outubro de 2022.
Bença, vó.
Vejo que a senhora está com uma bandeira do Brasil no perfil, imagino que não seja apenas por ser nacionalista. Suponho que pra senhora essa bandeira signifique apoiar o atual presidente.
Gostaria de ouvir os motivos da senhora, mas também gostaria de expor os meus. Não sobre a necessidade de apoiar Lula e/ou o PT, mas sobre as razões pelas quais o outro candidato não é uma opção pra mim.
Vou começar pelo meu trabalho. Como a senhora sabe eu trabalho em uma organização da sociedade civil como advogada popular prestando assessoria para organizações e populações vulnerabilizadas. Em sua maioria pessoas do campo, trabalhadoras rurais, ribeirinhos e quilombolas em situação de conflito.
Afinal, pra que precisariam de advogada se não tivessem com algum problema, não é mesmo? Assim me ensinaram L. e S., no auge da sabedoria dos seus 6 anos de idade: advogado é para resolver problema.
Pois bem. Em uma das primeiras manifestações do atual presidente ao assumir o executivo afirmou que acabaria com as organizações não governamentais para, em suas palavras: “botar um ponto final em todos os ativismos no Brasil”.
Ele ainda não conseguiu levar à frente esse projeto. E não por falta de tentativas. Desde de normas de monitoramento não aprovadas pelo Congresso à criminalização de organizações, como aconteceu no Pará, tendo pessoas presas por falsas acusações proferidas pelo presidente.
Poderia ter sido eu a pessoa presa.
Dar a ele a oportunidade de seguir no poder é possibilitar que ele leve à frente a desarticulação das organizações e, de forma egoísta, te digo: eu posso perder meu trabalho.
Ainda sobre isso, te falo: lidar com conflitos ao lado do povo é colocar-se em risco. Digo isso porque quando vou a uma comunidade que dorme e não sabe se vai acordar de tantas ameaças e atentados que já sofreram, é ir trabalhar sem saber se vou voltar.
Sob o governo do atual presidente, parte da população anda armada até os dentes e posso dizer, se o bem existe, essa gente não é gente de bem. No campo, nos conflitos fundiários a “lei da bala” sempre imperou e a ausência do Estado fazia com que nem mesmo virassem dados as vidas perdidas em defesa da terra. Nesse governo, essa lei voltou a reinar e com o aval do presidente.
Se ao exercer a minha profissão eu me deparo com um pistoleiro, sabe o que penso? Que a arma apontada para mim teve o gatilho puxado por aqueles que confirmaram o voto em quem permite tal atrocidade.
Se organizar, se juntar, fazer luta em uma sociedade democrática não é crime, é direito constitucional garantido. E esse direito é constantemente violado pelo presidente.
Eu sou flor, sou fruto das sementes que foram regadas com o sangue dos que vieram antes de mim na luta pela terra, por justiça social e condições dignas de vida. Eu não quero ser a que vai regar esse chão sofrido, não quero que a senhora, a minha referência de mulher, suje suas mãos com o meu sangue e nem com o de ninguém. Por isso não voto no atual presidente.
Outro motivo é que aprendi muito nova que Cristo é amor, que não se deve usar o nome de Deus em vão e que mentir é errado. A senhora quando me abençoa roga por Nossa Senhora para que ela me cubra com o manto sagrado e cuide de mim e me proteja. Amor e cuidado não são nutridos com ódio, desrespeito e pregação da destruição do outro por ser diferente.
Em nome de Deus (usando em vão) muitas vidas têm sido ceifadas, muitas pessoas estão sendo levadas a extrema pobreza e miserabilidade. Em nome de Deus, o atual governante tem desejado a morte, de metralhadora, dos seus opositores eleitos como inimigos prontos para serem abatidos. O atual presidente e seus seguidores mentem, desinformam a população e criam dúvidas sobre a realidade que está diante dos nossos olhos, nos preços nas prateleiras do mercado, na ausência da carne e do feijão na mesa de milhões de brasileiros. É em respeito a sua crença em Deus, é por acreditar no amor e na verdade que eu não posso apoiar esse homem no poder.
A senhora sabe que eu sou do Candomblé e esse é mais um motivo para não votar em quem prega o racismo nas suas mais diversas faces. Logo o presidente que tem o dever constitucional de governar para todos, sem distinção de raça, gênero ou crença religiosa? Não posso fazer isso comigo, nem com ninguém. Porque prezo pelo respeito, pelo amor e pela diversidade, porque ela no seu colorido arco-íris pinta esse mundo com os mais belos tons.
Dos dias que passamos juntas aqui em casa duas coisas me marcaram muito, até me emociono de lembrar. Uma éramos nós duas na janela do quarto olhando a mata ao fundo do prédio contando e rindo dos micos que pulavam de um galho para o outro. Passávamos um tempão contemplando o céu, o pôr do sol e eu ouvindo suas histórias. Em uma delas descobri que minha paixão pela lua veio da senhora, que acompanha suas fases ao olhar o céu.
Essa conexão ancestral com a natureza não pode ser perdida por um voto que permite a devastação das matas, das águas e de tudo que há de belo e sagrado pra nós. E digo nós porque sei que pra senhora o que víamos e vemos todos os meses brilhando ou não no céu é sagrado. Não consigo olhar pra mata aqui e não pensar no quanto o governo foi omisso com o desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Melhor dizendo, o quanto foi permissivo em benefício de poucos e em sua maioria estrangeiros.
A outra lembrança que tenho, éramos nós: eu, a senhora e tia L., rezando o terço todos os dias pela vida e saúde de tio J., internado em estado grave há vários dias por causa da Covid-19. Via nos olhos mareados da senhora o medo de perder o filho. Sentia o coração apertar com a expectativa dos boletins médicos rezando para a saturação do pulmão melhorar e ele ter alta. Por viver esse medo tão de perto eu não posso apoiar o gestor que fez piada dos mortos, imitou pessoas com falta de ar, com total desrespeito a nossa dor, ao nosso sofrimento e de tantos outros. Não posso apoiar quem foi responsável por mais de 680 mil mortes no país por má gestão durante a pandemia. Por demorar na viabilização da vacina, enquanto enchia os bolsos de dinheiro vendendo a falsa cura da cloroquina. Não consigo pensar na continuidade dessa pessoa no poder quando não pude velar o corpo de tio Joãozito, quando tive que assistir ao enterro pela tela do celular, vendo as pessoas distantes, sem poder se abraçarem para se acolherem no momento de dor. Pra mim é inconcebível!
Tenho outros tantos motivos, como ele ter dito a uma mulher que ela não merece ser estuprada por que ela é feia, por toda sua misoginia e machismo, pelo preço dos alimentos, do gás de cozinha, do combustível, dos desvios de verbas, dos escândalos envolvendo a família dele, das intervenções na polícia federal, das tentativas de destruir as universidades públicas, chegando a associá-las a balbúrdia, por ele oferecer capim aos nordestinos como alimento. São muitas as razões pelas quais ele jamais será uma opção pra mim.
Mas a principal delas é que eu me sinto ameaçada, em risco por uma eventual continuidade desse governo.
E também, porque apesar das dores da vida e da árdua luta que travamos por dias melhores para mais pessoas, eu acredito no amor ensinado por Cristo e entoado por Francisco de Assis: “onde houver ódio, que eu leve o amor”!
Com amor, de sua Lôra.
Juliana Borges, advogada popular e muzenza do Nzo Caxuté
Para frear o fascismo: dialogar com o diferente e construir comunidades comunicativas
Por Kauan Willian

Se a gente conversasse com vizinhos, pessoas do trabalho e do ônibus saberíamos que a cultura política do país está guinando cada vez mais para a extrema-direita| Foto Steve Jurvetson via Flicker/ Creative Commons 2.0
Assim como nas eleições em 2018 houve certa surpresa por parte de nossas redes ativistas sobre o resultado e ascensão de candidatos de extrema-direita no cenário político. Essa frustração pode fazer com que pensemos que todas as nossas estratégias e táticas comunicativas estejam equivocadas e que as pautas de esquerda, feministas, dos direitos indígenas, anti-racistas, anticapacitistas e LGBTQIA+ não estejam sendo consideradas e absorvidas entre a maioria das pessoas. Mas não é bem assim, haja visto os importantes nomes representativos desses campos que foram eleitos no último mês. Além disso, pesquisas mostram que os ideários progressistas crescem entre os jovens, mulheres e mais pobres.
De qualquer maneira, é sempre bom reconsiderar nossas táticas, especialmente as de comunicação. A seguir, iremos refletir como podemos pensar nisso nesse momento onde devemos estar unidos contra a iminência do fascismo
Saia da bolha e converse no ponto de ônibus
Parte desse estranhamento vem da falta de diálogo com pessoas com visões diferentes das nossas. Se a gente conversasse com vizinhos, pessoas do trabalho e do ônibus saberíamos que a cultura política do país está guinando cada vez mais para a extrema-direita e para o fundamentalismo cristão. E isso não é de hoje.
As estratégias de comunicação na internet poucas vezes levam em consideração que 20% população brasileira com mais de 16 anos não tem internet. A falta de acesso online está entre os mais pobres e em áreas rurais. Além disso, a falta de instrução e discernimento sobre informações falsas, chamadas de fake news, ainda é um dos principais desafios para a resistência, já que a direita tem a desinformação como arma política.
Estude e reconheça a caminhada
Aí está uma lição histórica dos antifascistas. Não se pode negligenciar o fascismo quando ele está pequeno porque seu crescimento é veloz. Também não bastam as ações individuais. É preciso criar estratégias coletivas, militantes, fortalecer organizações, movimentos sociais e pessoas que historicamente fazem esse trabalho. Conhecer, estudar, construir e reestruturar engajamento é fundamental.
Bora pra rua
Não se pode esquecer o trabalho presencial nas ruas, escolas, aldeias, quilombos, ocupações, praças públicas e outros espaços públicos e coletivos onde se faz necessária a conversa e mediação de pontos importantes. As redes sociais ajudam, mas não se encerram em si.
A bolha também é legal
As bolhas não são de todo mal, o problema está em nos limitarmos dentro delas. Como já dissemos, é importante sair e dialogar com o diferente. Ao mesmo tempo, como é bom estar entre os nossos, não é? O confronto de ideias progressistas e conservadoras, revolucionárias e reacionárias foi sempre uma constante na contemporaneidade e até dentro desses grupos, que se mostraram complexos e heterogêneos. A gente até pode excluir amigos e parentes com ideias retrógradas ou (proto)fascistas, mas a diferença sempre vai existir e o debate é constante.
A influência que as mídias e as redes sociais têm na vida das pessoas é real e isso nos faz pensar que a exposição e a criação de comunidades online com nossas posições são importantes. Nesse movimento é claro que não devemos cessar o diálogo, mas mais importante do que isso, o combate às informações falsas dentro desse exercício de comunicação não excludente e a criação de conteúdos didáticos, fáceis de ler, mas ao mesmo tempo referenciados ajudam demais.

As redes sociais ajudam, mas não se encerram em si. | Foto: Pexels
Apoie projetos coletivos e independentes
É necessário manter forte a disseminação de nossas redes ativistas e comunicadores de esquerda e de combate às desinformações, assim como de projetos educativos não formais, informais e formais. Dessa maneira, compartilharemos com nossa rede de amigos e famílias não só nossas opiniões e discussões não referenciadas, mas posições ancoradas nesses conteúdos didáticos e baseadas em pesquisas ou em projetos coletivas. Muitos tendem a achar que as informações mais veiculadas – normalmente as que mais estão atreladas às forças majoritárias econômicas e políticas – são as mais corretas, mas é urgente divulgar, impulsionar e discutir o que está sendo falado por movimentos, coletivos e organizações que lutam e constroem cotidianamente outra sociedade.
O MST, por exemplo, nas últimas duas décadas, mostrou como a importância de uma rede de comunicação de apoio, referenciada em sua prática, e em contato com redes ativistas e outras organizações militantes, fez com que sua demonização fosse diminuindo e expandisse não só seu projeto, mas ideários progressistas como da reforma agrária e da luta do campo (5). Estratégia parecida foi feita pelo movimento zapatista, em Chiapas, no México, no qual a criação de conteúdos, artes e vídeos, compartilhados por ativistas e organizações em todo mundo fez com que os governos do México tivessem mais cautela na repressão contra tal projeto revolucionário.
Construa para além do período eleitoral
Por último, “O fascismo não se discute, se destrói”, frase do anarquista e antifascista Buenaventura Durruti durante o processo da Revolução Espanhola, ainda é usual na medida em que legitmar o discurso fascista é colocá-lo dentro da normalidade da democracia, ao mesmo tempo que ele mesmo se aproveita desse fato para proferir discursos e políticas anti-democráticas. Não podemos confundir um núcleo fascista consciente de suas políticas com quem absorve pautas conservadoras potencializadas por anticomunismos e baseadas, muitas vezes, em informações falsas. Enquanto a denúncia e combate ao fascismo existe e é importante, o diálogo, a escuta e o combate à desinformação se fazem necessárias.
Precisamos priorizar o coletivo, através do apoio e construção de movimentos sociais. Temos que nos lembrar que novas tecnologias não substituem velhas formas. Panfletagens em portas de fábricas, nas praças públicas, assim como nas portas de estações de trem e metrô e na divulgação e construção de mídias (rádios e jornais) alternativos e políticos, por exemplo, não são formas ultrapassadas, ao contrário, são tarefas importantes dentro desses coletivos de magnitude nacional ou mesmo internacional. Temos que estar presentes se comunicando também em nosso trabalho, nas ruas, nas aldeias, nos quilombos e nos espaços públicos. Essa construção principalmente se faz urgente antes e depois de um processo eleitoral ou de uma propaganda política representativa oficial.
Uma política popular e transformadora deve fazer parte do nosso dia-dia-dia, criando uma fusão entre o nosso cotidiano e o compartilhamento de projetos sociais contínuos entre os nossos pares. Entre nossos pares políticos nos organizamos nos nossos projetos comuns, e diante de nossos pares enquanto oprimidos e trabalhadores ouvimos, compartilhamos e dialogamos sem perder a esperança de transformação e mudança, da qual “nós” e “eles” tanto precisamos.
.
Técnicas avançadas de panfletagem ativista
As pessoas estarão mais abertas a pegar e LER seu panfleto se na entrega e preparação houver um “algo a mais”

Homem entrega panfleto vestido de lula no mercado do peixe de Tóquio, no Japão l Crédito: Beautiful Trouble/Reprodução
Panfletagem é o arroz e feijão da mobilização social. Mas, por vezes, também é irritante, cansativo e ineficaz. Quantas vezes você pegou um panfleto no automático e depois jogou no lixo? Também há casos em que você se interessa por ele, enfia no bolso e depois esquece dele porque ele está mal-diagramado e com aquela fonte pequeninha. Se isso acontece com você, que é politicamente engajado, imagina com um passante que está atrasado para o trabalho.
O que a gente quer dizer é: se você está entregando um panfleto de qualquer jeito, você está perdendo o tempo de todo mundo. Por isso o que propomos aqui é a panfletagem avançada, ou seja, colocar algo de criatividade e invenção que capture o interesse e as torne mais abertas à sua mensagem.
Seja inventivo: se você vai distribuir panfletos como um robô, você pode muito bem ter um robô para distribuí-los. Sim, um verdadeiro robô panfleteiro. Em 1998, o Instituto de Autonomia Aplicada construiu o “Irmãozinho”, um pequeno robô de metal, bonitinho, num estilo retrô, para fazer panfletagens. Em seus testes, as pessoas evitavam um ser humano, com o qual estão acostumadas, mas se interessavam mais e recolhiam espontaneamente os panfletos entregues pelo robô.
Seja criativo: Faça de seus folhetos e de sua distribuição algo divertido, único e memorável. Suba nos ombros de algum amigo e distribua panfletos de lá de cima. É mais provável que uma pessoa apressada para chegar numa reunião pegue, leia e lembre-se da mensagem personalizada dentro de um biscoito da sorte que você acabou de lhe entregar do que dentro de um retângulo de papel cheio de texto.
Seja artístico: Usar teatro e figurinos diferentes também pode ser eficaz. Nos anos 1980, ativistas contrários à intervenção militar dos EUA na América Central se vestiam de garçons e levavam mapas da América Central em bandejas, com pequenos soldados de brinquedo de plástico verde colados ao mapa. Eles iam até as pessoas na rua e diziam: “Desculpe-me, senhor, o senhor ordenou esta guerra”? Quando a resposta “não” invariavelmente se seguia, eles apresentavam uma conta detalhada descrevendo os custos: “Bem, o senhor pagou por isso!”. Mesmo que a pessoa a quem eles se dirigiam não levasse o folheto, eles receberam a mensagem.
É sobre “não perder a ternura jamais”. Chatear as pessoas não vai fazer nenhum favor à sua causa. Desarme-as com charme, e talvez seu público baixe a guarda o tempo suficiente para ouvir o que você tem a dizer.
A questão é que o panfleto não é uma tática ruim. Ainda é uma boa maneira de dizer aos transeuntes por que você está marchando, ou porque você está fazendo tanto barulho em uma esquina. Mas é mais provável que as pessoas levem seu folheto, leiam-o e se lembrem do que se trata se você fizer a entrega com alguma inventividade!
*Originalmente publicado em Beautiful Trouble.
As imagens que os olhos das crianças nos oferecem

Pelas crianças e pelas produções de imagens que estas nos apresentam vemos emergir um universo povoado de sons e ruídos, silêncios e focos – nítidos ou não – são rostos e pés e cabeças e chãos e babas e gosmas, são corpos que se apresentam perambulando, dançando, se misturando com outros corpos, se batendo, se tocando, irritando, confundindo. Corposcâmeras, câmerascorpos.
Como se o corpo pensasse, como se se pensasse pelo corpo. Pensamentos sem sentidos, rotineiros e ameaçados, há sempre a ameaça de um corpo invadindo outro, outros lugares, sempre a câmera pode ser parte do corpo e, se retirada, passa a ser amputada, passa a ser mutilada, passa a ser corpo mutilado, amputado. Nestas mutilações e incorporações de e em outros corpos, vemos baba, gosma, bafo, movimentos disformes, corridas, círculos. Temos vertigens nos corpos-movimentos que se apresentam.
Com as imagens que as crianças oferecem temos corpos produzindo pensamentos vertigens. Ao olhar para as imagens destas câmeras corpos de corpos pulando, correndo, se misturando, gritando, é isto que Deleuze chama de corpo cotidiano, “como isso que põe o antes e o depois no corpo, o tempo no corpo, o corpo como revelador no termo” (DELEUZE, 2007, p. 228).
Os movimentos destes corpos são ao mesmo tempo espaços fronteira e espaços sem fronteiras. Nos colocam em contato com uma relação do corpo com o tempo, com o fora, esse corpo que estando fora se estende no tempo que pode ser rápido ou lento, e as câmeras acabam sendo rápidas ou lentas, acabam mostrando os tempos rápidos e lentos, é como se de alguma forma mostrassem o antes e o depois.
As crianças pelas imagens nos mostram que as câmeras não são usadas apenas para filmar, para fotografar, mas como que para brincar as câmeras desaparecem como equipamentos e se re-aparecem como corpos, são assim usadas para explorar. As câmeras são ao mesmo tempo uma espécie de entre, uma forma de estar entre / no meio e uma extensão do corpo, as câmeras e as imagens são formas, modos de explorar o meio, o espaço, o tempo. São corpos explorando, montando e sendo montados.
A câmera, como forma de aprisionar corpos em memórias chip também liberta os corpos, extraindo corpos graciosos.
Mas, há outro pólo do corpo, outro vínculo cinema-corpo-pensamento. “Dar” um corpo, montar uma câmera no corpo, adquire outro sentido: não é mais seguir e acuar o corpo cotidiano, mas fazê-lo passar por uma cerimônia. Introduzi-lo em uma gaiola de vidro ou um cristal, impor-lhe um carnaval, um disfarce que dele faça um corpo grotesco, mas também extraia dele um corpo gracioso ou glorioso, a fim de atingir, finalmente, o desaparecimento do corpo visível […] é a imagem inteira que se mexe ou palpita, os reflexos se colorem violentamente (DELEUZE, 2007, p. 228).
Nestes movimentos as crianças apresentam a nós imagens que criam sensações vertigens.
Desta forma, pesquisar com crianças é experimentar em outro espaçotempo, é experimentar outro espaçotempo, é perder a certeza dos caminhos previstos e seguros, é ir na contra mão dos supostos espaços-tempos seguros dos axiomas e dos experimentos, deste projeto que funda a ciência moderna (Agamben 2005a).
Com as produções de imagens e com as próprias imagens produzidas pelas crianças, é como se estivéssemos a cada momento em uma escola diferente, uma escola inaugurada por cada click da câmera fotográfica, por cada start em uma gravação. Pelas imagens vemos nascendo sempre escolas marcadas pelo desmonte das estruturas pré-definidas pelos adultos. É como se, a todo momento em que vemos os filmes, as imagens, ficássemos esperando saber o que vem depois; a infância pela criança apresenta-nos um mundo de reticências, um mundo pontilhado de possibilidades, é como se as histórias e as narrativas fizessem emergir novas geografias dos espaço cartografados pelos povoamentos dos coletivos de crianças.
Dito de outro modo, pesquisar com crianças que produzem imagens no universo da Educação Infantil tem sido um contato com a abertura, o deslocamento em espaços e tempos. As crianças, pelas e com as imagens, apontam para outra espacialidade e outra temporalidade no e do universo escolar.
O que temos observado é que com crianças e com as produções de imagens que elas nos apresentam, vivemos em um efetivo processo de exposição, de afetação, de ex-periência. São deslocamentos pelos quais enveredamos por travessias que escapam às certezas dos experimentos, dos protocolos e dos modos de dizer e falar da criança, deslocamentos que nos fazem habitar outras temporalidades.
Se podemos dizer que há discursos e práticas modelizados por formas de pensar e agir com a criança, as imagens e a produção de imagens criam em nós um efetivo processo de desmodelização dessas formas, trazendo temporalidades distantes das cronologias lineares de suscetibilidades de fatos e de processualidades pré-formadas presentes na escola, espacialidades fora dos lugares seguros e previstos pelos discursos, pelas enunciações. Ou ainda, uma subjetividade pensada como algo produzido por processos de agenciamentos de enunciação.
A potência que encontramos nos processos de produção de imagens realizado pelas crianças, assim como nas próprias imagens é que, no trajeto de nossos estudos, temos podido experimentar que, com as “infâncias” que se constituem, podemos romper nossos lugares demarcados, na perspectiva de outros espaços, outras espacialidades. É como se as crianças, longe das amarras pré-definidas pelos currículos, pelas teorias de desenvolvimento mexessem no próprio currículo, nas próprias teorias, parece que com infâncias podemos ser o outro dos espaços, podemos ser estrangeiros, ter sensações estrangeiras, ter na infância uma estrangeiridade com as coisas, ter a estrangeiridade das coisas, se colocar na infância das coisas.
Na dinâmica dessas atividades, temos sido impelidos a não analisar, interpretar as imagens e nem tampouco os processos de produção das crianças, mas, temos sido provocados a “pensar com as imagens” e até mesmo a “pensar por imagens”. É como se as imagens das crianças convocassem um trabalho do pensamento que não passa pela representação, mas que cavam um fora, um interstício em imagens dogmáticas que temos da infância, da formação e do próprio espaço escolar. As produções de imagens pelas crianças e as próprias imagens abrem uma perspectiva de olhar o corpo infantil que habita todo o processo de pesquisa (corpo infantil das crianças, das professoras e dos pesquisadores).
São corpos retorcidos para focar, para desfocar, corpos aproximados para ver os detalhes, detalhes nunca vistos, nunca percebidos, detalhes de botões de camisas, de sujeira no nariz, de baba, detalhes de olhares rápidos, detalhes de cantos de paredes, de tetos, de pisos tortos, de janelas abertas. As imagens nos provocam a pensar que educar o olhar não é propriamente oferecer técnicas, conhecimentos, teorias e sentidos, mas lançar o corpo em uma aventura: ser colocado pelo corpo (das crianças e das imagens) em um movimento de afetação, como se olhar não fosse um privilégio do olho, mas produto do corpo que experimenta com as imagenscâmeras em cameraimagens.
Tanto no processo da pesquisa como na relação com o pensar a criança e a infância, esses movimentos nos retiram dos lugares prévios de dizer sobre infância e criança, as análises e interpretações demarcadas pelas descrições dos processos cognitivos e representativos sobre a criança e sobre as imagens. Isso nos leva a colocar ao menos duas questões centrais.
A primeira é indicada por uma perspectiva representacional no campo da linguagem imagética e pretende sempre atribuir um sentido às imagens e neste mesmo campo produzir sentidos e determinações acerca das próprias crianças que deve ser interpretada segundo aquilo o que quer dizer quando age criando, junto com o campo interpretativo um campo instrumental que se constitui na tentativa do adulto de interpretar a atividade infantil a partir de elementos de uma semiótica dominante que fixa a subjetividade, uma perspectiva que funciona por antecipação pois dispõe-se de uma imagem dogmática da criança, das imagens, dos sentidos, das afetações, dos gestos rápidos, do foco, do desfoco, do uso dos equipamentos de captação de imagens etc. Com essa imagem dogmática, faz-se circular toda uma modelização que permita ao professor e ao pesquisador interpretar e fazer circular sentidos dados em torno de crianças produzindo imagens.
Essa operação dá ao professor ao pesquisador modelos de interpretação, mas a preço de tirá-lo da relação com as crianças, de tirá-lo da própria infância, de separar a imagem daquilo que ela pode. Trata-se de um esforço de substituir o sensível pelo reconhecível apelando, pela interpretação, a uma racionalidade instrumental.
A segunda é que, nos processos de produção as crianças misturam corpos, misturam e cortam corpos. No movimento dessas pesquisas com imagens e crianças na educação infantil, marcado por essas sinuosidades, vemos algo que ganha um outro contorno: o ‘tempo’ ou “a temporalidade”. Ideias como as de fases, períodos, estágios, ou ainda a ideia de que evoluímos, tudo isso se organiza em uma esfera de uma modalidade de tempo. O tempo cronos, cronológico e linear. As narrativas fílmicas, assim como as práticas escolares, as pesquisas com as crianças, na maioria das vezes, nos oferecem como enredos um olhar constituído por essa modalidade de tempo sequencial, lógico, cronológico.
Porém, com as imagens produzidas pelas crianças nos vemos em outro deslocamento de tempo que ressoa como em “Ninfas” de Giorgio Agamben (2012, p. 21), não inscrevemos as imagens em um tempo, mas sim um tempo nas imagens. As imagens curtas, rápidas, disformes, confusas, imagens paradas, imagens vultos, imagens fantasmas, todas elas apontam para outros tempos que também habitam o universo infantil. São imagens que operam pelo estranhamento, pelo encontro com o não sentido, com a não representação e criam uma sensação estrangeira com a infância, com a criança, criam uma estrangeiridade em nós e na criança. As imagens infantis funcionam, assim, como o fora na própria imagem, e permitem problematizar por sua própria força todo o dogmatismo posto em jogo no movimento de fazer circular uma semiótica dominante que tudo quer representar, tanto na educação como na pesquisa.
Assim, pesquisar com crianças na Educação Infantil e oferecer as câmeras fotográficas e filmadoras é ser povoado pelos caminhos que as crianças produzem e que produzem a pesquisa e o pesquisar. Caminhos insistentes, caminhos experiências, caminhos chãos, que nos apresentam as crianças por suas imagens. Pesquisar com crianças é, já em si, um convite a outra modalidade de pesquisa, é um convite a pensar a pesquisa como experiência, como experimentação.
Assim, pesquisar com crianças e produção de imagens na Educação Infantil pode ser uma possibilidade de habitar o que ainda não é, o que ainda está por vir, de habitar a possibilidade do novo e nos perguntar: O que podem as imagens produzidas por crianças na educação infantil fazer torcer, fissurar, produzir mudanças, alterar em nós nosso modo de fazer pesquisa? O que podem as imagens produzidas por crianças na educação infantil fazer torcer, fissurar, produzir mudanças em nossos modos de nos relacionarmos com as crianças na escola?
A criança, a família e a escola
Por Romualdo Dias

Foto: Prefeitura de Jundiaí via Flickr/Creative Commons 2.0
A palavra tem o poder de nos conduzir. A leitura de mundo e a escrita da existência se movem nas fronteiras do possível, pelos entremeios em que os sentidos oferecem as tramas, nos narram os dramas, em misturas de múltiplas formas! A palavra autêntica atravessa o corpo, não foge do sofrer. E neste nosso momento, a palavra necessária se encontra com o sofrer das crianças se apresentando em um plano de realidade. Temos, assim, uma tessitura mais ampla, em que os planos da necessidade, da realidade e da possibilidade, constituem a composição atenta a todas as demandas do viver. Aqui lemos, escrevemos, enquanto nos encontramos com as crianças em geral, estando elas espalhadas por todos os lados, e com a criança de cada um de nós, ainda presente em nosso peito. Cada um de nós carrega a sua criança, ela nos acompanha até o fim de nossos dias.
No dia 04 de outubro de 2022 nós começamos este estudo com o seguinte título: “Escola e família: fundamentos filosóficos e pedagógicos para os cuidados com a infância e para o fortalecimento de vínculos”. O nosso plano de trabalho pretende orientar e cultivar o mais amplo conjunto de práticas sobre os cuidados com cada criança. Iniciamos o nosso percurso colocando ênfase nesta expressão de uma vida nova oferecida para todos nós por meio das crianças. Também desejamos cooperar com o fortalecimento dos vínculos capazes de organizar e sustentar os melhores ambientes. A vida se inicia em extrema fragilidade, se desenvolve a partir da mais forte dependência, necessita de um ambiente seguro. Os vínculos e os ambientes constituem o acolhimento suficiente com ampla segurança.
O título de nosso curso expressa uma relação entre a criança, a família e a escola. A criança nasce e espera receber os melhores cuidados para garantir o seu pleno desenvolvimento. A família e a escola oferecem o acolhimento, de tal modo que, cada uma realiza funções em comum e funções diferentes, ao mesmo tempo, e de preferência de modo combinado. A família e a escola oferecem a materialidade para que os vínculos tenham um início e permanência consistente. Os cuidados e os vínculos se fortalecem nesta combinação entre os seus aspectos de estabilidade, portanto, estáticos, e os seus aspectos em permanente construção, portanto, dinâmicos.
O ponto de partida do nosso estudo é a realidade da criança e da família, como uma primeira preocupação. Estamos entendendo o tempo da criança e o espaço da família como sendo partes de uma base, pois é aí onde tudo começa. É aí onde a criança recebe o acolhimento fundamental para a sua vida poder brotar e se desenvolver. E um segundo momento voltamos a nossa atenção para a as instituições educacionais, como os centros de educação infantil, a etapa da pré-escola e o ensino fundamental. As instituições sociais dependem da construção de um bom entendimento com a família para poderem realizar as tarefas que elas têm em comum e as tarefas que elas têm em suas especificidades. Nestas duas esferas nós queremos compreender em que consiste um gesto de reparação e a que práticas de acolhimento e cuidados elas nos levam.
Nós olhamos para a situação em que as crianças e as famílias se encontram. Por meio de nosso olhar constatamos um crescente sofrimento. Ao observarmos a situação das crianças constatamos diversas formas de desamparo e encontramos as suas vidas marcadas por muita vulnerabilidade. Do lado dos pais há sofrimento, desorientações, cansaços variados, apelos por ajuda. Do lado dos educadores, há uma sobrecarga de demanda acompanhada por um elevado grau de sofrimento na medida em que eles fortalecem os mais variados modos de cumplicidade com as crianças. Um educador, sendo autêntico em sua função, não pactua com o discurso cínico quando joga para o futuro os direitos de toda uma vida, negados no presente.
Em nosso estudo queremos concentrar a nossa atenção sobre as situações de maus tratos com a criança. Existem os maus tratos visíveis nos gestos de violência, nas surras, tapas, beliscões, puxadas de orelhas, enfim, por muitas práticas de uma educação pelo castigo. Os maus tratos invisíveis aparecem nos descuidos, no desamparo, no abandono. Há maus tratos repetidos no cotidiano, que de tanto se repetirem se tornam naturalizados. Os seus efeitos mais fortes recaem na ponta mais frágil da relação entre aquele que cuida e aquele que é cuidado. As crianças sofrem mais.
Quando nós olhamos para a situação do mundo em geral nós nos perguntamos: o que vemos acontecer hoje? Nós encontramos grupos de pessoas, organizados em redes nacionais e internacionais de cooperação mútua, empenhados em orientar as famílias e os educadores sobre os modos de realizar uma educação pelo castigo. Há grupos que tentam fortalecer o convencimento de todos, com os seus argumentos, apelando para justificativas encontradas na Bíblia, apresentadas como sendo oportunas. Há canais de comunicação atuantes na rede mundial com uma ampla oferta de palestras e cursos fazendo ataques aos educadores considerados por eles como sendo perigosos para a infância. Toda a concepção de educação que se orienta pelo princípio da liberdade na organização dos processos de formação do humano é julgada como sendo perniciosa. Há experiências de implantação de uma rígida disciplina, vindas de uma cultura militar, se multiplicando em escolas de ensino fundamental e ensino médio, por todos os lados, em nosso país e no mundo.
Durante o nosso curso queremos manter esta pergunta viva para nos instigar permanentemente: quais notícias recolhemos sobre os maus tratos com a criança ou sobre os seus efeitos nos modos de sofrimento?
A ação educacional, a ser realizada pela família e pela escola, se encontra diante de fortes desafios em nosso tempo. Um primeiro desafio se refere ao fazer, está relacionado com a ação de cada um de nós, com os trabalhos práticos. Quando trazemos as práticas para o centro de nossa atenção nós convidamos a todos para fazer o exercício de deslocamento daquele lugar confortável do discurso, onde só falamos muito sobre o problema. Sugerimos nos deslocar deste lugar de conformo para chegarmos ao lugar onde podemos inventar as soluções para os sofrimentos por meio do nosso agir, individual e coletivo, em cooperação. Em cada experiência podemos fazer o esforço de substituir delicadamente aquelas práticas assentadas no medo, na repressão, no adoecimento e no enfraquecimento de todos, por meio de outros modos de agir. Estes outros modos serão assentados no exercício da liberdade, no desfrute da ternura, nas multiplicações dos melhores acolhimentos. Nós falamos em uma substituição delicada e gradativa porque acreditamos que ninguém se envolve em práticas de mudança a partir de argumentações racionais, a partir de palavras de ordem. Há algo mais fundamental situado neste lugar de adesão e de mobilização, para realizarmos alguma transformação social.
Diante do sofrimento das crianças, das famílias e dos educadores nós não encontraremos a solução ficando limitados aos nossos discursos, a nossas conversas, a nossas discussões. Queremos fazer pensar sobre o que é um
trabalho de base, isto é, a ação lá onde tudo começa. Para os tempos atuais um trabalho de base precisa de uma orientação pedagógica, de nova concepção de humanismo, de outra metodologia da ação educacional.
Os desafios para uma ação educacional a se realizar na base se apresentam com muita complexidade. Neste estudo queremos promover um entendimento e um debate sobre o tema da colonização. Quando o capitalismo nasceu, no início da sociedade industrial, ele iniciou a empresa de colonização de outros territórios, além das fronteiras da Europa, para se expandir.
Hoje vivemos em outra etapa de uma economia capitalista. Este modelo de economia já não explora mais as Américas, a Ásia ou a África. E nem pode explorar a lua ou outros planetas, ainda. Vemos então, como o sistema colonial se reinventa para garantir a expansão do capitalismo enquanto um modelo de produção e de acumulação de riquezas. O sistema colonial se torna muito criativo e inicia novas formas de colonização.
Quais são os novos territórios de colonização nos tempos atuais? O sistema colonial faz o seu amplo esforço de colonizar novos territórios: a intimidade da família, a escola, os vínculos, os sonhos e a fantasia, o corpo.
A nossa disposição para organizar uma ação educacional coletiva precisa de uma orientação e de uma animação, por causa da comlexidade destes desafios aqui apontados.
Em nosso estudo nós encontramos a fonte de nossa inspiração, para buscarmos as orientações e para encontrarmos a energia de animação em três autores:
1) Alice Miller
2) Donald Winnicott
3) Helena Antipof
Nós buscamos as nossas inspirações em dois psicanalistas e em uma educadora. Queremos fazer um esforço para darmos um tratamento de nobreza a estes autores. Promovemos os nossos encontros com eles como práticas de provocações. Não queremos fazer destes autores uma figura de absoluto, como se eles quisessem nos transmitir grandes verdades. Queremos nos informar sobre os seus saberes e suas práticas para que eles possam provocar também os nossos saberes e as nossas práticas. Não queremos formar espécies de “igrejinhas” com os seus adeptos. Não temos tempo para isso, pois a urgência do momento consiste em socorrer as crianças e as famílias.
Há um eixo transversal a atravessar o nosso encontro com estes autores: o ponto em comum de nos fazer pensar em um trabalho de base, de nos convidar a olhar com especial atenção para este lugar “onde tudo começa”.
Alice Miller
Vamos compartilhar de um modo resumido, alguns temas presentes na obra de Alice Miller. Esta psicanalista, judia-polonesa, nasceu na Polônia no dia
12 de janeiro de 1923, e faleceu no sul da França, em Saint-Rémy-de- Provence, no dia 14 de abril de 2010. Em 1946 ela se mudou para a Suíça, e se vinculou ao círculo de psicanalistas de Genebra. Mais tarde ela rompeu com este grupo por entender que os psicanalistas acabavam assumindo uma posição de defesa dos pais. Se apresentando de um modo diferente, ela queria ser radical no combate aos maus-tratos. Mais do que estar com os pais ela tomou o partido das crianças. Ela afirmava a necessidade de fazer uma profunda revisão sobre o quarto mandamento das “Tábuas de Moisés”, vendo neste seu esforço a exigência de um estudo sobre as bases judaico-cristãs de nossa cultura. Para ela, o quarto mandamento, “honrar pai e mãe”, precisa no mínimo ser rediscutido entre nós.
O nosso encontro com Alice Miller tem como ponto principal compreender o que ela pesquisou e pensou sobre os maus-tratos com a criança. Ela atribui aos “maus-tratos” um sentido de base, e confere para ele uma materialidade. Por que os maus-tratos têm toda esta força? Porque nos maus-tratos acontece a constituição de algo muito ruim para a criança e nefasto para toda a sociedade. Na situação de maus-tratos, se produz na criança uma combinação perversa entre a ferida na dignidade do sujeito e a produção da culpa. A criança se sente ferida em sua dignidade quando ela sofre qualquer tipo de agressão. Em nossa cultura, uma criança se vê como um ser muito frágil diante da figura forte de um pai ou de uma mãe. Em seu entendimento, a criança não entende porque um pai e uma mãe podem fazer um gesto de violência contra ela. Se um pai e uma mãe são sempre bons, quem está errada é ela, a criança. Aí nasce uma culpa muito poderosa, pois faz a criança se convencer de que os pais estão sempre certos.
Qualquer tipo de mau-trato feito com uma criança a prejudica em todo o seu desenvolvimento individual. O mau-trato feito com uma criança também
prejudica toda a sociedade, pois a base de toda uma cadeia de violência social está localizada nesta combinação perversa entre uma ferida e uma culpa. Para Alice Miller, não adianta fazermos tantos esforços para combater a violência no meio social se nós não tocarmos em sua raiz, lá onde tudo começa. O pacto perverso (a combinação entre a ferida e a culpa) é a base de sustentação de toda a cadeia de violência que está presente na sociedade.
O nosso estudo fará a seleção de alguns temas considerados por nós como sendo nucleares em toda a sua obra. Selecionamos temas com o objetivo de animar a todos para experimentar muitos outros encontros com a Alice Miller, no estudo de seus livros, por meio do diálogo com o seu pensamento. O nosso tempo também nos impõe um limite. O nosso curso está organizado para acontecer em poucas horas. Queremos fazer com que estas horas de dedicação sejam bem aproveitadas.
Nós selecionamos alguns temas na obra de Alice Miller:
O pacto perverso (ferida e culpa) – já iniciamos uma explicação sobre este perigoso acordo. Quando uma criança leva uma surra ela se sente ferida em sua dignidade de sujeito, em sua humanidade ainda em construção. Como ela não pode ver nenhum defeito nos pais ela se sente culpada.
Alice Miller não atribui aos pais uma condição de perfeição. O pai e a mãe são seres humanos, eles podem errar, têm os seus defeitos, têm fragilidades. O problema acontece quando um pai afirma para a criança que está surrando ou está castigando “para o seu próprio bem”. Esta é a frase mais perigosa. Diferente disso é quando um pai reconhece para a criança o seu erro, quando pede desculpas para ela e explica que ela não tem culpa de nada. Ao fazer isso ele oferece um gesto de reparação. Ao reconhecer o seu erro ele não perde a autoridade, ao contrário, ele descobre outro modo de ser autoridade, a serviço da saúde, da vida e da liberdade.
Há na obra de Alice Miller muitas inspirações para nos ajudar na invenção da autoridade e na invenção da disciplina, sempre a serviço da vida. Esta nova concepção de autoridade e de disciplina nos apresenta a dimensão política de uma educação para a liberdade.
Há também, em sua obra, elementos para nos fazer pensar em uma abordagem política e econômica do corpo. Ela é política porque rompe com os idealismos, desfaz aquela composição que atribui aos corpos uma condição de
serem anjos ou de serem máquinas. Somos um corpo frágil, o nosso corpo pede cuidados, o nosso corpo pode adoecer. E a dimensão econômica se refere a uma dinâmica de trocas, pois é o corpo quem comanda todas as trocas necessárias para a sustentação da vida. Nós precisamos fazer boas trocas com os outros, com quem convivemos, e boas trocas com o meio social, isto é, com o mundo onde nós experimentamos as mais variadas formas de pertencimento e de reconhecimento.
A radicalidade da obra de Alice Miller tem sua expressão evidente quando ela nos faz pensar sobre a força do corpo. Ela afirma: “um dia o corpo pede a conta”. A Alice Miller não conheceu os resultados dos estudos do biólogo português António Damásio, pois ele confirmou com as suas pesquisas, que a nossa memória não está só em nosso cérebro, ela está em todas as nossas células. Isto nos faz pensar sobre as marcas do corpo em relação com aquilo que não fica esquecido. Um dia um corpo ficou marcado por uma ferida, por uma surra, e mais tarde, ele, em sua sabedoria, vai nos cobrar. E aí vem muitos adoecimentos, que aos olhos de muita gente, emergem como sendo formas de doença sem explicações emocionais.
A Alice Miller também não teve tempo de conhecer o trabalho do filósofo Markus Gabriel, que no ano de 2015, publicou na Alemanha, o seu livro: “Não sou meu cérebro. Filosofia do espírito para o século XXI.” Neste livro, este filósofo provoca uma ampla discussão sobre os usos perversos feitos com a “Neurociência”, um uso irresponsável e superficial de saberes da ciência para garanti formas de dominação, sob um aparato sutil de “progressismos”. Certamente, sem saber, o jovem filósofo Markus Gabriel, acaba confirmando todas as hipóteses defendidas por Alice Miller em seu período de vida.
Donald Winnicott
Nós vamos nos inspirar também na obra de Donald Winnicott. Ele nasceu no dia 07 de abril de 1896, na cidade de Plymouth, ao sul da Inglaterra, e faleceu em Londres, no dia 28 de janeiro de 1971. Aqui não podemos fazer um estudo extenso e mais consistente sobre a obra de Winnicott, pois nosso curso tem pouco tempo, e nós organizamos um percurso de leitura assumindo a obra de Alice Miller como sendo o eixo principal. A partir do pensamento de
Alice Miller nós vamos buscar as afinidades com o pensamento de Donald Winnicott e com a Helena Antipoff.
Há dois aspectos nos orientando nesta busca de afinidades: 1) o trabalho de base; 2) uma escolha radical em uma posição política em defesa da criança e em defesa da vida de todos nós. Nós faremos uma apresentação geral dos livros de Winnicott para em seguida optar por trabalhar com a leitura de um livro: “Os bebês e suas mães”. A leitura deste livro acontecerá como uma modalidade de rastreamento dos argumentos a favor da nossa abordagem sobre o trabalho de base. E para nós, a base que dá o fundamento da vida é aquela que acontece no ato de acolher e de cuidar, feito por uma mãe, em um ambiente saudável. Outros aspectos sobre a família, compreendida enquanto ambiente de acolhimento para uma vida que se inicia serão explorados em alguns textos de outro livro: “A família e o desenvolvimento individual”.
Entre os temas centrais por nós escolhidos estão os seguintes
1. A família é o lugar onde tudo começa, ela é o territóro em que toda a sua intimidade precisa ser bem protegida, para oferecer o acolhimento
2. A mãe suficientemente boa. A criança nasce e vive uma relação totalmente dependente com sua mãe. Entre todos os animais, na natureza, nós somos os mais desprotegidos, pois se uma criança, ao nascer, for totalmente abandonada pela mãe, fatalmente morrerá. Vamos entender esta dependência absoluta em sua relação com a qualidade do acolhimento e com a intensidade dos cuidados.
3) O objeto transicional. Nós queremos entender como Winnicott chegou aesta formulação para lidar de uma forma realista com a experiência da ausência da mãe, com os modos de um bebê elaborar para si os afastamentos. Aqui queremos explorar os sentidos atribuídos aos tempos de ausência e aos tempos de presença, para nós pensarmos sobre a qualidade do encontro própria das experiências em trabalhos de base. Nós vamos discutir o quanto um “objeto transicional” tem relação direta com uma função mãe enquanto sendo suficientemente boa e com os mais variados modos de uma mãe apresentar o mundo ao seu bebê.
Em seguida, vamos estudar as três categorias fundamentais para um bom cuidado: 1) o segurar (“holding”); 2) o manusear (“handling); e o 3) apresentar o mundo.
Enfim, faremos um percurso inicial da obra de Winnicott, porém queremos aproveitar ao máximo os saberes de todos os participantes deste curso para provermos um bom confronto entre os conhecimentos oferecidos pelos livros e as aprendizagens recolhidas em nossas mais variadas formas de presença no mundo das crianças, bem como em nosso mundo, quando ainda sabemos cuidar da criança ainda viva em nós.
Helena Antipof
Helena Antipoff nasceu em Grodno, na província da Bielorrússia, no ano de 1892. Faleceu no dia 09 de agosto de 1974, com 82 anos, na cidade de Ibirité, Minas Gerais. No ano de 1929 Helena Antipoff veio para o Brasil, indicada por seu professor Édouard Claparède, de Genebra, atendendo a uma solicitação realizada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, empenhado em uma ampla reforma do ensino. O papel da Helena Antipoff se iniciou com a formação de professoras para as escolas do meio rural. Ela também se fez uma referência nos cuidados com a criança portadora de alguma deficiência, com um papel importante na introdução da educação especial no Brasil. A Universidade Federal de Minas Gerais mantem em Ibirité a Fundação Helena Antipoff. No ano de 1940 ela fundou nesta cidade a Fazenda do Rosário, com programas educacionais para atender crianças com necessidades especiais e para a formação de professoras das escolas rurais.
Neste nosso curso nós aproximamos a obra de Helena Antipoff com as obras de Alice Miller e de Donald Winnicott, neste olhar mais atento com o trabalho de base, na urgência dos desafios que o acompanham. É também uma oportunidade de fazer circular sua obra e seu pensamento.
Nos limites do nosso tempo nós vamos usar o artigo “Como pode a escola contribuir para a formação de atitudes democráticas?” Helena Antipoff tem clareza de que a democracia é uma preocupação da sociedade, e mesmo assim, a escola pode contribuir com a democracia oferecendo algo a se realizar lá na base da formação do indivíduo. Para ela, o que está na base? Como a escola pode contribuir na formação do indivíduo e na oferta de uma boa base para a vida em sociedade de acordo com os princípios da democracia?
Em primeiro lugar, a escola pode contribuir na formação de uma virtude a praticar. Esta virtude é a lealdade. Portanto, a escola pode e deve educar um
sujeito para praticar em toda a sua vida a lealdade. Em segundo lugar, a escola pode contribuir com o desenvolvimento de um modo de trabalhar. Trata-se de uma educação para a cooperação.
Com quem podemos contar em nosso esforço nos cuidados com a criança?
A luta pela defesa da criança na realização de todos os seus direitos e no combate aos maus tratos devem ter a contribuição de muitos aliados na defesa da criança e na defesa da vida.
Há muita gente envolvida em dois tipos de acontecimento neste momento do país e do mundo. O primeiro acontecimento é a realização da Conferência Nacional de Educação, marcada para o final de novembro do ano de 2022, em Brasília, com o desafio de terminar a elaboração do Plano Nacional de Educação para a próxima década. Esta conferência tem também o compromisso de construir o Sistema Nacional de Educação. Ela foi preparada por uma multiplicidade de eventos, conferências, debates, escritos, nos âmbitos dos municípios e dos Estados. Muita gente já colaborou com as discussões sobre o Plano de Educação e sobre as experiências dos sistemas municipais e sistemas estaduais.
A conferência nacional de 2022 acontece e se desdobra. Em toda esta diversidade de ação nós podemos atuar com os propósitos de atender aos direitos da criança e de trabalhar pelo fim dos maus tratos na infância.
Os desdobramentos múltiplos se apresentam pela própria dinâmica do Plano e do Sistema. Em primeiro lugar, porque eles nunca estão acabados, estão sempre se refazendo a partir do confronto com as diversas realidades. Em segundo lugar, os Planos e os Sistemas, estabelecidos para um território nacional têm o poder de induzir novas ações sobre os municípios e as regiões. Isto porque estamos concebendo os planos e os sistemas como acontecimento e como movimento. A nossa aposta é que estes dispositivos de organização de nosso fazer educacional não se transformem em monumentos ou em documentos de arquivos. Este modo de compreender a conferência amplamente, pelos seus desdobramentos, se apresenta como um desafio a nos lançar em muitas frentes de trabalho, sobretudo para as práticas a serem realizadas lá na base, com as famílias e com as escolas.
O segundo acontecimento se refere a um movimento internacional lançado por uma liderança mundial que vem se apresentando com um forte carisma capaz de mobilização lideranças e comunidades. Trata-se do Papa Francisco. Ele está preocupado com a situação de barbárie que vem crescendo em todos os lados. Diante desta situação de muito sofrimento ele convida a todos os homens de boa vontade a se empenharem na reinvenção do humanismo. A busca de um novo humanismo envolve a família e a escola.
O Papa Francisco lançou o Pacto Educativo Global e a Economia de Francisco e Clara. Neste movimento a educação e a economia se articulam com o propósito de alcançar as respostas mais efetivas na construção de um mundo com mais saúde, com mais alegria, enfim, um mundo mais humano. Nós podemos nos aliar a estas iniciativas com o compromisso de envolver mais pessoas no combate aos maus tratos na infância e na realização dos direitos da criança.
O primeiro passo de nosso percurso de estudo…
Neste nosso primeiro encontro de estudo tivemos a intenção de nos provocar para pensar o trabalho de base, a se realizar com a família e com a escola, nesta perspectiva de reconhecer que aí é onde tudo começa. O nosso movimento de pensamento e de adesão pela causa da criança teve seu início com as seguintes perguntas instigadoras:
Por que proteger a criança?
Por que apoiar as famílias?
Por que fortalecer os vínculos entre a escola e a família?
Por que a criança tem direito ao brincar e porque deve ter o direito de brincar em ambiente protegido?
Por que a falta do brincar prejudica o desenvolvimento de toda uma vida individual?
Por que o brincar é a base da cultura e a base da saúde de uma sociedade inteira?
Por que os maus tratos na infância são as bases da cadeia de violência na sociedade?
Por que os maus tratos na infância prejudicam o desenvolvimento de toda uma vida individual?
Nós vamos realizar o nosso estudo fazendo uso das aulas expositivas, com discussões e com orientações de leituras e de contatos com as práticas de diversos grupos em nosso país. Em todo este percurso faremos registro de nossos pensamentos, de nossas inquietações, de nossas partilhas. Desejamos a participação de todos também na elaboração de um livro coletivo, um livro a ser escrito em mutirão. Cada participante do curso pode oferecer a sua contribuição na forma de sínteses de leituras, na forma de relatos de suas práticas, na partilha de dificuldades e de descobertas.
Vamos fazer deste estudo com aquela varinha mágica sugerida por um pequeno texto da autoria de Eduardo Galeano:
“Em Cerro Norte, um bairro pobre de Montevideo, um mágico fez uma função pública. Com um toque da varinha fazia com que um dólar brotasse do punho ou do chapéu.
Terminada a função a varinha mágica desapareceu. No dia seguinte, os vizinhos viram um menino descalço que andava pelas ruas, com a varinha na mão: batia em qualquer coisa que encontrava e ficava esperando.
Como muitos meninos do bairro, esse menino, de nove anos, costumava afundar o nariz num saco plástico de cola. E certa vez explicou:
– Assim eu vou pra outro país.”
Eu não quero crescer! Uma seleção ativista de músicas para crianças
Por Arthur Dantas

A música sempre esteve presente como forma de denúncia e protesto | Foto: Pixabay
Ser criança não deve ser um desafio, diz o senso comum. Mas não exatamente o que mostram as estatísticas locais e globais. Diariamente, milhões de crianças são obrigadas a conviver com a pobreza, a violência e a falta de oportunidades. Há inclusive aqueles que deixaram de aprender a escrever para treinar para a guerra, substituindo o papel por armas. Outros vivem abusos domésticos, nas escolas (conhecido como bullying) e se veem obrigados a silenciar abusos e humilhações.
A música sempre apareceu como uma plataforma de denúncia e protesto.
Praticando uma paternagem punk, com uma menina de 11 anos, exercito bastante uma seleção musical um pouco voltada para minhas raízes punks esquerdistas. Ao mesmo tempo, gosto de compartilhar músicas que apresentem nossos irmãos latino-americanos, a realidade triste da guerra e um pouquinho também das minhas predileções infantis “contestatórias” de quarentão.
É isso que apresento agora pra vocês!
Garotos Podres – “Vou fazer cocô” e “Papai Noel, velho batuta”
Tendo passado infância e pré-adolescência no ABC paulista do pós-Ditadura, filho de classe operária fabril, minha porta de entrada no universo punk foi os Garotos Podres. E tem duas músicas deles que eu compartilho sempre com as crianças: “Vou Fazer Cocô”, que ensina a desconfiar dos políticos profissionais, e “Papai Noel, Velho batuta”, que é uma ótima canção pra tratar de desigualdade e consumismo numa data na qual os parentes enchem as crianças de bugigangas.
Leucopenia – “Infância”
Leucopenia foi uma banda da Baixada Santista que era trilha sonora obrigatória de todo punk anarquista dos anos 1990 na região sudeste. E eles tinham essa canção, “Infância”, que era um tema bradado a plenos pulmões nos shows pelo público, com versos marcantes como “No olhar / daquela criança está / o seu modo de viver / o seu jeito de brincar / não teve paz / só ódio e incompreensão / agora segue seu caminho / sem saber, vão lhe destruir”. Uma canção de infâncias perdidas para a brutalidade, disparadora de diversas conversas interessantes com as crianças.
Gilberto Gil – “Sítio do pica pau amarelo”
Mas nem só de música punk vive uma trilha ativista pra crianças! Sítio do pica pau amarelo, do indefensável Monteiro Lobato, movia minhas manhãs na tela da TV e essa música pra mim, é a verdadeira exortação de uma vida no campo mais feliz e abundante, o que hoje eu associo imediatamente à agroecologia. Se tinha uma utopia possível na infância, era essa!
Os Saltimbancos – “História de uma gata”
Não há refrão mais libertador do que “nós gatos já nascemos pobres / porém, já nascemos livres” cantado, a plenos pulmões, por um monte de crianças! Era redentor, era libertador, e ainda hoje tem o mesmo apelo que tinha nos anos 1980.
Titãs – “Comida”
“A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte“. A batida primal, o gingado discreto e a letra direta dessa música foi uma febre na minha infância e ainda mexe com os brios da molecada! A mensagem direta da letra cala fundo com qualquer criança que vive uma realidade modorrenta de casa – escola – casa, sem muitas brechas pra ludicidade e pra diversão desenfreada que essa canção parecia prometer.
Pink Floyd – “Another brick in the wall, pt.2”
Relembrando um tema clássico da banda britânica Pink Floyd , “Another Brick in the Wall, Pt.2”, não só reuniu as crianças num coro de vozes como o complementou com um recorte visual do seu longa filme The Wall (1982); que se tornou o vídeo oficial desta música. Um protesto de Roger Waters contra suas antigas escolas e a rigidez no sistema educacional, eu ainda consigo lembrar de ouvir essa música com meu pai (muito fã da banda) e ele se esforçando pra traduzir a letra para mim. Tradição que perpassou gerações.
Mundo Bita – “Nem tudo que sobra é lixo”
Confesso que sou um pouco pé atrás com essa enorme indústria da música feita para crianças que se desenvolveu no Brasil, mas essa agradável música do Mundo Bita se faz relevante em tempos de emergência climática, onde o apelo à reciclagem e ao reuso se faz pertinente!
Juny & Tony – “Activistas del derecho de animales”
De todas as “febres” infantis midiáticas, foi com Juny & Tony que eu mais fui condescendente com minha menina, mas em sua versão em castelhano! Era uma oportunidade pra conhecer a língua de nossos vizinhos e uma válvula de escape possível. Essa canção dos ativistas dos direitos dos animais deixa antever um ativista do P.E.T.A ou do Animal Liberation Front no futuro das crianças!
Emicida & Drik Barbosa – “Sementes”
Esse rap faz parte de uma campanha mais ampla contra o trabalho infantil, uma realidade miserável para muitas crianças em nosso país, e vem embalada por rimas e versos poderosos do Emicida e da Drik Barbosa.
Aterciopelados – “Florecita rockera”
Na tentativa de aproximar minha menina da cultura dos países latino-americanos, apresentei essa música chiclete dos colombianos dos Aterciopelados, um tema fofinho ecológico.
Ana Tijoux – “Luchin”
Ainda na missão de aproximar as crianças de uma América Latina de luta, dessa vez trouxe a cantora chilena Ana Tijoux, que resgatou em 2016 uma das canções mais emocionantes de Víctor Jara, um artista-herói das lutas sociais do nosso continente, para relembrar a realidade de jovens empobrecidos que foram obrigados a fazer da rua a sua casa e para quem canta: “Se há crianças como Luchín / que comem terra e vermes / vamos abrir todas as gaiolas / para que voem como pássaros”. O tema original, escrito em 1972, reativa seu poder de denúncia em uma versão em que Tijoux transforma Luchín em uma criança afrodescendente , filho de uma família que emigrou para o Chile em busca de melhores condições de vida. Perfeito para discutir a imigração em nosso país, inclusive.
Boom boom kid – Feliz
A escolar e os meios de comunicação de massa sempre tendem a uniformizar e padronizar as crianças. Então nada melhor que essa canção pop punk dos argentinos do Boom boom kid que proclama “E não me importa o que digam / o que me importa o que dirão / não estamos loucos / não estamos sozinhos / não!”. Canção singela e potente que celebra a diferença.
Ansan – “Heartbeat”
Ansam é uma das três milhões de crianças que foram forçadas a deixar suas casas devido ao conflito militar na Síria. Com apenas 10 anos, ela se tornou a voz condutora de Hearbeat , uma música com um coro de outras 22 meninas e 18 meninos sírios que compartilham com o mundo o desejo de recuperar a infância após sete anos de guerra. Perfeito pra discutir a realidade muito triste das diversas guerras que assolam o planeta.
Ramones – “I don’t want to grow up”
O hino definitivo da insurgência infantil contra o mundo de rotina, remédios e ordem dos adultos! Definitivamente, eu também não queria crescer! A promessa de uma vida eterna sem preocupações e rotinas é o tema de mais um hino dos Ramones!
Lute como uma criança
Por Vitor Janei

Então, como as crianças lutam? De que forma resistem? De que modo elas escapam das estratégias de dominação que lhe são impostas? | Foto: Jenny Sowry/Divulgação
Embora hajam exceções, sabe-se que as crianças, em geral, não estão organizadas em um sindicato, partido ou associação, para fazerem ouvir seus protestos, defenderem seus interesses, reivindicarem seus direitos. Da mesma maneira, elas não formam nenhum exército, tropa ou milícia de resistência, ainda que muitas delas sejam recrutadas pelo tráfico ou grupos armados mundo afora.
Há nessas duas estratégias, o sindicato e o exército, uma certa relação com o Estado, regida por todo um conjunto de códigos, regras, instituições, hierarquias e comandos. Porém, o modo como as crianças resistem é alheio aos carros de som, passeatas, cartazes, votações, eleições de representantes ou aos códigos de honra e de conduta, à hierarquia, patentes, ordens e disciplina.
Então, como as crianças lutam? De que forma resistem? De que modo elas escapam das estratégias de dominação que lhe são impostas? De que maneira rompem com as técnicas de controle, administração e governo de seus corpos nas instituições? De que jeito elas recusam os discursos, expectativas, modelos, padrões, clichês, representações, imagens e ideias que imperam sobre elas? Como elas fazem para que suas manifestações e gritos de protesto sejam ouvidos?
Fundado em 2000, o sindicato União das Crianças e Adolescentes Trabalhadores da Bolívia (Unastbo), foi criado por crianças trabalhadoras que reivindicavam que seus direitos fossem respeitados. Em 2014, o sindicato conseguiu que a Assembleia Nacional aprovasse uma reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente do país, para reduzir a idade mínima de trabalho para dez anos em casos excepcionais. Fonte: Lorena Arroyo, BBC Mundo
Resistir não é apenas bater de frente com o inimigo, confrontar-se, chocar-se, opor-se. O embate, seja ele físico ou político, é apenas uma entre muitas estratégias que pode ser adotada. A dialética é somente um jeito de ver o jogo de forças, ela reúne uma diversidade de elementos e as reduz a um jogo de opostos e de contraditórios, a dois pólos, em que a contradição é o motor da diferença. Há outras maneiras de resistir. Na perspectiva de Gilles Deleuze, o ato de criação é, de certa maneira, ato de resistência. Resistir é criar, resistir é inventar.
Muitas das perguntas colocadas pelas crianças para nós se encontram na dimensão daquilo que ainda não é conhecido, naquilo que é possível inventar, numa dimensão anterior às perguntas e respostas já formuladas, dos problemas já construídos e resolvidos, com soluções dadas e correspondentes. As crianças habitam o desconhecido. Tudo é novo, é estreia, inauguração, primeira vez. Nada está dado, tudo está em aberto. Tudo está para ser criado e inventado.
Para Anete Abramowicz, “a infância é uma espécie de outro do mundo”. Talvez as crianças possam nos ajudar a pensar um novo modo de pensar a resistência, a dar um novo início às lutas políticas, a criar outras formas de resistir e pode ser que nesse encontro com a criança, nasça uma “infância da resistência”, um modo infantil de luta política.
Cito dois exemplos: o primeiro tem a ver com a atual campanha eleitoral para a presidência no Brasil. É possível ver, nos últimos meses, toalhas estampadas com os rostos dos candidatos sendo vendidas nas ruas e esquinas pelo país afora. E, as vésperas do primeiro turno, as mídias sociais divulgaram um “toalhaço”, manifestando apoio a um dos presidenciáveis. Ver pessoas desfilando com suas toalhas é algo irreverente, insólito, inusitado. Parece até “coisa de criança”, no bom sentido do termo.
O segundo, é o projeto “Motoca na praça”, realizado pela Escola Municipal de Educação Infantil “Armando de Arruda Pereira”, em que as crianças ocupam o centro da cidade de São Paulo usando triciclos. Elas visitam parques, praças, museus e outras instituições públicas e privadas, acompanhadas pelas professoras. Experimentam o espaço urbano de modo novo, inédito. E, “o que é inédito para as crianças, muitas vezes é inédito para a cidade”, como afirma uma das docentes que participa da proposta.
Neste sentido, afirmar uma “infância da resistência” tem a ver com tirar a resistência do “seu” lugar e situá-la em outros lugares, reconectá-la com o intensivo no mundo, com as forças intempestivas que habitam o cosmos e arrancá-la dessas formas caducas e engessadas de luta política. É preciso inventar um novo modo de pensar a resistência, ter um novo início a partir de um lugar minoritário, molecular, intensivo.
O imperativo “Lute como uma criança” tem o intuito de provocar o pensamento e o ato político. Lutar como uma criança não é imitá-la ou assemelhar-se a ela, mas sim pensar e agir de modo infantil política, conceber a resistência à maneira da criança, de modo novo, outro, inédito e inventivo. Talvez pudéssemos falar de um devir-criança da resistência. Devir não é imitar, assemelhar-se ou tornar-se outra coisa num tempo sucessivo. Sendo assim, devir-criança não é tornar-se uma criança ou imitá-la, muito menos infantilizar-se. Devir é encontro, entre acontecimentos, movimentos, ideias, multiplicidades, diferenças, afetos.
Mais do que tentar aprender ou apreender na infância outras formas de resistir, é necessário instaurar zonas de vizinhança, espaços de encontros, de atravessamentos, de contaminação e de contágio com a infância; uma tentativa de reconectar a resistência com o intensivo no mundo, com as forças intempestivas que habitam o cosmos, com os fluxos que atravessam a sociedade, a fim de reinventarmos nossas estratégias de resistência e criarmos novas formas de luta política.
Dia das crianças na escola
Por Ivan Rubens

Parede da Escola Família Agroextrativista do Carvão, no Amapá | Foto: Facebook/Reprodução
Era 12 de outubro. Para Jaquelline e Gabrielle, 12 de outubro é o dia das crianças. Poderia ser mais do que isso, mas o que interessa para elas é o dia das crianças. Jaquelline tem 9 anos e Gabrielle tem 6 anos de idade. A história que vamos contar aconteceu numa escola. Quando você lê a palavra escola, logo pensa em uma escola assim… dessas que ficam na cidade, entre muros e grades, afinal, é preciso ter muita segurança nesse espaço dedicado a estudantes. Dessas escolas com espaço delimitado para tudo: quadra, pátio, refeitório, parquinho, sala de aula etc. E tem hora pra tudo: bate o sinal, termina uma aula e começa outra, bate o sinal começa o recreio, termina o recreio. Corre pra merendar, corre pro xixi, corre pra sala. Aliás, quando eu uso a palavra sinal, talvez você pense num apito, numa sirene ou até numa música. Pois bem, mas nossa história aconteceu numa escola um pouco diferente.
Primeiro porque não é uma escola urbana. A escola de onde falamos fica na floresta. Uma escola sem muros e nem grades, sem separação entre o espaço da escola e o espaço da floresta. A escola de onde falamos tem uma proposta pedagógica interessante: pros dotô o nome é ‘pedagogia da alternância’, na comunidade é ‘escola família’. Na escola família, adolescentes e jovens ficam 15 dias direto na escola estudando juntos, dormindo e acordando, comendo e cuidando da escola. Podemos dizer que a escola de onde falamos é uma graaande família. Agora que você conhece um pouco da beleza de uma Escola Família Agroextrativista, uma escola integrada à comunidade, integrada à floresta, podemos voltar para nossa história.
Era 12 de outubro. O almoço na Escola Família Agroextrativista foi muito especial, afinal era o dia das crianças. Jaquelline e Gabrielle não são alunas matriculadas na Escola, mas, sendo família, comemoraram na Escola. No almoço teve uma salada especial de legumes e folhas com temperos vindos do laboratório de produção de alimentos da própria Escola. Do mesmo laboratório vieram o açaí e a farinha de tapioca. Do igarapé vieram as proteínas: peixe, Tamuatá e Acarí, e camarão. Do laboratório de frutas veio o cupú para o suco natural. A pesquisa de alunos e alunas foi descobrir qual o cupuaçuzeiro com os frutos mais maduros para o suco ficar ainda mais gostoso. No final, a deliciosa mistura de castanha do pará e farinha de tapioca. Na Escola Agroextrativista, a floresta é um grande laboratório de experimentações, a floresta é sala de aula e a sala de aula é a floresta.
Mas a surpresa ainda estava por vir. Ceci, a monitora, fez uma pequena surpresa para Jaquelline e Gabrielle. Ceci chamou as pequenas e lhes entregou um presente do dia das crianças. Era uma banheira de bonecas. Agora as bonecas de Jaque e Gabi tomam banhos no igarapé ou na banheira quando quiserem. Mas a emoção de passar o dia das crianças na Escola Família Agroextrativista é indescritível.
Este texto foi escrito junto com Sâmila e Jaine, jovens escritoras do distrito do Carvão/AP e contadoras de histórias.
Mazagão/Amapá – Distrito Do Carvão
Ivan Rubens, Sâmila como Jaquelline e Jaine como Gabrielle.
História real produzida pelos próprios personagens.
Texto publicado originalmente no Blog do Ivan Rubens
Estratégias de resistência por meio do auto-cuidado e do cuidado coletivo nas eleições
Algumas ideias sobre como tratar insônia e ansiedade enquanto problemas sistêmicos
Você sabia que cuidado é estratégia de resistência? Talvez sim, mas muitas vezes a gente se esquece. Ficamos atolados de tarefas, angústias e ansiosos com nossa própria vontade de mudar as coisas e enfrentar a situação terrível que nosso país atravessa. Sabemos que criar um plano cotidiano para enfrentá-lo é desafiador e pode levar muitos de nós a altos níveis de esgotamento.Para combater os desafios que nosso contexto nos impõe, é necessário elaborar estratégias autocuidado e cuidado coletivo. Não basta só uma pessoa. As organizações precisam ter estratégias e táticas de cuidado que contribuam para a nossa resiliência e bem estar. Afinal, a nossa luta é sempre coletiva e o bem viver é um lugar que queremos chegar nessa vida ainda.
Mas o que é autocuidado?
O autocuidado deve ser compreendido como um ato político, que fomenta espaços e medidas de afirmação da existência de si. É a busca de consciência e autonomia para a criação de hábitos que aumentam a resiliência e resistência.
Um plano individual de autocuidado pode incluir: contar com uma rede de apoio (familiares e amigos), cuidados com a saúde (dormir, se alimentar bem, realizar exercício), desfrutar de artes (escutar músicas, pintar, ler), ter contato com a natureza, gerenciar o tempo de uso de dispositivos tecnológicos, por exemplo.
Sabemos que criar um plano cotidiano de autocuidado é desafiador pelo sentimento de culpa e o autossacrifício, norma cultural prejudicial em que estamos inserides. Como resultado, muitos de nós enfrentamos altos níveis de esgotamento.
Por isso é fundamental que o autocuidado seja aliado ao Cuidado Coletivo.
E o que é cuidado coletivo?
Cuidado coletivo é compreender que, para cuidar de si, é necessário cuidar do todo e do outro, pois eles também fazem parte de você. Reconhecer que somos seres individuais e coletivos ao mesmo tempo. Portanto, o cuidado coletivo é o cuidado integral.
Cuidado coletivo também deve ser compreendido com um ato político, que fomenta e fortalece espaços, medidas e ambientes seguros, saudáveis e adequados para que seja possível que ativistas e defensores de direitos humanos desempenhem suas atuações com resiliência e resistência.
Sua rede de apoio e cuidado
Esse cuidado pode ser oferecido pela sua comunidade, rede de apoio e/ou organização. Devido a isso, ajuda muito na possibilidade de um indivíduo realizar também seu autocuidado.
As possibilidades dos cuidados coletivos incluem: conhecimento e acesso à rede de saúde e apoio psicossocial; medidas que estimulem e promovam a saúde física; gerenciamento da carga de trabalho; colaboração coletiva se alguém precisar ter um tempo de descanso, por exemplo.
Destacamos que adotar uma estratégia de autocuidado e cuidado coletivo envolve avaliar a estrutura pessoal e organizacional, que são possibilidades específicas e múltiplas, pois devem levar em conta suas realidades, potenciais e limitações.
Poxa, legal, quero saber mais
Que bom! Para não ficarmos só no bla-bla-bla, separamos alguns materiais. Convidamos você a acessar nossa biblioteca também para encontrar mais materiais.Deixemos aqui também o link para dois materiais que o Lab Cuidados da Escola de Ativismo produziu sobre ansiedade e insônia, que trazem uma lista de cuidados e orientações possíveis.
Por que cuidar da insônia?
Se cuidar para não ter insônia é um ato de cuidado integral e de resiliência. É também uma forma de reivindicar o seu direito de bem viver. É importante olhar para a insônia com atenção e acolhimento para entender se ela é causa ou efeito, e então descobrir formas acessíveis e viáveis pra você, de combatê-la. Ignorá-la não é uma opção.
No Lab Cuidados, deixamos um livreto (zine) com diversas recomendações para o cuidado e prevenção da insônia. Apesar de contar bastante sobre o contexto de isolamento social, o zine também é útil para outros contextos, como eleições, momentos de mobilização externa, exposição pública, ou até para enfrentar as diversas crises que nos cercam no dia a dia: o endividamento, a pobreza, fome… São diversas as preocupações que nos perturbam enquanto ativistas e principalmente, enquanto seres humanos. Se achar que o Zine lhe será útil, pode ler aqui gratuitamente: Zine 1 – Insônia.
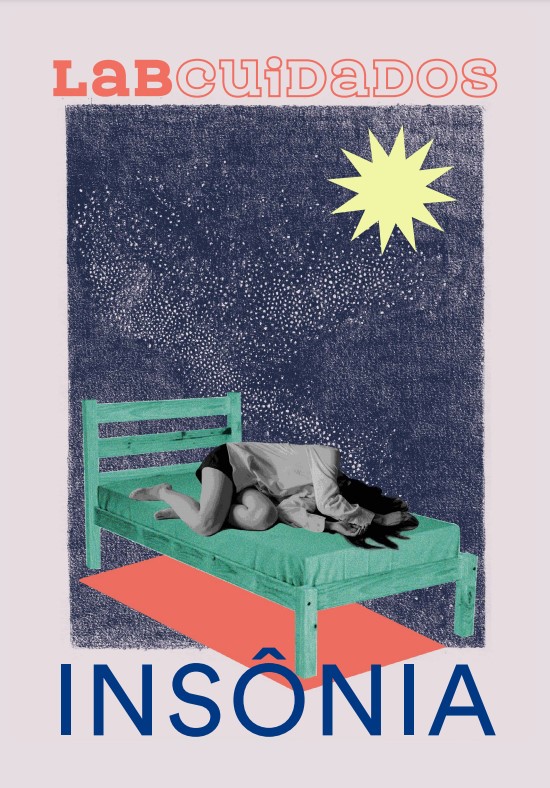
Por que cuidar da ansiedade?
A ansiedade é uma distorção cognitiva que afeta os nossos mecanismos instintivos de defesa, desequilibrando a nossa própria ótica da realidade.
Ela também é um distúrbio comum em ativistas que padecem de preocupações e ameaças reais. Cuidar para que a ansiedade não se torne um problema ou fuja do controle pode ser importante como forma de prevenção de danos. E como dito anteriormente, como estratégia de resiliência.
Listamos alguns motivos pelo qual você ativista, deve procurar meios de cuidado e prevenção da ansiedade:
- Para equilibrar as análises de risco, já que a ansiedade é uma distorção cognitiva e a tendência do ansioso é ver as coisas de uma ótica catastrófica e exagerada;
- Para evitar gasto de energia, tensão e dores;
- Para prevenir o pânico e a fobia social;
- Para impor limites a nossa capacidade humana de agir e sentir;
- Evitar estresse e alterações repentinas de humor;
Nenhum desses motivos transforma a ansiedade em um problema individual ou moral. É importante lembrar que a ansiedade é um sintoma do nosso tempo e do modo de produção capitalista, que tem por natureza o objetivo de explorar, alienar até a exaustão extrema. Quem consegue relaxar sem saber se terá teto, comida e cuidado amanhã ou no futuro?
No Lab Cuidados, deixamos um zine com diversas recomendações para o cuidado e prevenção de ansiedade. Se ficar intessade, pode ler aqui gratuitamente: Zine 2 – Ansiedade.
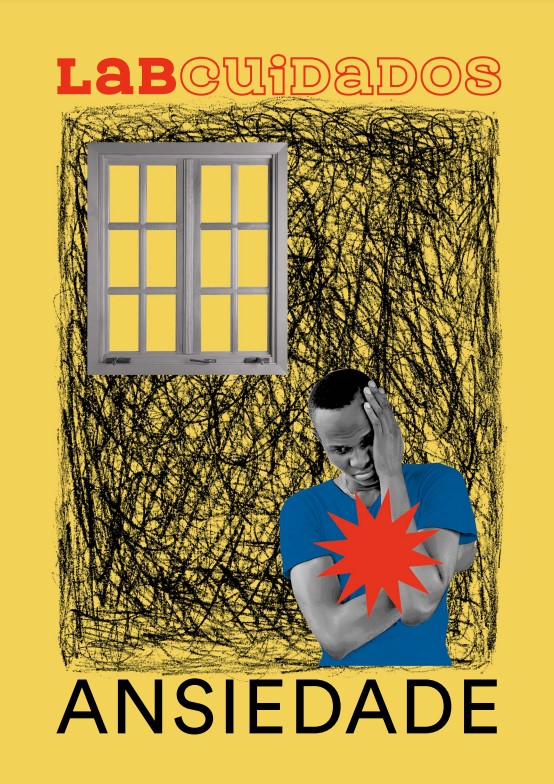
Se estiver convencide de que o cuidado da insônia e da ansiedade é importante, dedique um tempo de apreciação e leitura dos materiais que deixamos disponível na nossa Biblioteca.
Esses são os primeiros zines experimentais para falarmos sobre saúde e ativismo sob uma perspectiva feminista, antiracista e autonomista. Toda e qualquer crítica ou sugestão é bem vinda através do e-mail contato@ativismo.org.br.
Obrigada por ter lido até aqui e fique à vontade para explorar outros conteúdos de suporte e cuidado.
Se gostou do assunto dessa matéria, leia também:
- #JuntesnaRede, uma Campanha de Cuidados Digitais – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/juntesnarede-uma-campanha-de-cuidados-digitais;
- Entenda os cuidados e riscos de participar de boicotes para esvaziar eventos – https://escoladeativismo.org.br/entenda-os-cuidados-ao-participar-de-boicotes-que-esvaziam-eventos;
- Cuidados Integrais – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/project/cuidadosintegrais-1;
Como uma senha mudou minha vida? – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/como-uma-senha-mudou-minha-vida

