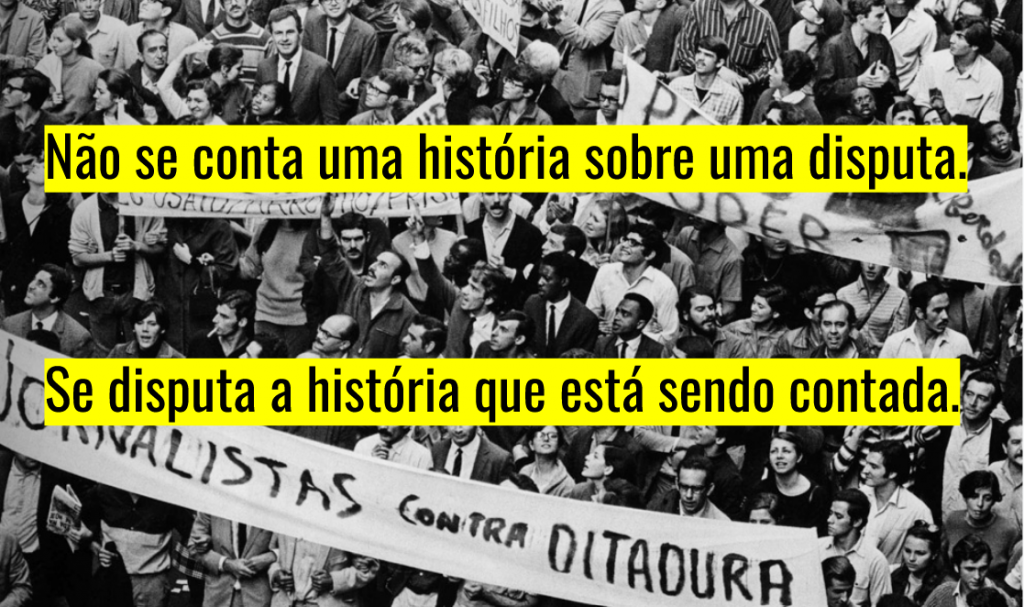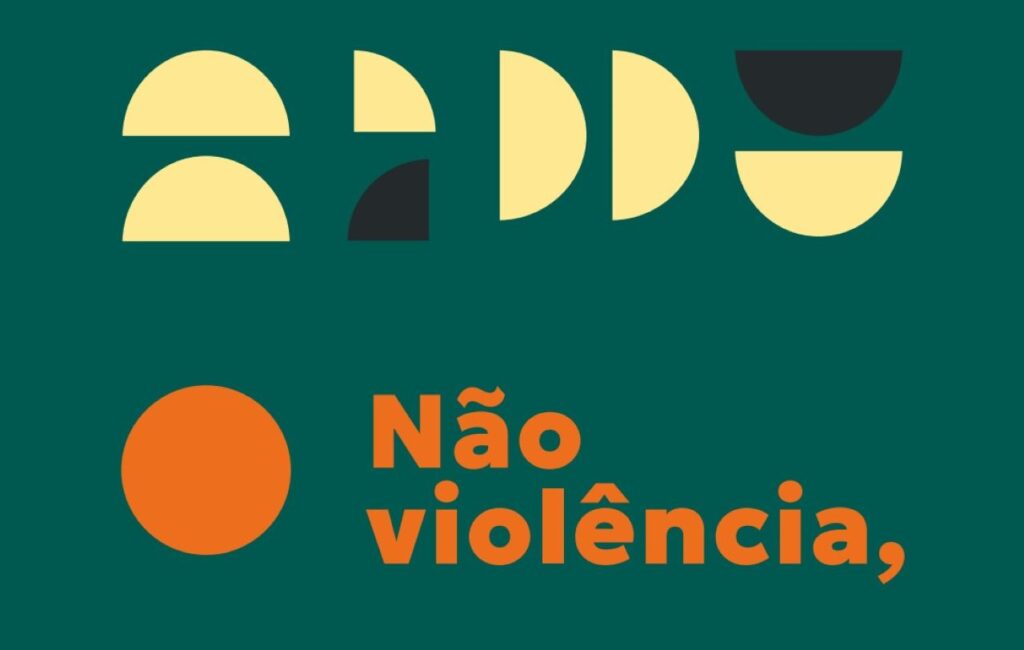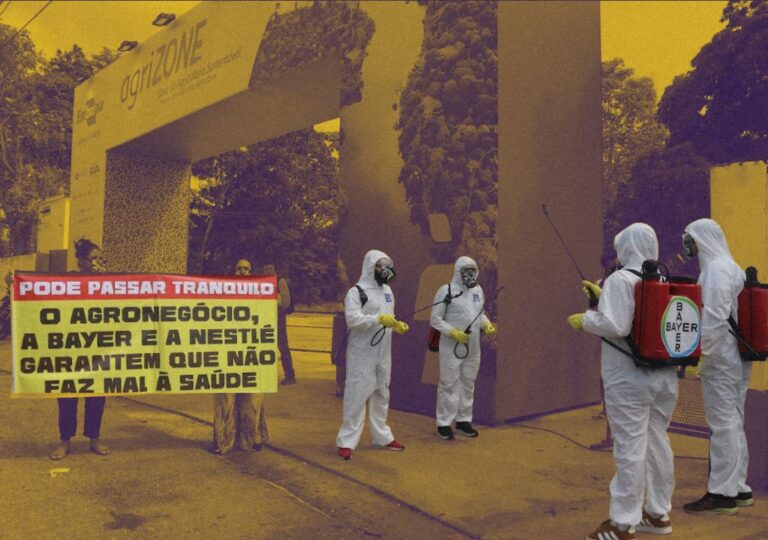Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
Não está tudo perdido: materiais para pensar, organizar e agir no combate à crise climática
Não está tudo perdido: materiais para pensar, organizar e agir no combate à crise climática
A Escola de Ativismo traz um grande apanhado de mais de 30 materiais que produzimos sobre resistência climática, ação direita e cuidados integrais
Basta respirar e piscar os olhos para perceber os efeitos da crise climática. Ou viver numa região afetada pelas chuvas ou secas. Frente a este cenário triste e trágico, podemos algumas vezes nos desesperar e nos sentir impotentes. Só que, por mais que o problema seja enorme, há muitas formas de seguir na luta. Aqui, na Escola de Ativismo, pensamos no cuidado coletivo e o autocuidado, que passam por lembrar das nossas fragilidades e nos cuidarmos para não cair; ter uma comunicação mobilizadora; pressionar representantes do povo; e nos organizar politicamente para pensar em propostas de curto, médio e longo prazo.
Mas por onde começar? A situação é grave e pode ser um pouco aterrorizante e confuso saber como dar início a essa luta. Para lidar com o problema precisamos entender bem os desafios que estamos enfrentando. E, mais importante, contra quem estamos lutando.
Trazemos abaixo uma compilação de conteúdos (é chuva de links!) para ajudar a pensar e agir nesse cenário. Convidamos você a navegar por tudo e/ou clicar nos temas que mais te interessarem.

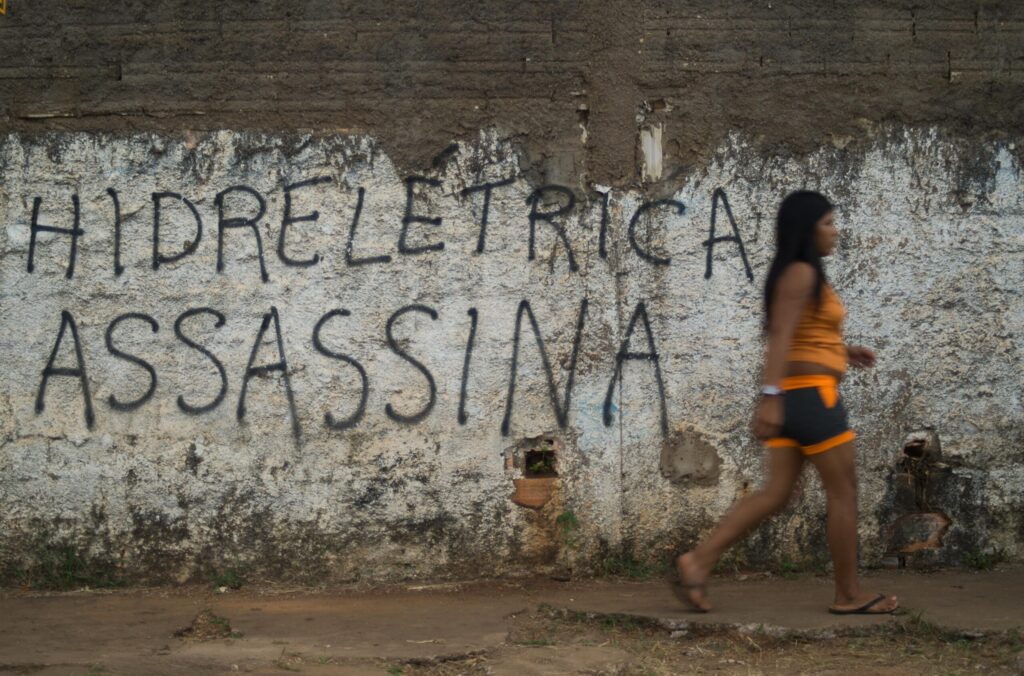
AQUI VOCê VAI ENCONTRAR
- ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA E FERRAMENTAS DE AÇÃO: ações criativas, o uso da cultura, como se relacionar e cuidar do território de outros modos. Uma lista de conteúdo para quem quer e precisa se organizar
QUEM SOFRE DE VERDADE COM OS IMPACTOS DA CRISE CLIMÁTICA: confira as consequências das alterações extremas no clima pensando raça, identidade, território, renda, gênero/orientação sexual e também as sequelas nas infâncias.
CUIDADOS COM O CORPO, ALMA E MENTE: Tentativas de silenciamento surgem principalmente contra quem se coloca na linha de frente na defesa do planeta. É preciso contar com camadas extras de proteção física, cuidados digitais, atenção com a saúde mental e pedir proteção espiritual.
COMO ENTENDER NOSSOS INIMIGOS E LUTAR: extrema-direita, rede de desinformação, negligência de lideranças políticas e ações de degradação do meio ambiente são fatores importantes a serem analisados e combatidos.
ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA E FERRAMENTAS DE AÇÃO
Além da nossa resistência territorial, há maneiras estratégicas e criativas de protestar contra a inação de governos diante da crise do clima. Que tal usar a criatividade como ferramenta de resistência e meios alternativos de mobilização? Veja cinco dicas criativas de táticas de ação direta que já foram usadas por ativistas em protestos no Brasil.
Fazer críticas à condução da política ambiental brasileira de forma descontraída e sarcástica pode ser um caminho de garantir que sejamos vistos e ouvidos. E, se quiser realizar uma ação direta de sucesso, veja o nosso guia especial “Ação direta, como planejar e fazer”.
Mas a mobilização não é só sobre protestos e manifestações públicas. Existe um trabalho de base muito importante acontecendo dentro das comunidades. E quem precisa lutar pelo seu território precisa resistir de várias formas. Resistir não é apenas se fortalecer como indivíduo, é também se fortalecer coletivamente, seja por meio de organizações estruturadas, artivismo, comunicação popular. É respeitar também quem veio antes e usar esse conhecimento que foi passado para proteger os de agora e os que vem depois. Ou seja, é quando pensamos não apenas nas nossas florestas, mas nas vidas que estão nelas e no entorno, temos a compreensão do que é o meio ambiente e como resistir diante de tantas violências.
Estratégias no campo e em áreas urbanas
Mesmo em áreas urbanas é possível e necessário pensar em meio ambiente. Usar técnicas de reflorestamento e plantar enquanto nossos inimigos queimam e desmatam faz toda a diferença.
Foi o que fizeram grupos de pessoas em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Convidadas pelo Instituto EAE (Educação Ambiental e Ecoturismo), que faz trabalhos para promover a preservação do meio ambiente, do patrimônio cultural e natural da conhecida Serra do Vulcão, pessoas entusiasmadas se reuniram em uma grande ação em prol da vida: um plantio de árvores. A ação faz parte da ação #ElesQueimamNósPlantamos.
A comunidade local acredita que é fundamental que as novas gerações olhem para a preservação com cuidado. Uma das pessoas que também foram atraídas para fazer plantios na Serra é a guia de turismo Raimunda Delanda, de 86 anos. Para ela, as gerações atuais devem ser atuantes pela preservação daquilo que já existe e pela reparação do que foi destruído. “Eu falo pro mais jovem pra ele tomar conta do seu espaço. Tomar conta dele, cuidar do meio ambiente, porque o jovem vai precisar muito mais do que eu. Eu ainda estou construindo hoje para vocês, mais jovens. Só que eu estou indo. E alguém tem que ficar cuidando”, disse.
Ativistas e comunidades têm mantido rios vivos, plantado árvores e inclusive mostrando que é possível fazer uma transição energética popular. O projeto Veredas Sol e Lares, uma usina solar fotovoltaica desenvolvida no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi uma proposta pelo Movimento Atingidos por Barragens e parceiros, a usina foi desenvolvida com protagonismo das comunidades em todas as etapas. Mais do que um projeto energético, a iniciativa é uma experiência de desenvolvimento comunitário, no qual foram envolvidas aproximadamente seis mil pessoas, em mais de 400 atividades de campo, nos 21 municípios que fazem parte da abrangência da usina.
Mantendo rios vivos
A experiência do Vão Grande, região que reúne cinco comunidades quilombolas no Pantanal mato-grossense, mostra que a relação entre povo e rios é intensa. Em 2021, os quilombolas conseguiram barrar na Justiça a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), tipo de usina que, apesar do porte, causa grandes impactos biológicos e sociais na região onde é construída. Para proteger o Rio Jauquara, cujas margens servem de refúgio e subsistência desde a fuga de seus ancestrais escravizados, uma das táticas usadas foi criar, no dia 28 de abril, o Dia do Rio Jauquara, que valoriza a relação dos quilombolas com o rio, o que serviu de base também para a Justiça impedir a construção que acabaria com esse modo de vida.
Cultura como ponto de partida
Pense que existem formas variadas de fazer resistência. A cultura, por exemplo, tem a ver com a crise climática e pode ser uma estratégia de mobilização. Marcele Oliveira, produtora cultural, comunicadora e ativista climática, refletiu sobre como cultura pode, de forma efetiva, ser aliada no combate à emergência climática.
Ela explica que utilizar o discurso ‘cancele o evento cultural’ para contestar as consequências das mudanças climáticas que nos atingem não é eficiente. E se formos falar em eventos, ecobag e copo eco já não são as inovações do momento. “Sustentável mesmo é envolver cooperativas de resíduos sólidos e visibilizá-las ao público, valorizar trabalhos feitos por comunidades que protegem o bioma onde aquele encontro se realiza, alocar o discurso de solidariedade ao discurso de emergência, cobrança e mobilização em torno de um apoio governamental para adaptar os editais culturais considerando medidas alternativas para ondas de calor ou de chuvas excessivas. É necessário prevenir, conscientizar e politizar sim o debate nesse âmbito, onde o encontro e união de pessoas para a diversão também as sensibiliza para olhar além da tragédia em si”, afirma Marcelle.
A cultura para fomentar a luta em defesa dos territórios e fortalecer narrativas. No Pará, um projeto leva, de barco, filmes regionais para comunidades à beira do rio. A ação itinerante do Instituto Regatão Amazônia exibe curtas e longa-metragens em aldeias e comunidades ribeirinhas da Amazônia com objetivo de popularizar o cinema e torná-lo um instrumento democrático para manter viva as culturas amazônicas e fomentar a luta em defesa dos territórios da floresta. “Os filmes apresentam conexões com o fazer cultural das comunidades ribeirinhas, o que contribui para preservar nossa biodiversidade. São promovidos diálogos com as comunidades desses filmes que abordam o cotidiano e a cultura das comunidades locais”, diz Marlena Soares, presidenta do Instituto.
A força do ativismo ancestral
O que pode ter mais força do que o ativismo ancestral? Povos quilombolas provam que o afeto, a identidade, autocuidado e educação são bases da resistência principalmente entre as mulheres. Os modos de vida dentro dos territórios são fundamentais para o fortalecimento da luta contra diversas desigualdades. Esse movimento tem despertado as novas gerações para o empoderado e para a luta
A luta pelo território, pela natureza e pela vida leva comunidades a outras discussões importantes, entre elas, a liberdade estética. Apesar das violações de direitos que ainda afetam os quilombos, o ativismo ancestral acendeu uma nova geração: a de mulheres e meninas quilombolas empoderadas e orgulhosas da aparência e da identidade ancestral.
“Cresci me achando linda graças às mulheres do meu quilombo, à luta do movimento quilombola e à construção matriarcal da minha comunidade. Em nenhum momento da vida fui ensinada que eu teria que me adequar aos espaços. Pelo contrário. Eu cresci ouvindo que os espaços teriam que se adequar à minha presença e a tudo que sou, desde o meu tom de pele a todas as formas que gosto de usar meu cabelo. O amor próprio se constrói e, como eu cresci nesse processo, sempre fui instigada a me amar”, disse Lorena Bezerra, quilombola da comunidade Conceição das Crioulas, em Salgueiro (PE).
CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONTEÚDOS COMPLETOS, CLICANDO NOS TEXTOS:
Resistência climática: rememorando táticas de ação direta criativa

GUIA: Ação Direta - como planejar e fazer
Resistência climática nos territórios: o que é e como fazer
Eles queimam, nós plantamos: a resistência ambiental na Baixada Fluminense (RJ)
Moradores fazem mutirões de plantio para reflorestar áreas degradadas na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu. No entorno da Serra, é possível ver como Nova Iguaçu é grande: de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população iguaçuana conta com 785.867 pessoas. Em um lugar tão bonito e potente, o racismo ambiental também reina — o último Mapa da Desigualdade da Casa Fluminense mostra que 93% foi o percentual de negros internados por doenças transmitidas pela água em relação ao total de internados. LEIA AQUI
É possível pensar em uma transição energética popular? Uma experiência brasileira diz que sim
Como uma comunidade pode comemorar o aniversário de um rio e impedir sua destruição
E se a cultura fosse estratégia de mobilização para o enfrentamento à crise climática?
Um barco chamado cinema: projeto leva filmes paraenses para comunidades à beira do rio
Ativismo ancestral: identidade, autocuidado e educação são bases da resistência das mulheres quilombolas
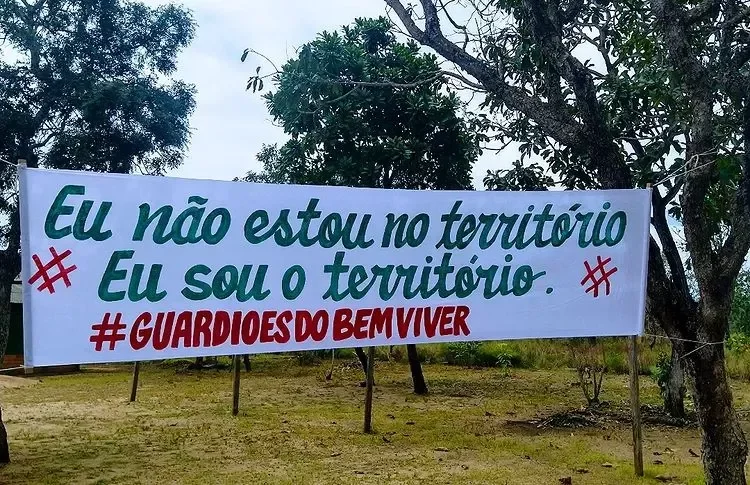
OS MAIS IMPACTADOS PELA CRISE CLIMÁTICA
Frente às mudanças climáticas, as pessoas não são afetadas da mesma forma. Quem mais sofre com os impactos das mudanças climáticas são as pessoas mais preocupadas em não poluir. Fatores como raça, gênero e classe evidenciam essas injustiças climáticas e ambientais e tornam algumas pessoas e lugares mais suscetíveis a sofrerem grandes perdas. Não é segredo para ninguém que o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos têm deslocado e vulnerabilizado cada vez mais pessoas no Brasil.
Por isso, o texto escrito por pesquisadoras da Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA) discute termos como “refugiado climática”, explica como os efeitos adversos da mudança climática colocam em risco os direitos humanos e aponta que os desastres são resultados de escolhas humanas e decisões políticas. Os eventos escancaram o despreparo das cidades brasileiras em prevenir, responder e se adaptar aos eventos climáticos, especialmente no que diz respeito aos grupos e comunidades mais expostas.
“Aos milhares de desalojados e desabrigados em caráter temporário, somam-se os indivíduos e comunidades que foram deslocadas pelo desastre ou que agora planejam migrar. Ao perderem suas casas, territórios e meios de subsistência, as pessoas que já estavam em uma situação de vulnerabilidade, ficam ainda mais expostas à violações de direitos humanos e nem sempre conseguem retornar ao seu lugar. Assim, pessoas desabrigadas ou desalojadas podem se tornar deslocadas à medida que o cenário do desastre ou efeito da mudança climática se desenrola; da mesma forma como os deslocamentos temporários podem se prolongar no tempo e se tornarem permanentes”.
Infâncias impactadas
Os eventos climáticos extremos também têm aumentado a vulnerabilidade infantil e prejudicado o desenvolvimento das crianças, principalmente de meninas. Os motivos para a violação vão desde a desigualdade econômica até a violência de gênero.
O casamento infantil no país é uma das violências que as meninas já sofrem, mas que é — e pode ser ainda mais — agravada pela crise climática. A falta de acesso à água, inundações, falta de abrigo, secas… são situações que ocasionam um aumento da miséria dentro desses contextos. Diante de tanta instabilidade, famílias podem ver vantagem em casar uma filha para reduzir o número de pessoas na casa e fugir da pobreza extrema.
A UNICEF relata que, em 2021, um bilhão de crianças e adolescentes foram expostos a pelo menos um risco climático, sejam secas, inundações, poluição do ar e ondas de calor. No mundo inteiro, isso gera fome, desnutrição, doenças respiratórias, perda de patrimônios socioculturais, rompimento de vínculos familiares e até mesmo mortes.

População LGBTQIA+ entre as mais afetadas
Lidar com as mudanças climáticas requer estratégias de prevenção, o que traz a necessidade de pensar no cuidado voltado para grupos que já são vulnerabilizados, como lugares seguros para a população trans. De acordo com um estudo do Chapin Hall na Universidade de Chicago, os jovens LGBTQIA+ são 120% mais propensos a viver sem-teto do que os jovens não-LGBTQIA+. Na realidade brasileira, pesquisas regionais têm apontado para o crescimento da população LGBTQIA+ nas ruas. A situação coloca essas pessoas na linha de frente das mudanças climáticas, sendo as primeiras impactadas pelo calor ou frio extremos, chuvas, seca, poluição e outros riscos.
Mas a luta climática pode ser construída junto à pauta LGBTQIA +. É possível visualizar a força que a essa comunidade possui para a união em momentos de emergência. Isso somado a nossa forma de olhar para o outro de maneira cuidadosa, com respeito e empatia sobre a diversidade que compõe a história de cada um, pode ser uma ferramenta essencial para construir pontes, ao invés de muros e mudar o curso da crise climática que assola o nosso planeta.
Na linha de frente
Quem se coloca na linha de frente para a defesa do planeta acaba sendo atacado. Ativistas climáticos, defensores do meio ambiente e lideranças indígenas e quilombolas estão em situação de risco.
Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT) contabilizou 2.203 conflitos no campo no ano passado, uma média de seis por dia – o maior número registrado em uma década, desde o início da pesquisa. O aumento foi de mais de 7% se comparado com 2022. As ocorrências envolvem povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, assentados e outras comunidades tradicionais. 31 pessoas foram mortas no período.
A lentidão em resolver processos de regularização territorial é um dos fatores de ameaça para as comunidades quilombolas. Em todo o Brasil a luta pela titulação de territórios quilombolas é um ato de resistência, principalmente contra a mercantilização da terra ancestral.
Lideranças, ativistas e defensores de territórios tradicionais cobram celeridade nas titulações. É o mínimo, já que o Estado Brasileiro age rapidamente para liberar licenças ambientais que permitem grandes desmatamentos, mas demora séculos para titular os territórios quilombolas em que vivem famílias em situação de perigo, vulnerabilidade e sem acesso a políticas públicas.
Tentativa de silenciamento
Defender os biomas e seus territórios no país costuma ter um preço muito alto, que ficou ainda mais caro nos últimos anos por conta de uma política agressiva e de não inclusão de pautas ambientais nos seus projetos. Quem fala sobre essas injustiças fica na mira. Comunicadores da Amazônia vivem sob ameaças e perseguições porque trabalham denunciando e dando visibilidade às invasões de territórios indígenas, garimpo ilegal, exploração de madeira e outras irregularidades que resumem uma disputa brutal por territórios e recursos.
O relatório “Fronteiras da Informação” do Instituto Vladimir Herzog, divulgou informações sobre jornalismo e violência na região. A pesquisa mostra que as apurações que envolvem crimes na Amazônia motivam ameaças, agressões e mortes, como as do jornalista Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, assassinados em junho de 2022 enquanto apuravam crimes ambientais na região do Vale do Javari, no Amazonas.
CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONTEÚDOS COMPLETOS, CLICANDO NOS TEXTOS:
Desastres, migração e deslocamento: a luta por direitos das pessoas e comunidades afetadas pela crise climática no Brasil
Clima e infância: crise climática aumenta vulnerabilidade e violência contra as meninas
As mudanças climáticas impactam a população LGBTQIA+. De que maneira podemos nos proteger?
Conflitos no campo batem recorde em 2023; CPT aponta aumento de ações de resistência territorial
Violência contra comunicadores na Amazônia atinge 230 casos em dez anos; leia relatório
CUIDADOS COM O CORPO, MENTE E ALMA
As comunidades originárias e tradicionais, ativistas e defensores precisam estar em segurança para continuar na luta. É impressindível ter estratégias para segurança integral e ter camadas extras de proteção. Construir protocolos e contar com medidas de segurança podem estimular e fortalecer o processo de luta política por direitos no Brasil.
A responsabilidade da garantia de segurança às vítimas é do Estado, mas com tantas falhas, é importante que as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade também se auto protejam e participem de todo o processo da elaboração da sua própria estratégia de segurança. Por isso, a Escola de Ativismo desenvolveu o “Guia de Avaliação de Riscos e Medidas de Segurança”. Isso mitiga perigos e permite que os grupos possam continuar fazendo seus trabalhos mesmo sabendo que o governo não proporciona toda a segurança esperada.
No seu ativismo, cuide também da saúde mental, por isso mostramos como ativistas lidam com a ansiedade a angústia de viver a crise do clima. Não existe tranquilidade quando o território está em perigo. O medo, apagamento de modos de vida tradicionais e sensação de impotência fazem parte da ansiedade climática. Para combatê-la busque apoio e acolhimento nos movimentos dos quais faz parte. Entender a ansiedade climática como uma questão coletiva é fundamental para atravessá-la. Por isso temos um caderno de cuidado específico sobre o tema da ansiedade. Do mesmo modo, sabemos o quanto é importante pensar nas noites tranquilas, e a necessidade de pensar sobre a insônia. Também faça exercícios físicos e tenha hobbies paralelos à luta. Cuide do corpo e da mente.
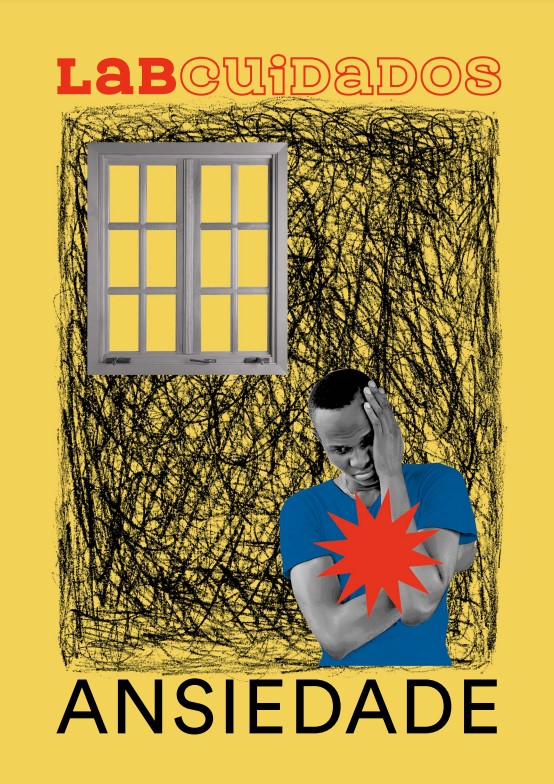
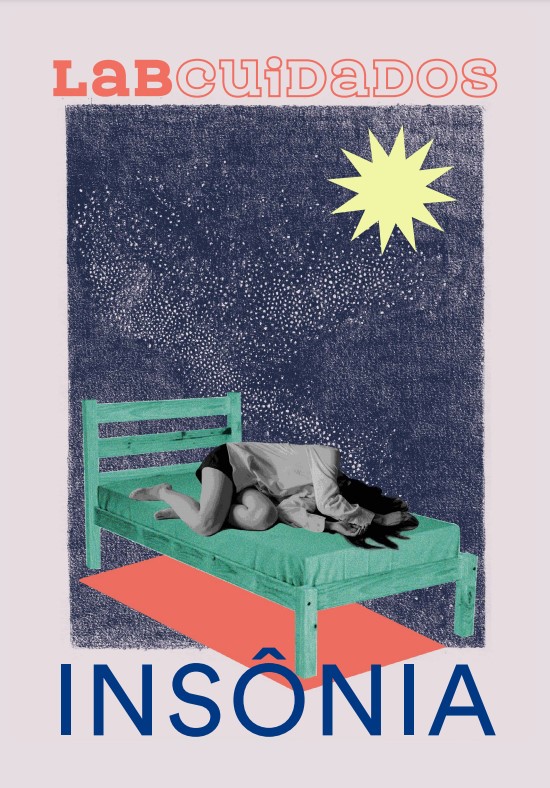
A proteção espiritual
O trabalho da Escola de Ativismo abarca várias dimensões da segurança, como a digital, de informação, física, patrimonial e organizacional. Nesse campo, a Escola atua com toda a diversidade de povos e comunidades tradicionais, assim como com as organizações e movimentos populares que os apoiam. “Na trajetória da Escola, atuamos muito com oficinas, em espaços de escuta das demandas das comunidades e das organizações, e, nesse processo, entendemos que os aspectos psicossociais e espirituais são fundamentais para como esses povos se organizam. Por entender essa importância, é algo que temos incorporado em nossas oficinas de segurança integral”, contextualiza Márcia Maria Nóbrega, a Escola
Márcia explica que tem ouvido muito nas oficinas que nunca alguém ou algo está seguro se não há uma proteção espiritual. “Por isso temos tentado entender como podemos trazer essa sabedoria dos povos tradicionais para os processos formativos e para os planos de ação e segurança elaborados junto às organizações e comunidades. A proteção espiritual é algo novo para nós, e ancestral para os povos.” Por isso, busque também proteção espiritual. É sempre bom fazer orações, preces, rezas… Pedir proteção às forças ancestrais, à natureza e ao que você acredita também é tática de defesa.
E não esqueça da parte digital
Hoje é praticamente impossível realizar alguma luta política sem o uso de tecnologia. Seja no monitoramento territorial de terras indígenas até no uso das redes sociais, os coletivos ativistas têm na internet um forte aliado, mas também uma grande vulnerabilidade.
Pensado nisso, a Escola de Ativismo tem uma página especial sobre segurança digital, com mais de 20 conteúdos específicos sobre o tema. Vai desde como usar navegadores e aplicativos de conversas mais seguros, passando também por como podemos proteger nossos dados e apagar nossos rastros quando estamos sendo espionados. Conheça a página especial aqui.
“Pessoas em exposição constante são alvos mais visíveis, tanto para seus inimigos diretos, quanto para golpistas no geral. Ao mesmo tempo que ativistas do interior que lutam por demarcação de território, enfrentam latifundiários, empresários, garimpeiros, também colocam seu rosto e sua identidade na internet ou viram alvo para tentativas de extorsões a partir do sequestro de dados de organizações que estes ativistas participam ou são aliados. Não somente a pessoa ativista é alvo, mas sua comunidade e seus principais companheiros e companheiras de luta”, afirma Rafael Ramires, da Escola de Ativismo.
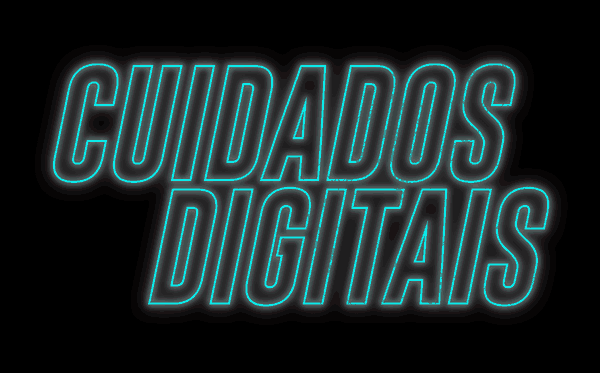
CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONTEÚDOS COMPLETOS, CLICANDO NOS TEXTOS:
Guia para uma avaliação de risco e medidas de segurança
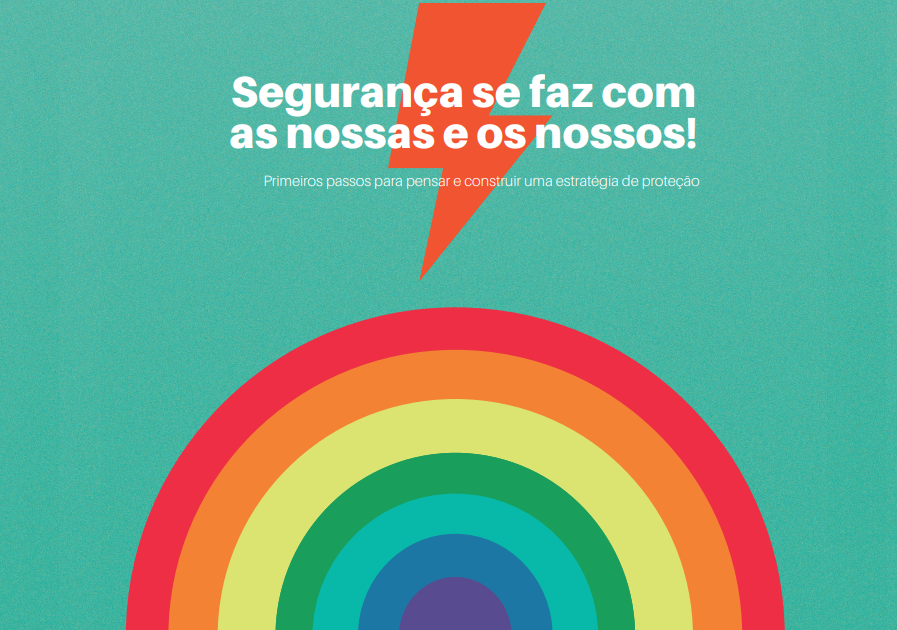
Leia o guia completo da Escola de Ativismo sobre como adotar medidas de segurança, construindo um plano para você e para seu coletivo.
Veja também a matéria que mostra outros materiais que podem ajudar a fortalecer sua proteção.
Como ativistas lidam com as angústias e ansiedades de viver a crise do clima
LabCuidados - Insônia
Proteção espiritual é segurança integral na defesa de povos e seus territórios
Conheça nossa página especial sobre CUIDADOS DIGITAIS
Foto: Vitória Rodrigues
COMO ENTENDER NOSSOS INIMIGOS E LUTAR CONTRA ELES

Não é porque a extrema-direita nega a importância da pauta do clima que ela não se movimenta 24 horas por dia contra essas políticas. Parte da estratégia é exatamente essa.
Graziela Souza, cientista social e coordenadora de relações governamentais no Instituto Clima de Eleição, explica que as consequências das mudanças climáticas acentuarão todos os tipos de desigualdade e injustiça, incluindo a política. Ela pontua que é preciso avaliar atentamente a postura dos candidatos nessas eleições municipais e tomar cuidado com o greenwashing, principalmente da extrema-direita, já que a narrativa do negacionismo climático ainda é forte e um inimigo a ser combatido, e provavelmente estará bastante presente no período eleitoral.
“O principal objetivo da extrema direita é manter o status quo, ou seja, garantir a continuidade do modelo de produção capitalista baseado na emissão de carbono”, afirma.
Para começar, as emissões de dióxido de carbono (CO2) são desiguais entre países ricos e pobres e, se nada for feito, essa situação tende a piorar. “O paradoxo é que, se a extrema direita não se opuser a esse modelo de produção, não haverá futuro para ela, pois a degradação ambiental causada por esse sistema afetará a vida no planeta como um todo”, diz Graziela.
Redes de desinformação
Nessa batalha, temos que lutar também contra a disseminação de notícias falsas. A pesquisadora Lori Regattier explicou como redes de desinformação têm destruído o meio ambiente. A consultora em tecnologias justas e sustentáveis e fundadora da plataforma Eco-mídia afirma: “Através da propagação de narrativas falsas, atores políticos e econômicos podem minar os esforços de conservação, restauração e de respeito aos direitos territoriais dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. E ela não se limita apenas à comunicação de mensagens falsas: envolve a manipulação das intensidades emocionais e psicológicas das pessoas”.
O objetivo não é só negar as mudanças climáticas, mas também prejudicar a conscientização da população sobre o tema para conseguir alcançar interesses próprios.
“A desinformação socioambiental é frequentemente disseminada por interesses comerciais e políticos que negam as mudanças climáticas ou minimizam sua gravidade, cria confusão e ceticismo entre o público em geral. Isso resulta em uma divisão na sociedade, com parte da população duvidando da existência das mudanças climáticas e da necessidade de ação urgente. Isso também prejudica a mobilização da sociedade civil e a conscientização sobre a importância da justiça climática. Quando informações errôneas são disseminadas, aqueles que estão buscando criar uma mudança positiva muitas vezes têm que gastar tempo e recursos consideráveis desmentindo falsidades e educando o público sobre os fatos científicos reais. Isso desvia o foco das ações concretas necessárias para lidar com as mudanças climáticas e cria um ambiente de desconfiança em relação à informação legítima” – Lori Regattier
CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONTEÚDOS COMPLETOS, CLICANDO NOS TEXTOS:
Crise climática ampliará desigualdade política e impactará democracia, diz especialista
Como redes de desinformação têm destruído o meio ambiente e o que podemos fazer
De onde surgiu – e como se move – a nova onda de extrema-direita no Brasil e no mundo
Leituras, escutas e materiais para entender – e enfrentar – a extrema-direita
De Jesus a Bolsonaro – Por que as histórias de jornadas funcionam e como podemos utilizá-las ao nosso favor
TEXTO
Escola de Ativismo
publicado em
TEMAS
Newsletter
Mais recentes
Ativismo, a palavra – a origem e a disputa pelo sentido do termo
Ativismo, a palavra – a origem e a disputa pelo sentido do termo
Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro afirmava que daria “um ponto final” em todos os ativismos no país. Em maio de 2021, é a vez do delegado Oliveira, que é subsecretário operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, chamar de “ativismo judicial” o conjunto de críticas da sociedade civil organizada em relação à desastrosa operação policial na região do Jacarezinho, que resultou em 28 mortes. São exemplos que dão a tônica de como o assunto é entendido – e reprendido – em nosso país. Evidentemente, diversos grupos e organizações (aqui e aqui, por exemplo), além de algumas vozes na imprensa (aqui e aqui) responderam à bravata. O que é seguro dizer é que a vida do ativista no Brasil, assim como em larga parte do planeta, não é fácil, tolerada ou até mesmo criminalizada.
Críticas não são exatamente novidades. Se dominação, perseguições e desigualdade cortaram a história da humanidade por milhares de anos, a luta contra elas também. Diversos exemplos de revoltas e revoluções ao longo da história representam a necessidade humana de fazer suas próprias escolhas, de se libertar da opressão em todas as formas e também de ter uma voz. É essa necessidade humana que produz @ ativista.
O ativismo encontra respaldo legal no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que “Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui o de não ser incomodado por causa de suas opiniões, o de investigar e receber informações e opiniões, e o de difundi-las, sem limitação de fronteiras, por qualquer meio de expressão”. Além disso, no Brasil, temos dois artigos constitucionais que amparam o ativismo:
“Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente” – Artigo 5° da Constituição Federal.
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” – Artigo 220 da Constituição Federal.
O ativismo – aqui e no mundo
Vale procurarmos as origens do ativismo no mundo para nos aproximarmos dos usos e história do termo no Brasil. Ativismo se refere à ação direta em apoio ou oposição a uma política social ou política de maneira ampla. O Online Etymology Dictionary diz que as raízes da palavra remontam a 1915, quando “ativistas” suecos pediram o fim da neutralidade daquele país na Primeira Guerra Mundial. Há quem diga que os termos “ativismo” e “ativista” foram usados pela primeira vez pela imprensa belga, em 1916, referindo-se ao Movimento Flamingant: que lutava para que fossem reconhecidas oficialmente duas línguas oficiais no país, o neerlandês (ao norte) e o francês (ao sul) – o que aconteceu somente em 1930.

Sufragistas marcham pelo direito ao voto na Inglaterra. 23 de outubro de 1915
No mundo anglo-saxão mesmo há divergências sobre sua origem: as feministas reivindicam as sufragettes na virada do século XX como pioneiras no uso do termo, e uma exposição no Museu da Cidade de Nova Iorque com o título “Nova Iorque ativista” busca origens na luta pela tolerância religiosa na Nova Holanda de 1650 a 1664, incluindo imagens do documento “Flushing Remonstrance”, escrito em 1657 por um grupo de colonos protestantes que se opunham à expulsão dos quacres da cidade.
Com um pouco de imaginação política, poderíamos encarar os abolicionistas ou até mesmo os quilombolas como ativistas avant la lettre no Brasil da mesma forma como no Norte global identificam Espártaco, que liderou uma rebelião de escravos durante o Império Romano como o primeiro ativista da História. Por fim, a diferença de como ativismo é encarado no mundo anglo-saxão e no Brasil é bem exemplificado no verbete “ativismo” na Wikipedia em português e no mesmo termo em sua versão em inglês: enquanto no primeiro é uma breve menção pouco embasada, no segundo é um robusto verbete recheado de hiperlinks.

A morte de Espartacus.
Foto: Gravura de Hermann Vogel
No Norte global, foi somente após o fim da década de 1960, com a erupção de novos movimentos sociais – feminismo, liberação gay, ecológico entre outros – que os ativistas realmente começaram a proliferar. Nos anos oitenta e noventa, o termo já era amplamente utilizado. Esses movimentos sociais realizaram muito em um período de tempo notavelmente curto, muitas vezes desenvolvendo e adaptando técnicas de organização mais antigas, ao mesmo tempo que inventavam procedimentos abertos, democráticos e não hierárquicos.
Os ativistas emergiram a partir do momento em que as pessoas se afastaram do que consideravam ideologias políticas antiquadas e abraçaram identidades radicais que surgiam naquele momento. No rastro dos anos 1960, as pessoas também, compreensivelmente, queriam ser menos devedoras à liderança carismática, que colocava os movimentos em risco de sabotagem quando figuras de proa eram assassinadas; Martin Luther King Jr., por exemplo.

Manifestação pela Amazônia – Lisboa
Caminhos do ativismo no Brasil
A tarefa de um ativista, em um país com pouca tradição em manter seu estado democrático de direito, nunca é simples. O depoimento da ativista ambiental Miriam Prochnow é exemplar sobre este tema:
“Eu sou ativista ambiental. Minha causa é o bem comum, é a conservação da natureza, da qual tod@s somos dependentes. Da qual depende a sobrevivência da espécie humana. Meu lema sempre foi ‘boca no trombone e mão na massa’, denunciando as agressões ao meio ambiente, mas dando exemplos de como as coisas podem ser feitas de forma sustentável e com diálogo.
Nos meus mais de 30 anos de ativismo, encontrei milhares de pessoas que também abraçaram a causa e por conta disso conseguimos inúmeros avanços que garantem qualidade de vida para tod@s e a proteção mínima da biodiversidade. Já recebi inúmeros prêmios de reconhecimento.
Mas também por conta do meu trabalho, já sofri muitas ameaças, inclusive de morte, fui perseguida e até agredida, física e moralmente, por aqueles que se acharam no direito de impedir que a guerreira verde trabalhasse pelo bem comum”.
O ativismo ambiental, não por acaso, é particularmente visado em nosso país. Bolsonaro foi enfático em 2018, quando era ainda candidato à presidência: “vamos acabar com o ativismo ambiental”. Além da perseguição pública, ações como o rompimento com os acordos do Fundo Amazônia, cujo recurso era dividido especialmente entre o Estado, com 60%, e organizações socioambientais, com 38%.
Se o trabalho dos ativistas já era importante antes, o vácuo se torna ainda maior uma vez que o ataque também ocorre sobre a institucionalidade. O corte em abril no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, quebrando inclusive promessa feita por Bolsonaro na Cúpula do Clima, inviabiliza operações de fiscalização pelo país e soa bem coerente com a afirmação de 2018. Os R$ 83 milhões destinados pelo orçamento oferecido estão abaixo dos mínimos R$ 110 milhões essenciais, garante Suely Araujo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama.
Não bastasse as circunstâncias nefastas da atual presidência, vale lembrar que o Brasil é um dos campeões mundiais de assassinatos de ativistas que lidam com a questão ambiental no planeta. País é o terceiro mais letal, segundo relatório da ONG Global Witness, que contabilizou 24 mortes em 2019, quatro a mais que no ano anterior. 90% dos casos ocorreram na Amazônia, onde a destruição de terras indígenas vem se acelerando. A região amazônica inteira assistiu a 33 mortes, 90% delas no território brasileiro. Paulo Paulinho Guajajara, assassinado a tiros em novembro do ano passado no Maranhão, foi um dos casos mais lembrados na região. Ele tinha 26 anos e era uma importante liderança dos indígenas Guajajara. Ainda segundo o relatório, “as políticas agressivas do presidente [Jair] Bolsonaro para estimular a mineração em escala industrial e o agronegócio na Amazônia vêm gerando graves consequências para a população indígena, assim como para o clima global”.
Atividades caracterizadas como “ativismo” no Brasil podem ter suas raízes históricas nas lutas do movimento operário do final do século XIX, por exemplo, mas só ganharam este nome com o surgimento do próprio movimento ecológico e ambientalista, a partir das décadas de 1970 e 80. Entretanto, se o conceito de ativista abarcar figuras históricas como Espartaco, não é possível deixar de fora Zumbi dos Palmares, Cunhambebe – líder das Confederação dos Tamoios – e tantos outros que se organizaram na luta contra a opressão.
Hoje, segundo o Greenpeace, organização mundial que é uma das maiores responsáveis pela popularização do termo, o ativismo é “exercitado em rede e nas redes, ele é o meio em que pessoas praticam sua cidadania política para transformar não só o lugar onde vivem como a si próprias”. Uma boa parte do ativismo no país, por exemplo, muitas vezes recebendo pouca atenção midiática, busca “dar voz às pessoas invisíveis” e fatalmente são os que estão sujeitos a sofrerem violências múltiplas. E há quem critique o termo para além dos inimigos conservadores.
Crítica e autocrítica
Há quem critique o termo ativismo/ativista porque “contestar o poder não é um hobby ou uma subcultura – é um projeto coletivo que permeia todas as facetas de nossas vidas”, lidando com um aspecto individualista associado ao termo ou porque “ativistas são tipos que, por alguma peculiaridade de personalidade, gostam de longas reuniões, gritar slogans e passar uma ou duas noites na prisão” ou ainda porque “parecem saborear sua marginalização, interpretando seu pequeno número como evidência de sua especialidade”. Mesmo dentre os anarquistas, tão associados ao ativismo, há críticas contundentes, como a que diz que o ativismo “por sua composição ideológica e organizativa, e procedência de classe, tende, em determinado momento do seu desenvolvimento, a se converter num verdadeiro obstáculo à luta revolucionária e a resistência da classe trabalhadora” e que em razão de suas predileções de classe média, tende a “a formação de uma contracultura sectária fechada em si mesma, inútil para as lutas dos trabalhadores”.
Em alguns casos, o uso da palavra militante é preferível por muitos grupos – lembrando que esse próprio termo também é alvo de críticas por sua origem e correspondência com a ideia de forças armadas e guerras – que veem no ativismo um “nome importado”.
A questão, talvez, seja compreender que termos como democracia, anarquia e ativismo estão vivos e passando por constantes transformações. Lideranças indígenas como Sônia Guajajara afirmam “as pessoas me perguntam como me descobri ativista. Eu não me descobri. Eu nasci. Sempre fui de luta”, deixando claro que aquelas e aqueles que se identificam com a palavra não correspondem necessariamente ao corte de classe e raça que a palavra pode suscitar por seu uso amplo na Europa e nos Estados Unidos.
Um pensamento de esquerda clássico é de que a prática é o critério da verdade. Se é assim, o real sentido do que significa ser ativista não está no dicionário ou numa enciclopédia. A história é sim importante, mas é no caminhar, no fazer que o ativista e o ativismo se moldam e se declaram. Uns nascem, outros se descobrem, outros se tornam, alguns podem até renegar o termo. Seja como for, é a reflexão, a organização e a ação contra opressões e injustiças o ponto importante que une a todas e todos, independentemente de como se queira nominar.
TEXTO
Velot Wamba e Mario Campagnani
PUBLICADO EM
08/02/2023
TEMAS
Matérias Relacionadas
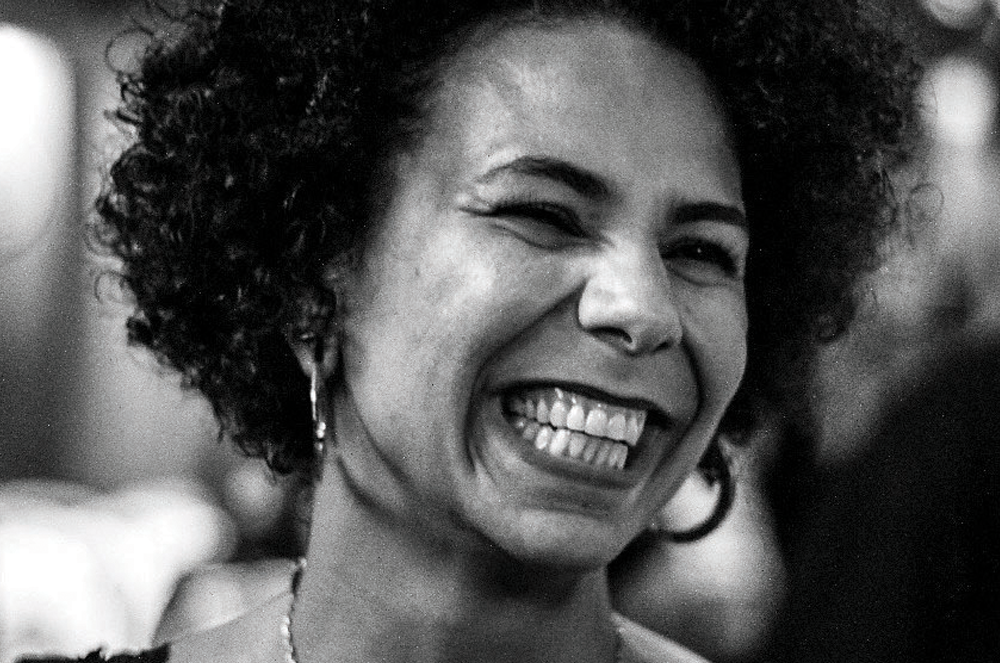

Newsletter
Mais recentes
Por que um site ativista é urgente
Por que um site ativista é urgente
Um editorial da Escola de Ativismo
A resposta curta para a pergunta é: porque não temos tempo a perder. Ativistas raramente têm. Os territórios dos povos tradicionais estão ameaçados. De Norte a Sul do Brasil, nossos biomas queimam, nossos olhos ardem, sufocamos em fumaça, veneno e fogo ou nos afogamos em tempestades. As previsões sobre a crise climática não apenas confirmam-se como são, em inúmeros casos, o pior cenário imaginado. A desigualdade cresce, o agroextrativismo avança em labaredas, junto com a extrema-direita, que muda sem parar as regras do jogo e ameaça os avanços conquistados, a democracia e a sobrevivência do nosso planeta, com negacionismo e um modo de produção inviável, pautado pelo crescimento infinito. A fumaça cobre o país. Rios morrem. Estamos sob urgência e ameaça.
Precisamos de uma comunicação que amplie nossas demandas, que denuncie, que impacte, que fortaleça.
Mas somos Escola. E gostamos de ziguezague, de pintar e bordar, de percurso e de pensar junto. Então a resposta mais longa é: porque acreditamos que seja na paz ou na guerra só é possível caminhar e aprender se for junto com outras pessoas ativistas. A colaboração e o trabalho conjunto nunca foi perda de tempo, muito pelo contrário.
É comum que na militância, na vida ativista, na construção política certas frases se tornem carimbos indiscutíveis em qualquer argumento sobre o fazer político. “Precisamos fazer trabalho de base”, “nosso campo precisa aprender a se comunicar”, “precisamos de mais ação direta” etc. etc. Nós não discordamos de nenhuma dessas. Um dos problema dessas frases é justamente que elas fazem sentido. Mas queríamos falar de uma delas: “Precisamos furar a bolha”.
E olha, realmente, muitas bolhas precisam ser furadas. Faz parte da tarefa de pessoas envolvidas na luta social de amplificar o alcance de suas vozes, reunir apoiadores e conseguir com mobilização social efetivar mudanças na sociedade. Mas fomos entendendo também, no processo de construção de uma comunicação para uma escola de ativismo, o que quer que ela seja, que precisamos cuidar da nossa bolha.
E essa noção faz muito sentido para a Escola. Fundada em 2012, ela já foi muitas escolas. E segue sendo. Mas sempre trabalhando com algumas chaves muito importantes: educação e comunicação popular, justiça ambiental e climática e segurança e cuidado integral. Ela é uma organização pautada por aprendizagens e pelo fortalecimento das dimensões organizacionais, físicas, estruturais, psicossociais, subjetivas, comunicacionais de ativistas, coletivos e organizações.
Queremos ser começo, meio e começo de novo, como ensinou Nego Bispo. De forma que a Escola sempre fez uma escolha política de ficar nos bastidores. Nos territórios. Na vida concreta. O protagonismo não é nosso. Nunca foi. E a vigilância e a repressão exigem que nos mantenhamos, ainda que transparentes, difusos e disfarçados.
Como ativistas que um dia já tiveram dúvidas sobre os caminhos a percorrer na luta, que já erraram muito, acertaram demais também, mas ,sobretudo, aprenderam coisas inesperadas e incríveis no caminho, chegamos aqui nesse site.
Calma, não queremos dar conselhos arrogantes que ninguém pediu – e nem vamos. Aqui nos propomos a articular a experiência, os sentimentos, a intuição, as invenções e tecnologias ancestrais já inventadas do campo ativista para fazer a roda girar. Traremos o que tem sido visto e escutado. Experiências Sistematizadas. Proposições de percursos de cuidado e bem viver. Partilha de táticas, estratégias, invenções e subversões. A diversidade das lutas. Provocação, desobediência, Reflexão, Análise, Pensamento e aquilo que fica entre o dito e o não dito nas conversas.
Não importa se você é uma pessoa que já nasceu ativista, ou se você se tornou ativista em algum momento ou se você está nesse processo intenso e complexo de se comprometer com a luta por direitos humanos e socioambientais. A gente tá aqui pra fortalecer você que nos lê na sua briga pelo seu sonho.
Então, é por isso que estamos lançando um site de ativistas para ativistas.
Aqui você vai encontrar notícias ativistas, com denúncias e também contação de histórias que nos inspiram. Material de aprendizagem e reflexão para pensar juntos caminhos de enfrentamento dos desafios que compartilhamos. Vídeos que falam da luta ou transmitem saberes. Olhares ativistas para nos inspirar. Vozes ativistas para mantermos a fala alta e a escuta aberta.
E tudo mais que conseguirmos inventar juntos no caminho. Afinal, não temos tempo a perder. Mas ninguém nunca perdeu tempo cuidando de si, de alguém ou do mundo.
Newsletter
Mais recentes
Direitos da Natureza: entenda o movimento que entende rios como sujeitos
Direitos da Natureza: movimento entende o meio ambiente como sujeito
Teoria reconhece a Natureza como sujeito de direitos e como agente que possui valor intrínseco.


Rios podem ter direitos garantidos por lei.
Foto: Reprodução/Montagem
Já pensou como seria se os biomas fossem respeitados em todo o planeta? Se a exploração predatória de recursos naturais não fosse permitida? Se os cursos d’água e as moradas de várias espécies de animais fossem considerados como sujeitos? E se o “progresso” e o “desenvolvimento” não dependessem da destruição desenfreada de ambientes naturais?
Cada vez mais pessoas têm defendido que, assim como os seres humanos, a Natureza também tem direitos. Entre eles, o direito de regenerar seus ciclos biológicos, manter seu fluxo natural e existir com integridade e dignidade dentro das condições adequadas ao seu equilíbrio ecológico. Mas a exploração e extração dos chamados ‘recursos’ da Natureza, sejam eles renováveis ou não, provocam danos incalculáveis, e, muitas vezes, irreparáveis.
Mariana Lacerda, advogada indigenista e especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade, explica que os Direitos da Natureza consistem em uma teoria que amplia a concepção do que são os sujeitos de direito no sistema jurídico de um país. Segundo a advogada, os direitos devem abranger processos ecológicos numa perspectiva de serem eles próprios ‘sujeitos’ com direitos assegurados e não apenas objetos de proteção.
“Pensar nos Direitos da Natureza é colocá-la ‘em pé de igualdade’ quando se trata de direitos intrínsecos. A Natureza precisa ser considerada como sujeito de direitos, uma vez que tem o direito de se manter íntegra, mesmo que o ser humano precise dela para gerar lucro”, afirma Mariana.
Comunidades, ambientalistas e ativistas ao redor do mundo se voltam para este movimento de reconhecimento dos Direitos da Natureza. Entre os desafios está fazer com que grandes projetos que afetem os ecossistemas e que não permitem sua regeneração deixem de ser realizados para evitar o chamado ecocídio.
Avanços no Brasil e no mundo
Nos últimos anos houve um importante aumento no reconhecimento dos Direitos da Natureza no Brasil. O feito segue uma tendência internacional, iniciada por países como Equador e Bolívia, que parte do princípio de que a Natureza é, sim, detentora de direitos.
A Constituição do Equador foi a primeira no mundo a reconhecer expressamente os Direitos da Natureza. O processo no país surgiu a partir do pensamento e movimento dos povos indígenas e foi um marco global. O artigo 72 da Constituição Equatoriana afirma que “a Natureza ou Pachamama onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos”.
No Brasil, existem legislações municipais que reconhecem os direitos de rios, por exemplo. O Rio Laje, em Guajará-Mirim, cidade de Rondônia, foi o primeiro da Amazônia a ter direitos reconhecidos. A Lei Municipal 007/2023, de autoria do vereador e líder indígena Francisco Oro Waram, da etnia homônima, afirma que “ficam reconhecidos os direitos intrínsecos do Rio Laje como ente vivo e sujeito de direitos, e de todos os outros corpos d´água e seres vivos que nele existam naturalmente ou com quem ele se inter-relaciona, incluindo os seres humanos, na medida em que são inter-relacionados num sistema interconectado, integrado e interdependente”.
Conforme a ONG Mapas – organização internacional que promove caminhos para o Bem Viver e para o reconhecimento dos Direitos da Natureza – a primeira vez em que um rio teve seus direitos garantidos em lei no Brasil foi em 2018, no município de Bonito, no Agreste de Pernambuco. Na época, a legislação passou a prever amparo à preservação de seus recursos naturais, em especial dos cursos d’água.
Outro exemplo é o caso de Cáceres, no Mato Grosso. A medida havia sido aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal após luta popular pela inserção dos Direitos da Natureza na Lei Orgânica do Município. No entanto, por pressão de ruralistas, os vereadores votaram pela revogação dos dispositivos e a conquista histórica foi derrubada.
Mariana Lacerda defende que um país que reconhece os Direitos da Natureza compreende que a exploração coloca em risco ou inutiliza a Natureza. Ela explica que apenas um modelo de produção que respeite o todo é legítimo. “Os Direitos da Natureza defendem que não existe uma separação entre o ser humano e o meio ambiente enquanto objeto, mas que todos somos interdependentes e vivos. É sobre a defesa da vida, seja em que forma for, de continuar existindo com integridade e dignidade”.
Meio ambiente versus desenvolvimento?
A relação entre desenvolvimento, democracia e meio ambiente é complexa. Ao mesmo tempo em que órgãos ambientais definem regulamentações, atos de infração e fazem fiscalizações de defesa ao meio ambiente, empreendimentos têm permissão institucional para explorar a Natureza. Ivan Rubens, educador popular, estudante e escritor, explica que organizações e movimentos ativistas podem – e devem – cobrar medidas às autoridades e exigir mudanças.
“Temos que lutar pelo que acreditamos e pelas bandeiras que nos mobilizam. No caso específico da luta pelos Direitos da Natureza, podemos pressionar o poder público. Agir junto aos poderes executivos desde os alvarás de funcionamento até as licenças de funcionamento, de instalação e operação de empreendimentos. Agir junto aos poderes legislativos para criação de leis que incluam os Direitos da Natureza e junto aos poderes judiciários para reconhecer que a vida é um direito para valer e que não há vida sem Natureza equilibrada. Isso é ter compromisso com a vida”.
Segundo Ivan, também é importante optar por formas de produção menos agressivas e não utilizar serviços e produtos advindos de exploração da Natureza, seguindo um estilo de vida mais sustentável.
“Não há vida específica sem a vida em geral. Nós somos a Natureza, não há separação. Se agredimos a Natureza, estaremos nos agredindo. Violentá-la e agredi-la é uma espécie de autoflagelo e de suicídio”.
“Faça uma lista dos nomes que estão envolvidos nas grandes destruições da Natureza no Brasil. Identifique quem polui, quem envenena nossa comida, nossa água, nossos corpos. Quem joga veneno para depois vender remédio. Faça uma lista de quem desmata, quem destrói, quem financia e quem ganha com isso. Perceba as forças econômicas, os agentes econômicos e financeiros que ganham com isso, os grupos políticos que ganham com a passagem da boiada”, afirmou.
Ivan explica que a luta atual pode mudar a realidade e melhorar a vida para todas as pessoas, dos animais e da Natureza como um todo.
“Não há vida específica sem a vida em geral. Nós somos a Natureza, não há separação. Se agredimos a Natureza, estaremos nos agredindo. Violentá-la e agredi-la é uma espécie de autoflagelo e de suicídio”.
Matérias Relacionadas
Newsletter
Aprendendo com Milton Santos: “O futuro é algo que jamais existiu antes”
Aprendendo com Milton Santos: "O futuro é algo que jamais existiu antes"
O geógrafo Milton Santos é um alicerce do pensamento social brasileiro e o Núcleo de Educação Popular da Escola de Ativismo se sentou para conversar com seus textos e ideias
“O futuro é algo que jamais existiu antes. E quando o número de possibilidades concretas aumenta, os futuros possíveis são mais numerosos e ficam mais perto de nós, porque o presente conflitivo é um terreno fértil. É por isso que o discurso ideológico atual é tão violento buscando eliminar todo diálogo. É preciso fazer ver que nada de diferente é possível e que o amanhã será como hoje”.
Milton Santos
Milton Santos foi um gigante das ciências humanas no Brasil e além, um destacado pensador e geógrafo que sentou praça na Universidade de São Paulo. Homem negro, baiano, conheceu o mundo dando aulas em conceituadas universidades do Norte e do Sul do planeta.
Um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, Milton Almeida dos Santos nasceu em 1926, em Brotas das Macaúbas, na Bahia, e faleceu em São Paulo, em 2001, não podendo acompanhar os mandatos iniciais de Lula à presidência da República. Suas maiores contribuições intelectuais foram na Geografia, inicialmente muito influenciado pela Geografia crítica francesa, mas posteriormente buscando novas epistemologias no Sul Global. Realizou estudos inovadores sobre a urbanização do Terceiro Mundo e ficou notadamente conhecido na reta final de sua vida como um crítico assíduo e contundente do processo de globalização nos anos 1990.
Mas a realidade é que seu pensamento reverbera forte ainda hoje.
O que selecionamos a seguir, são trechos de duas longas entrevistas com o pensador realizadas pelas professoras Odette Seabra e Mônica de Carvalho e pelo jornalista José Corrêa Leite, compiladas no livro Território e Sociedade – entrevista com Milton Santos, publicado pela editora Fundação Perseu Abramo em 2000.
Numa dada conferência em meados da década de 1990, organizada pelos estudantes de Geografia e realizada na quadra poliesportiva de uma universidade no interior de São Paulo, Milton Santos assim respondeu a um estudante acerca da ideologia: “A ideologia está nas coisas”, frase que provoca conversas no grupo de geógrafos desde então. Na entrevista, a mesma ideia está mais elaborada: “Somos cercados por coisas que são ideologia, mas que nos dizem ser a realidade”.
Pensador materialista de inclinação marxista, tinha uma visão muito apurada da globalização, que nomeava como globalitarismo, e, em dados momentos da entrevista, parece que está falando exatamente de nosso tempo: “Estou querendo chamar a atenção para o fato de que a atual globalização exclui a democracia. A globalização é, ela própria, um sistema totalitário”.
Ou ainda:
“A competitividade impõe o reino do fugaz, cria uma tensão permanente, que leva a esse atordoamento geral em que vivemos. Essa competitividade, possibilitada pelas atuais condições objetivas, é resultado da perversidade da globalização, e a única solução que parece viável é ir remando também. Quando um jovem opta pela competitividade como norma de vida é sociologicamente possível compreender, porque isso lhe aparece como a única defesa possível num mundo que não é nada generoso. É preciso mostrar-lhe que há outros caminhos, ainda que difíceis ou pouco conhecidos”.
E mais:
“O que seria essa globalização – para fazer uma concessão aos outros – atual? Como sonho, a globalização é antiga, mas, como realidade, ela só começa a mostrar seus primeiros lineamentos depois da Segunda Guerra Mundial. No meu modo de ver, há uma confluência entre novas condições técnicas e novas condições políticas. As novas condições técnicas, que foram permitidas pelo progresso científico, vão trazer algumas novidades. Uma delas é que o planeta se torna conhecido. O rei espanhol Felipe II chegou a dizer, em um determinado momento, ‘no meu Império o sol não se põe’, porque imaginava ter o mundo nas mãos, mas ele não sabia que o mundo era esse”.
E atirava contra o complexo de vira-latas que é tão comum na sociedade brasileira: “Esse é o problema: opor à crença de que se é pequeno, diante da enormidade do processo globalitário, a certeza de que podemos produzir as ideias que permitam mudar o mundo”.
Naquela manhã, a programação havia começado com uma sessão solene no Senado Federal, homenageando a Marcha. No mesmo dia, foi finalmente aprovado o Projeto de Lei que indicava a inclusão de Margarida Maria Alves no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria.
Foi assim, que após 40 anos de um assassinato bárbaro na frente de sua casa, a grande homenageada do encontro teve sua luta em vida por ser mulher, sindicalista e trabalhadora rural que ameaçava os interesses de poderosos, reconhecida. Para além disso, suas sementes se espalharam mais longe do que ela jamais ousou imaginar. A resistência está firmada.
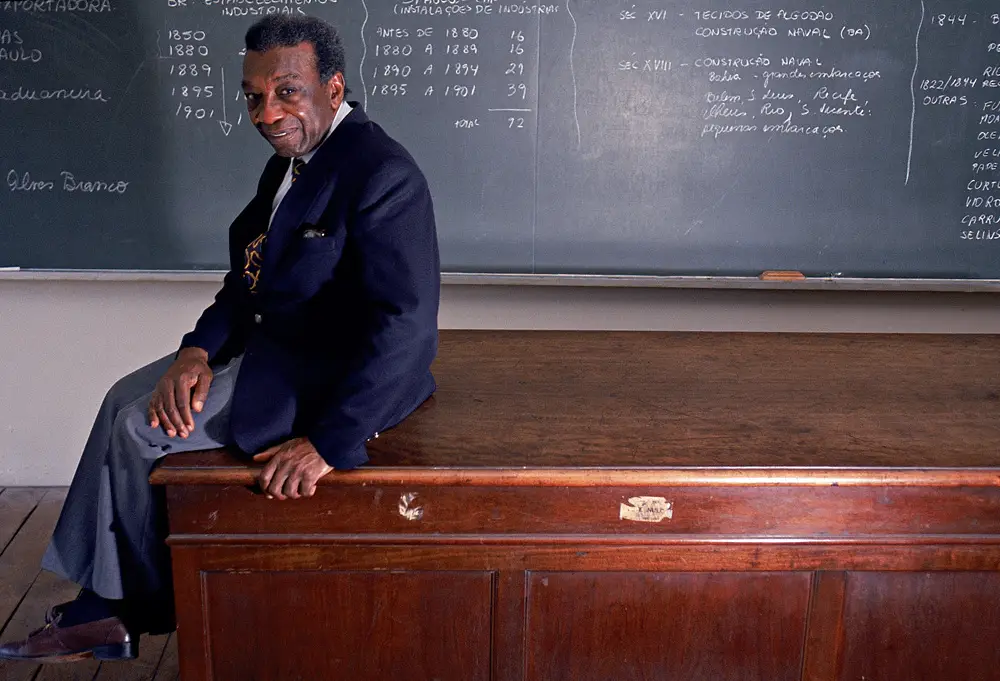
O professor Milton Santos em uma sala de Aula
Foto: Cláudio Rossi/Divulgação
Território & sociedade
Temos aqui uma contribuição importante para pensar o território. “O território, pra mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a partir de seu uso, a partir do momento em que pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam. A globalização amplia a importância desse conceito. Em parte por causa da competitividade, cujo exercício, levando a uma busca desesperada de uma maior produtividade, depende de condições oferecidas nos lugares de produção, nos lugares de circulação, nos lugares de consumo. Quer dizer, há lugares mais apropriados para aumentar o lucro de alguns, em detrimento de outros”.
E aqui, uma contribuição importante para pensar o território e as políticas públicas. Santos apontava como o lucro vai se sobrepondo às populações, num processo no qual o capital privado manda mais do que o Estado:
“Como vemos, há um uso privilegiado do território em função das forças hegemônicas. Estas, por meio de suas ordens, comandam verticalmente o território e a vida social, relegando o Estado a uma posição de coadjuvante ou de testemunha, sempre que ele se retira, como no caso brasileiro, do processo de ordenação do uso do território. Então, sob o jogo de interesses individualistas e conflitantes das empresas, o território acaba sendo fragmentado”.
E defendia que, a análise de um território não pode prescindir das inúmeras visões de quem vive no território:
“Agora, a retificação que ando fazendo é que não serve falar de território em si mesmo, mas de território usado, de modo a incluir todos os atores. O importante é saber que a sociedade exerce permanentemente um diálogo com o território usado, e que esse diálogo inclui as coisas naturais e artificiais, a herança social e a sociedade em seu movimento atual”. Neste ponto, Santos reforça algo que deve estar compreendido nos processos de educação popular, de construção coletiva, de participação popular, de luta territorial que considera os atores e atrizes locais. Ninguém sabe mais do território do que quem habita, vive e está nos territórios.
“Eu creio que isto se dá porque o território mostra todos os movimentos da sociedade. Talvez, por isso, o geógrafo tenha podido perceber primeiro a crise do planeta… Porque nós não temos escolha, somos obrigados a enfrentar todos os movimentos que se dão no território e tentar, bem ou mal, interpretá-los, descrevê-los. Talvez, por isso, a geografia esteja fazendo esses avanços”.
"O território, pra mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a partir de seu uso, a partir do momento em que pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam."
Limites da globalização & apoio mútuo
Milton Santos tinha muito claro a distinção entre espaço urbano e espaço rural — e como cada um atende às demandas do capital globalizado:
“O espaço banal, a horizontalidade, é sempre um limite à globalização. E é por isso que o campo permite uma subordinação maior ao capital do que a cidade que, ao contrário, se opõe à difusão mais rápida e fácil do processo globalitário. O que é curioso é que a intervenção nesses espaços urbanos e metropolitanos é muito mais fácil, mas os estados só querem intervir no outro espaço – o da verticalidade -, porque ele responde ao interesse do capital e seu mando pode se impor no campo com menos resistências”.
Apesar da voracidade do processo globalitário, o eminente geógrafo confiava muito na potência dos de baixo para constituir pontos de oposição ao capitalismo globalizado, sobretudo dos que vivem no que era chamado de Terceiro Mundo, com seus desejos que não são compatíveis com as demandas de quem busca lucro a qualquer custo:
“Há um centro de estudos da violência na USP ao qual devemos boas análises. Mas deveria ser criado também um centro de estudos sobre a solidariedade entre os pobres. É evidente que isso não dá manchete, mas poderíamos compreender melhor as diferentes formas de ajuda mútua, assim como saber de que modo repercute a produção de um discurso que escapa à indústria cultural mas que é cultura. Tudo isso poderia ser objeto de preocupação e ajudaria na produção de um outro discurso mais consistente e politicamente eficaz”.
“É que no local tem-se a obediência e a revolta. Há sempre as duas coisas. Evidente que há a cultura de massas, que está presente em todas as partes, mas existe também a cultura popular que renasce a cada momento, porque há uma produção de pobreza permanente. A cada vez a pobreza fica maior, e mais numerosos os objetos e os desejos, para usar uma expressão psicanalítica…. O lugar geográfico é também o lugar filosófico da descoberta, porque nele se batem forças contraditórias. Há, de um lado, os que buscam o lucro a todo custo e se apropriam dos pontos mais vantajosos e há todos os demais, mais ou menos afetados por uma situação que desejam modificar para melhor”.
Podemos pensar obediência e revolta como forças de conservação e forças de transformação. Forças que querem manter as coisas como estão, e forças que querem mudar a realidade das coisas, querem revolucionar. São forças sempre presentes e em permanente tensão. Interessante também para nós, ativistas, pensar o lugar geográfico como o lugar da descoberta, o lugar onde não se sabe e isso representa o exato momento onde novos saberes podem ser produzidos.
Novidades do Terceiro Mundo
“Não creio que a Europa ou os Estados Unidos possam nos dar nada de bom nesse sentido. Não imagino que possa haver uma mudança histórica profunda e válida vinda dos Estados Unidos ou da Europa. Virá dos pobres, dos ‘primitivos’ e ‘atrasados’, como nós, do Terceiro Mundo, somos considerados. São os pobres os detentores do futuro. O problema de todas as épocas é saber como vai se dar essa ruptura. E as rupturas se deram antes que todos soubessem como elas iam se dar… Os que, em épocas anteriores, pensavam na possibilidade da mudança também podiam ser tidos como otimistas ou visionários. Acho que a diferença, hoje, vem do conhecimento das condições materiais que já estão presentes, muito mais fortemente presentes”.
Milton Santos também se coloca diante do que fora descrito pelo crítico cultural britânico Mark Fisher, de que seria mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo:
“O futuro é algo que jamais existiu antes. E quando o número de possibilidades concretas aumenta, os futuros possíveis são mais numerosos e ficam mais perto de nós, porque o presente conflitivo é um terreno fértil. É por isso que o discurso ideológico atual é tão violento buscando eliminar todo diálogo. É preciso fazer ver que nada de diferente é possível e que o amanhã será como hoje”.
"O lugar geográfico é também o lugar filosófico da descoberta, porque nele se batem forças contraditórias. Há, de um lado, os que buscam o lucro a todo custo e se apropriam dos pontos mais vantajosos e há todos os demais, mais ou menos afetados por uma situação que desejam modificar para melhor".
Neoliberalismo & poder do dinheiro
Para o geógrafo baiano, o neoliberalismo é um projeto muito claro de poder do capital privado, que independe das vontades das populações, contribuição significativa para pensar os ativismos:
“A retirada do Estado do processo de regulação da economia, dada como sendo um benefício para a sociedade, está, de fato, relacionada com a possibilidade de a empresa comandar a sociedade, porque é ela que acaba comandando a vida social, com o apoio das instituições internacionais e, em certos casos, como no Brasil, também com o apoio do Estado”. O que diria Milton Santos quando, em 2021, o Congresso Nacional aprovou a autonomia do Banco Central do Brasil? Aliás, autonomia do governo eleito pela maioria do eleitorado brasileiro e, do outro lado da mesma moeda (trocadilho proposital) apresenta a face mais real da dependência do mercado financeiro.
O dinheiro, o “déspota mais tirânico”, tem lugar central em suas análises e teorias, e é compreendido de formas distintas de acordo com sua distinção geográfica:
“O dinheiro comparece na minha análise, junto com a informação, como um grande tirano ideológico. Porque afinal ele se torna, de fato, o equivalente universal. Antes de universal, em potência, era universal em relação às coisas que se vendiam. Hoje, a produção do valor antecede ao uso, o que é outra característica da globalização, o uso deixou de ser o que induz ao valor. Então, o papel do dinheiro também mudou de natureza e hoje ele é um ingrediente da produção tout court e dessa produção ideológica do mundo, e tem um papel formidável, extraordinário, no processo globalitário. O dinheiro é o déspota mais tirânico”.
“O dinheiro de uma pequena cidade na Amazônia não é o dinheiro paulistano. Aqui nós temos quantos derivativos? São Paulo tem dezenas de tipos de dinheiro, e em muitos lugares só há, mesmo, o dinheiro-dinheiro, quer dizer, aquele dinheiro que é dinheiro moeda. Impõe-se esse tipo de análise sobre a distinção geográfica do dinheiro, para conhecer melhor, por exemplo, como as diversas modalidades de dinheiro entram no tecido de cada grupo social, dentro da sociedade territorializada. Isso tem que ser feito e será feito quando o homem passar a ser central na preocupação dos políticos e da política e não apenas o dinheiro…”
Ideologia, teoria & utopia
Milton Santos via a ideologia capitalista impregnada nas mercadorias produzidas por ele como nunca visto antes, assim como há ideologia na própria caracterização dos territórios:
“A minha impressão é que o mundo de hoje produziu algo extraordinário, esses objetos que já nascem carregados de ideologia. Outra coisa a assinalar é que as próprias situações são ideologia, quer dizer, dão-se como ideologia: ‘o bairro perigoso’, a ‘favela assassina’, o ‘bairro residencial’. O discurso da chamada realidade já é ideológico”.
Assim como as soluções oferecidas pelo neoliberalismo que produz o sujeito consumidor de mercadorias: o shopping center, o condomínio fechado, o pacote turístico, as formações enlatadas, os aeroportos e as farmácias cada vez mais parecidas com os shoppings.
Para ele, a boa teoria não prescinde de uma boa utopia, e via como um obstáculo para construirmos uma utopia viável em nosso tempo a tomada de pontos de vistas europeus e estadunidenses:
“Toda teoria é, pois, embrião de uma utopia. Quando se exclui a utopia, nós nos empobrecemos imediatamente. O próprio ofício de teorizar pressupõe uma utopia. As épocas que subestimam a utopia são épocas de empobrecimento intelectual, ético e estético”.
“A utopia deve ser construída a partir das possibilidades, a partir do que já existe como germe e, por isso, se apresenta como algo factível. Acho que é isso que vivemos hoje. Mas há um obstáculo que é nosso modo de pensar, europeu, ocidental. O problema é que pretendemos pensar tudo a partir de uma epistemologia europeia, e agora, norte-americana. Então, ficamos prisioneiros de modelos exógenos e também pessimistas, o que é a marca do Ocidente. A ruptura com esse modo de pensar me parece necessária e urgente”.
“E nessa vontade de mudança, que inclui a utopia. ‘Nada é impossível’. ‘É proibido proibir’. E hoje somos ridicularizados quando pretendemos ser utópicos. Mas isso está ligado à globalização. Temos que tentar romper com esse círculo terrível para restaurar a utopia, que afinal pode ser científica, como uma crise de alguma forma prevista”.
O local como ponto focal
Por fim, gostaríamos de compartilhar a posição de Milton Santos sobre o povo e sobre a importância do dado local em detrimento do global:
“O povo como sujeito é também o povo como objeto, sobretudo ao considerarmos o povo e o território como realidades indissoluvelmente relacionadas. Daí a necessidade de revalorizar o dado local e revalorizar o cotidiano como categoria não apenas filosófica e sociológica, mas como uma categoria geográfica, territorial. Como fazer o que nunca foi feito, isto é, introduzir o local na política de forma menos aleatória, voluntarista ou oportunista? A verdade é que ninguém jamais deu bom-dia ou se encontrou com a sociedade total de um país, uma enteléquia que vive apenas nos livros. Na vida de todos os dias, a sociedade global vive apenas por intermédio das sociedades localmente enraizadas, interagindo com o seu próprio entorno, refazendo todos os dias essa relação e, também, sua dinâmica interna, na qual, de um modo ou de outro, todos agem sobre todos”.
Falecido em 24 de junho de 2001, Milton Santos não usou o Instagram, Facebook, Tiktok, os aplicativos de conversa instantânea, usos cotidianos da internet na palma da mão e tudo o que isso significa em termos de modo de vida e produção de subjetividade. Mas acreditamos que suas reflexões são um potente antídoto para mentes cansadas de telas e em busca de outras utopias e construções possíveis.
Matérias Relacionadas
Newsletter
Newsletter
Mais recentes
E se você quisesse fazer um projeto de lei acontecer?
E se você quisesse fazer um projeto de lei acontecer?

Aulas perdidas, momentos interrompidos, notas tristes. O início do meu ensino médio na Escola Politécnica da Fundação Oswaldo Cruz, localizada em Manguinhos, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, foi um tanto conturbado. Imaginei, de início, que por ser uma escola federal difícil de ser admitida, problemas externos também não chegariam até lá tão facilmente. A tola Vitória de 14 anos de idade estava completamente enganada, isso por dois motivos: (1) acreditei que pela escola ter uma infraestrutura excelente, a violência não seria uma questão; (2) pensei que os problemas lá de fora não fossem uma questão por passar o dia inteiro lá, de 8h às 17h.
O triste dessa história é que não rolou apenas uma ou duas, mas várias vezes das minhas aulas serem interrompidas por conta de operações policiais contra o tráfico de drogas da região. A coisa é que 2019 não foi nem o pior ano de interrupções de aulas lá na escola, mas o choque foi grande, já que foi o ano que entrei. Logo no meu primeiro dia, durante a Semana dos Calouros, a gente teve que ficar no auditório para além do esperado para ninguém acabar ferido por bala. Ao menos duas vezes um ônibus da Fundação levou eu e meus colegas para a estação de trem mais próxima, visto que a gente não poderia pegar o trem em Manguinhos. Isso porque, além do ramal Gramacho ter as suas operações paralisadas, a estação é elevada e toda aberta. Até julho, Manguinhos foi a parada que mais sofreu com tiroteios, contando com 18 paralisações.
Naquele ano, segundo o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, 74% das escolas públicas da rede municipal de educação do Rio de Janeiro tiveram ao menos um tiroteio em seu entorno, todos estes com o envolvimento de agentes de segurança pública. Estava tudo muito difícil e eu sentia que pouco poderia mudar, só que vi um bonitão (um alô para o Tiago Lopes Marques caso ele esteja lendo isso) da minha escola, em pleno segundo ano do ensino médio, fazer um Projeto de Lei (PL) que definia requisitos básicos para que alguém assumisse o cargo de gestor de uma unidade do Sistema Único de Saúde. Aquilo fez muito sentido pra mim, ainda mais se tratando de alunos do curso técnico de Gerência em Saúde, uma área tão necessária, mas tão desvalorizada.
Sabendo daquilo, eu resolvi que era hora de eu também tentar fazer um projeto e, como o Tiago, ser deputada jovem. O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) seleciona jovens de todo o Brasil, de escolas públicas e privadas, para vivenciar uma jornada parlamentar de uma semana. Tudo o que precisava para passar era redigir um Projeto de Lei e fazer ele ser bom ao ponto de representar o meu estado lá. Demorou um tempo pra me tocar, mas percebi que a violência não poderia continuar daquele jeito. Por isso, procurei meus professores do ensino técnico de Direito Administrativo e Legislação, e até mesmo uma galera do Ministério Público e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Essa procura também me levou a ser ativista.
Foi assim que eu me tornei parlamentar jovem. Cinco meses antes do processo seletivo ser aberto, o meu Programa de Redução dos Impactos da Violência Urbana nas Escolas já estava rolando e foi selecionado. Por conta da Covid-19, não viajei, mas fui selecionada por algo que escrevi. A ideia era trabalhar o socioemocional de jovens que, como eu, fossem afetados pela violência urbana ao redor das nossas escolas. Hoje em dia, com toda a certeza, eu não acho que essa seja a solução porque trata a consequência e não a causa. Por causa disso tudo, quero falar do que aprendi até agora e porque isso é importante para se firmar enquanto ativista.
O que deve-se levar em consideração ao fazer um projeto de lei federal, afinal?

1. Não faça o que já existe
Se você quer gastar a sua energia ativista fazendo um Projeto de Lei, certifique-se de que não existe nada parecido. Através do site da Câmara dos Deputados você consegue pesquisar o que já está em vigor ou em processo de tramitação filtrando o tema, autor e até mesmo o ano. Detalhe: está atualizado com tudo que veio depois de 1946. Através do e-Cidadania (agora falando do Senado), também é possível verificar o banco de Ideias Legislativas, que acontece para você propor e apoiar ideias para novas leis. Ao receber 20.000 apoios, a ideia se tornará uma Sugestão Legislativa, e será debatida pelos Senadores. Se o seu rolê já é real, investigue a não-execução disso ou se não cabe uma emenda, beleza?
2. Lembre-se que não é um projeto municipal ou estadual
Nem sempre o que acontece na sua cidade acontece em outras partes do seu estado e em outras regiões. É sempre importante refletir sobre a territorialização do seu projeto. Para ele acontecer, precisa ser exequível e ter relevância nacional, ou seja: precisa atender as necessidades da população brasileira, e não carioca, por exemplo. Para que você não caia no erro, lá vem o próximo ponto!
3. Dados são importantes
Não é possível escrever um PL tendo como referência as vozes da sua cabeça. Por isso, faça uma pesquisa e análise prévia sobre o que você deseja fazer. Quando o seu texto da lei está redigido, ainda é preciso defender a sua proposição através da justificativa. No momento em que decidi o tema do meu projeto para o PJB, por exemplo, não imaginava que um pouco mais da metade dos alunos do nono ano de escolas públicas brasileiras estudam em locais considerados como de risco de violência armada. Se não existem dados sobre o assunto, é válido formular uma pesquisa. Quando eu era presidente do Girl Up Nise da Silveira, protocolamos um PL na Assembléia Legislativa do Rio sobre assédio sexual nas escolas. Fizemos uma pesquisa para descobrir mais sobre essa realidade e o resultado foi usado na nossa justificativa.
4. Etapas com boa estruturação
A eficácia do seu projeto também depende da abrangência alinhada com a especificidade dele. É um problema que vai além do seu estado? Ótimo. Agora, é hora de pensar como ele vai funcionar depois da aprovação. É necessário incluir quem vai fiscalizar a sua lei, quem vai executá-la, incentivos ou punições, especificar se precisa ou não de recursos financeiros e de onde essa grana vai ser obtida e em quantos dias são necessários para que entre em vigor. Se você está sem tempo, é possível aprender com a própria Câmara dos Deputados de forma bem rápida.
5. Converse com atores da sociedade ativista-civil
É importante validar a necessidade de resolução do problema que está sendo tratado junto com junto com as pessoas impactadas. Além disso, quando você não chega com tudo pronto e aberta ao diálogo, promove a construção coletiva dessa ideia e assim gera um sentimento de pertencimento. Não é possível fazer um PL acontecer sem essa articulação e colaboração. Assim como toda solução é coletiva, o problema que você trata não foi gerado por uma pessoa ou uma organização só. Quanto mais gente você envolve, melhor.
6. Só contar com o que você já sabe não ajuda
Mas Vitória, o que você quer dizer com isso? Que você tem que estudar, oras. Ativismo não é bagunça, muito pelo contrário: por isso escrevo para a Escola de Ativismo. Aqui tem muito conteúdo legal para você aprender a se organizar. Praticar incidência política (também conhecido como advocacy) também requer que você leia, escreva, estude, escute. Quando você se educa e começa a entender o que funciona e o que não funciona, consumindo conteúdo ativista, percebe que a aprendizagem teórica é fundamental. Na escola aprendi o que é práxis, que é a união entre a teoria e a prática. É importante nas nossas iniciativas de impacto social também, viu?
7. Convencer é vencer
Tudo que eu tô falando aqui se conecta. Se você aprende que é importante estudar, também vai ver como a negociação importa. Além de articular uma rede de pessoas que apoiam a sua ideia, a parte principal é ter parlamentares junto contigo para defenderem o teu rolê dentro do Congresso. Por isso, busque ter contato com aqueles que têm ideais e causas que se conectam com a sua. Mas para além disso, busque conhecer como aquele gabinete funciona. Existem declarações de apoio que, por falta de transparência e colaboração, acabam indo para o ralo. É importante manter-se em constante contato com os parlamentares que estão contigo, visto que tem muita coisa rolando pra eles também. Pense também que é fundamental para ações futuras!
8. Comunicar é alcançar
Para além de contar com a sua rede de apoio ativista, você também precisa de atenção. Seja através de audiências públicas, eventos gratuitos ou lambe-lambes, é necessário sensibilizar a sociedade como um todo para que ela se preocupe com o seu tema. Na conversa no metrô ou no pingado diário consumido na padaria da esquina, a galera precisa estar atenta e preparada para saber sobre a sua causa. Confie no olho a olho, principalmente: desde que o mundo é mundo, é o que fazemos de melhor.
9. Prepare-se para os flashes
Quer amplificar ainda mais? Desenvolva uma apresentação para a mídia de forma convincente e rápida. Não tenha medo de pegar o telefone para uma ligação ou enviar e-mails com o intuito de fazer com que a sua pauta seja vista por muita gente em um alcance grande. É importante ressaltar que qualquer forma de mídia importa. Seja a tradicional ou a alternativa, o jornal de circulação diária ou a página de notícias do Facebook, conte com quem está disposto a te amplificar.
10. Bota a ideia pra jogo!
Como você vai fazer com que essa construção chegue ao Congresso Nacional? Da Comissão de Legislação Participativa? Através de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular? Veja o que pode ser mais fácil, mais agregador, urgente e necessário para a sua causa como um todo. Um projeto de lei a nível federal não é uma coisa pequena: é grande pra caramba! Utilize desta ação para gerar oportunidades para a sua iniciativa, viu?
A minha paixão por política começou a partir de um problema na minha escola e, desde então, não me vejo fazendo outra coisa senão a promover ativismos. Esse texto pode ter ausência de muita coisa importante, mas só tenho 18 anos: por isso seguirei estudando e colocando em prática. Ao longo do tempo, quanto mais for aprendendo, mais vou compartilhando, ok? Com 15 anos fiz isso por conta de um programa da Câmara, mas existem outros que você pode e deve ocupar e explorar, além de exercer o seu direito de participar da atividade legislativa.
Adianto que o meu projeto de lei não rolou e atualmente digo que não deveria mesmo ter sido, já que não o enxergo mais como uma solução. Entretanto, a escrita dele fez com que eu me apaixonasse tanto pelo interesse de ajudar a lidar com a segurança pública usando Políticas Informadas por Evidência, que agora termino o meu ensino médio com uma iniciação científica sobre a expansão das milícias no Rio de Janeiro e a sua relação com o direito à cidade, capitalismo, racismo e necropolítica. Começar a investigar problemas como esse certamente vão me ajudar no futuro a ter o estado que sempre sonhei ver pra viver.
Fazer esse texto também só me deixa ainda mais apaixonada pela possibilidade de algum dia atuar na política institucional. Espero que você tenha curtido essa ideia de fazer um projeto porque, afinal, muita coisa pela qual a gente luta já deveria existir e estar aí para a gente. Sigamos, então, construindo redes, se educando e revolucionando como sementes da justiça social.
—
*Vitória Rodrigues (18) é estudante do ensino médio técnico de Gerência em Saúde na EPSJV e estagiária do Instituto do Fernandes Figueira, ambos da Fiocruz. É do Grêmio Politécnico há 3 anos e representou a instituição no modelo diplomático da Harvard University. Pesquisou com o professor da UFRJ Daniel Campos os caminhos para o fortalecimento econômico das milícias no Rio de Janeiro com olhar para a necropolítica. Fundou o projeto de educação de impacto social Ini.se.ativa, constrói a A(tua) Meriti e já foi orgulhosamente de muitos outros projetos, como o Engajamundo, Girl Up e da campanha Cada Voto Conta do NOSSAS. Foi Parlamentar Jovem Brasileira, Jovem Embaixadora dos EUA e vencedora do Prêmio Mude o Mundo como uma Menina. Atualmente é bolsista do Opportunity Funds Program do EducationUSA, do Departamento de Estado dos EUA. É, acima de tudo, colunista e poeta, porque lutar tanto sem se expressar é impossível.
TEXTO
Vitória Rodrigues de Oliveira
Newsletter
Mais recentes
Como redes de desinformação têm destruído o meio ambiente e o que podemos fazer
Como redes de desinformação têm destruído o meio ambiente e o que podemos fazer
Entrevistamos a pesquisadora Lori Regattieri para entender o impacto de notícias falsas e redes de desinformação na destruição da Amazônia e na formulação de políticas públicas

“A maioria das pesquisas sobre desinformação se concentra nos impactos sobre pessoas brancas”, diz Regattieri
Foto: Mídia Ninja
Em abril deste ano, o Intervozes, em parceria com outras organizações, lançou o relatório “Combate à desinformação sobre a Amazônia Legal e seus defensores”, que identificou a criação de veículos hiperpartidários disfarçados de organizações de notícias locais como uma das principais estratégias de difusão de informações falsas na região, motivadas principalmente por interesses políticos ou econômicos específicos.
Segundo dados do relatório, existem pelo menos 70 páginas que se dedicam a espalhar fake news nas redes atuando na área da Amazônia Legal e com potencial para impactar a relação dos moradores com a floresta.
Não é de hoje que a Amazônia vem sendo palco de uma luta de narrativas: de um lado a importância da sua preservação para o ecossistema global e para os povos que nela habitam, e na outra ponta a sua exploração e consequente destruição em prol de um falso progresso a partir do discurso ruralista, de extrema-direita e do falacioso desenvolvimento econômico.
Quem lança luz sobre esse cenário é Lori Regattieri, pesquisadora, consultora em tecnologias justas e sustentáveis e fundadora da plataforma Eco-mídia, projeto que se dedica ao desenvolvimento de pesquisa, protocolos técnicos, práticas comunitárias e à construção de tecnologias e aplicações úteis às comunidades que sempre estiveram historicamente à margem, a partir de estudos relacionados à tecnologia, plataformas de mídia e justiça ambiental e climática.
Escola de Ativismo: Como a desinformação se configura como uma questão relevante na interseção entre tecnologia, comunicação política e meio ambiente?
Lori Regattieri: Isso acontece devido à sua profunda influência na formação da opinião pública, na intensificação da desordem informacional e na manipulação de narrativas que afetam diretamente a agenda política e as políticas ambientais.
Por exemplo, a desinformação pode ser usada para justificar políticas e flexibilizar legislações que prejudicam o meio ambiente, a floresta e as pessoas que habitam os territórios assediados pela ganância da exploração em nome da monocultura e das expulsões para instalação de grandes projetos de infraestrutura. Através da propagação de narrativas falsas, atores políticos e econômicos podem minar os esforços de conservação, restauração e de respeito aos direitos territoriais dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.
E ela não se limita apenas à comunicação de mensagens falsas: envolve a manipulação das intensidades emocionais e psicológicas das pessoas. A desinformação pode explorar o desejo, o medo e outras emoções para alcançar seus objetivos. Não é suficiente analisar a desinformação apenas do ponto de vista da lógica e da razão; é preciso entender como ela se conecta com os desejos e impulsos emocionais das pessoas.
Precisamos formar uma aliança nesse tripé tecnologia, comunicação política e meio ambiente para fortalecer a pesquisa acadêmica sólida sobre campanhas de desinformação que visam impactar comunidades locais, ribeirinhas, extrativistas, indígenas, negras, como o ceticismo sobre a vacina e a campanhas de difamação contra organizações informando sobre propriedade coletiva da terra.
“[A desinformação] envolve a manipulação das intensidades emocionais e psicológicas das pessoas. A desinformação pode explorar o desejo, o medo e outras emoções”
A maioria das pesquisas sobre desinformação se concentra nos impactos sobre pessoas brancas, propondo soluções enviesadas por preocupações de classe e raça projetadas na pouca diversidade de pesquisadores. Isso destaca a necessidade de uma análise mais equitativa e inclusiva de incentivos para a pesquisa em propaganda, manipulação e desinformação que leve em consideração as experiências e práticas informacionais de grupos e regiões específicos em fenômenos desinformativos que não se enquadram nos impactos tidos como universais.
EA: De que maneira você enxerga que a disseminação de informações falsas sobre questões ambientais pode resultar em riscos significativos para os ecossistemas brasileiros, em especial a Amazônia?
LR: Isso ocorre devido à manipulação da opinião pública e à influência nas decisões políticas que afetam a conservação ambiental. Examinando casos específicos, como a campanha para instalação do projeto de Belo Monte e o negacionismo climático no Brasil, podemos identificar como essas práticas têm prejudicado o meio ambiente e a vida das pessoas.
A campanha para influenciar apoio para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu, no Pará, oferece um exemplo claro de como informações distorcidas podem ser usadas para justificar ações prejudiciais ao meio ambiente e às pessoas, grupos e comunidades diretamente afetadas por grandes projetos de energia e infraestrutura. Esse empreendimento enfrentou uma oposição significativa devido aos impactos ambientais que trouxe, incluindo o desmatamento, a perturbação dos ecossistemas aquáticos e ameaças às comunidades indígenas e tradicionais.. A construção de Belo Monte resultou ainda em um aumento significativo do desmatamento nas terras indígenas próximas, superando a média de desmatamento em toda a Amazônia.
Sobre o negacionismo climático no Brasil, especialmente entre grupos ligados ao agronegócio, tenho monitorado como a propaganda desinformativa favorece a perpetuação de práticas prejudiciais ao meio ambiente e a flexibilização de mecanismos regulatórios.
O relatório “O agro não é verde”, fruto da parceria entre o observatório “De Olho nos Ruralistas” e a ONG Fase, revela detalhes dessa influência do agronegócio nas políticas ambientais do Brasil. O estudo mapeou 49 organizações do agronegócio e destacou como treze delas participam ativamente no lobby ruralista em Brasília, por meio do Instituto Pensar Agro (IPA), um dos principais braços logísticos da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Apesar das diferenças ideológicas, todas elas participam ativamente na promoção de uma agenda legalista e ideológica que muitas vezes ignora os desafios socioambientais enfrentados pelo país.
Essa influência do agronegócio nas políticas ambientais é preocupante, uma vez que o Brasil quer ser um exemplo na redução de emissões de carbono, com a agropecuária brasileira representando uma parcela significativa dessas emissões. O agronegócio, ao negar ou minimizar a importância das mudanças climáticas, contribui para agravar os desafios ambientais e sociais enfrentados na Amazônia Legal.
EA: Quem está na vanguarda do atraso das políticas ambientais no Brasil? Quem comanda esse projeto hoje?
LR: Os ruralistas estão constantemente na linha de frente do ataque aos direitos socioambientais e aos avanços civilizatórios, frequentemente em aliança com outras bancadas, como a bancada da bíblia e a bancada da bala.
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), popularmente conhecida como bancada ruralista ou do boi, representa praticamente metade dos parlamentares com cadeiras no Congresso Nacional. Um dos principais objetivos da FPA é desmontar as políticas ambientais e indígenas prometidas pelo novo governo, ainda durante a campanha eleitoral, para combater o desmatamento e promover a demarcação de terras dos povos indígenas ameaçados de extinção no governo anterior. Essas políticas, particularmente relevantes para a proteção da Amazônia e dos territórios indígenas, são frequentemente alvo de oposição e resistência por parte dos ruralistas.
Os ministérios mais afetados com a reformulação dos ministérios [em julho deste ano] foram o Ministério do Meio Ambiente, que no governo Lula tem atuado na preservação ambiental e na fiscalização contra o desmatamento, e o Ministério dos Povos Indígenas, responsável pela demarcação de terras indígenas e pela proteção dos direitos dos povos originários. As políticas desses ministérios costumam colocar obstáculos ao desmatamento na Amazônia, o que entra em conflito com os interesses dos ruralistas, que buscam abrir novas frentes agrícolas na região. Precisamos mencionar também a invasão das terras indígenas por frentes do crime organizado, como garimpeiros, uma questão crítica. Os ruralistas também têm interesse nisso pois veem essas terras como oportunidades para expansão da agropecuária, muitas vezes associada a atividades ilegais que causam impactos devastadores para o território e na vida dos povos indígenas.
A desinformação socioambiental é frequentemente disseminada por interesses comerciais e políticos que negam as mudanças climáticas ou minimizam sua gravidade, cria confusão e ceticismo entre o público em geral. Isso resulta em uma divisão na sociedade, com parte da população duvidando da existência das mudanças climáticas e da necessidade de ação urgente.
EA: No contexto das mudanças climáticas e da justiça climática, como essa política da desinformação pode comprometer os esforços de mobilização e conscientização?
LR: A desinformação socioambiental é frequentemente disseminada por interesses comerciais e políticos que negam as mudanças climáticas ou minimizam sua gravidade, cria confusão e ceticismo entre o público em geral. Isso resulta em uma divisão na sociedade, com parte da população duvidando da existência das mudanças climáticas e da necessidade de ação urgente. Esse divisionismo é frequentemente explorado por grupos e líderes que têm interesses na continuação das práticas prejudiciais ao meio ambiente, como a exploração insustentável dos ecossistemas e contínuo aumento nas emissões de gases de efeito estufa (GEE).
Isso também prejudica a mobilização da sociedade civil e a conscientização sobre a importância da justiça climática. Quando informações errôneas são disseminadas, aqueles que estão buscando criar uma mudança positiva muitas vezes têm que gastar tempo e recursos consideráveis desmentindo falsidades e educando o público sobre os fatos científicos reais. Isso desvia o foco das ações concretas necessárias para lidar com as mudanças climáticas e cria um ambiente de desconfiança em relação à informação legítima.
As comunidades vulneráveis muitas vezes são as mais afetadas pelos impactos das mudanças climáticas, mas a desinformação pode fazer com que não reconheçam a gravidade desses impactos ou as ligações entre suas lutas locais e as questões climáticas globais.
EA: Quais são os desafios na promoção da justiça climática no Brasil hoje, em um cenário que herda uma política da desinformação já extremamente consolidada?
LR: Um dos desafios é reconhecer e abordar a desigualdade racial em relação às mudanças climáticas. No Brasil, as comunidades negras, afro-indígenas, indígenas e quilombolas são frequentemente as mais afetadas pelos impactos ambientais, como desmatamento e degradação de terras, poluição e eventos climáticos extremos. Essas comunidades, historicamente marginalizadas, têm menos recursos para se adaptar ou se recuperar desses desastres ambientais. No caso da relação entre questões raciais e classe, as políticas públicas de infraestrutura e saneamento precisam considerar esses efeitos desproporcionais em regiões urbanas, ao passo que localmente a informação também precisa ser valorizada como um dos pilares da cidadania.
Outro desafio crítico no contexto brasileiro é o histórico de concentração midiático e a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Ao longo dos anos, poucos grupos detiveram o controle da maior parte dos veículos de comunicação do país, o que resultou em uma narrativa muitas vezes unificada e alinhada a interesses específicos. Esse oligopólio midiático contribuiu significativamente para a disseminação da desinformação, uma vez que a diversidade de perspectivas e vozes foi suprimida, tornando mais difícil o acesso a informações precisas e equilibradas sobre questões ambientais e climáticas.
Conectar a justiça climática à questão racial é fundamental para garantir que as respostas adequadas sejam formuladas. Uma abordagem inclusiva deve incluir a promoção do protagonismo de povos indígenas e quilombolas na busca de soluções, aproximando o debate sobre as soluções das comunidades mais afetadas no contexto das periferias urbanas.
EA: O combate à desinformação também envolve o fortalecimento da educação e conscientização da sociedade. Como a colaboração entre sociedade civil, movimentos sociais e pesquisadores pode fortalecer a luta contra o negacionismo climático e a desinformação ambiental?
LR: Nenhum ator isolado pode enfrentar eficazmente a desinformação socioambiental. Governos, organizações da sociedade civil, acadêmicos, jornalistas e empresas de tecnologia devem trabalhar juntos para compartilhar recursos, conhecimento e estratégias.
A colaboração também pode ajudar a evitar conflitos de interesses e garantir que os esforços sejam coordenados e eficazes. A descentralização também é importante para garantir que as soluções sejam adaptadas aos contextos locais. As questões socioambientais variam amplamente em diferentes regiões do Brasil, e as soluções devem levar em consideração essas nuances. Além disso, ao descentralizar o combate à desinformação, podemos capacitar as comunidades locais a se envolverem ativamente na promoção da informação e da confiabilidade no conteúdo compartilhado.
“Essa narrativa focava no patriotismo e no crescimento econômico, criando a ideia de que a destruição da floresta, comumente chamada de “inferno verde”, era necessária para o progresso do país.”
EA: Como podemos abordar a desinformação de maneira eficaz quando se trata de questões tão cruciais para o meio ambiente?
LR: Durante a ditadura militar no Brasil, a propaganda desempenhou um papel significativo na moldagem das percepções sobre a Amazônia, contribuindo para o fortalecimento da desinformação socioambiental que persiste até os dias atuais. A propaganda durante esse período glorificou o desmatamento, a exploração do ouro e da borracha, bem como os planos megalomaníacos dos militares para a construção de estradas, como a Transamazônica. Essa narrativa focava no patriotismo e no crescimento econômico, criando a ideia de que a destruição da floresta, comumente chamada de “inferno verde”, era necessária para o progresso do país. Além disso, as narrativas anti indígenas criaram uma imagem negativa das políticas de demarcação de terras indígenas, retratando-as como uma ameaça à soberania do Brasil.
Essas estratégias de propaganda, desenvolvidas durante a ditadura, continuam a influenciar o debate sobre a Amazônia nos dias de hoje. Os ruralistas, agronegócio e militares mantêm uma ligação histórica com essas narrativas, buscando desmantelar as políticas ambientais, enfraquecer as leis e os órgãos de fiscalização e obter ganhos financeiros com a exploração da região.
A disseminação da desinformação socioambiental persiste, criando uma controvérsia artificial em torno das questões ambientais. Essa estratégia é apoiada por uma “engenharia propagandística” que busca minar o consenso científico e criar incertezas sobre as mudanças climáticas e a preservação do bioma que respeite os modos de vida das populações. Além disso, as tecnologias de informação e comunicação são usadas para amplificar essas narrativas, manipulando a opinião pública e generalizando pontos de vista que muitas vezes são uma propaganda da visão mercadológica sobre a natureza e o conhecimento tradicional ligado à sociobiodiversidade.
Para abordar essa propaganda desinformativa, é essencial considerar a regulação das plataformas de mídias sociais, controlando a disseminação de conteúdo enganoso e prejudicial em escala. É preciso considerar também que o avanço da conectividade com infraestruturas de comunicação e informação pode garantir a plena cidadania, permitindo o acesso a fontes confiáveis e diversas de informação.
A esperança reside na capacidade de desafiar e desmantelar as narrativas já consolidadas da desinformação e propaganda, construindo uma ecossistemas de histórias com base na ciência, no respeito ao conhecimento tradicional e na promoção da justiça climática.

Quais os principais passos e como desmascarar essas narrativas e discutir os desafios reais, segundo Lori Regattieri
Regulação das Plataformas de Mídia Social: Uma medida crucial envolve a regulação das plataformas de mídia social, que frequentemente são catalisadoras da disseminação da desinformação em massa. As autoridades regulatórias devem implementar medidas rigorosas para conter a propagação de informações enganosas. Isso inclui a transparência das políticas de moderação de conteúdo, a remoção de conteúdo falso e a responsabilização das plataformas por danos causados pela desinformação.
Valorização da Cadeia de Produção de Informação em Contextos de Desertos de Notícias: Em áreas com escassa cobertura midiática, é essencial valorizar e apoiar a produção local de informações. Isso inclui o fortalecimento de veículos de comunicação independentes e a capacitação de jornalistas locais para cobrir questões climáticas e socioambientais.
Diversidade de Vozes: Promover a diversidade de vozes e perspectivas na discussão das mudanças climáticas e questões ambientais é crucial. Isso inclui dar voz a comunidades afetadas desproporcionalmente por esses problemas, como povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos vulnerabilizados em territórios de contextos urbanos periféricos. Pesquisadores podem apoiar a amplificação dessas vozes e histórias.
Justiça Climática e anti-racismo: A luta contra a desinformação ambiental deve estar ligada à promoção da justiça climática e equidade racial. Isso implica em abordar as disparidades socioeconômicas e raciais em relação às mudanças climáticas e garantir soluções equitativas. Pesquisadores podem contribuir com análises sobre essas disparidades, inclusive na pesquisa em comunicação, enquanto a sociedade civil pode fazer campanhas para pressionar os tomadores de decisão.
Matérias Relacionadas
Newsletter
Mais recentes
Ativismo, a palavra – a origem e a disputa pelo sentido do termo
Ativismo, a palavra – a origem e a disputa pelo sentido do termo
Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro afirmava que daria “um ponto final” em todos os ativismos no país. Em maio de 2021, é a vez do delegado Oliveira, que é subsecretário operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, chamar de “ativismo judicial” o conjunto de críticas da sociedade civil organizada em relação à desastrosa operação policial na região do Jacarezinho, que resultou em 28 mortes. São exemplos que dão a tônica de como o assunto é entendido – e reprendido – em nosso país. Evidentemente, diversos grupos e organizações (aqui e aqui, por exemplo), além de algumas vozes na imprensa (aqui e aqui) responderam à bravata. O que é seguro dizer é que a vida do ativista no Brasil, assim como em larga parte do planeta, não é fácil, tolerada ou até mesmo criminalizada.
Críticas não são exatamente novidades. Se dominação, perseguições e desigualdade cortaram a história da humanidade por milhares de anos, a luta contra elas também. Diversos exemplos de revoltas e revoluções ao longo da história representam a necessidade humana de fazer suas próprias escolhas, de se libertar da opressão em todas as formas e também de ter uma voz. É essa necessidade humana que produz @ ativista.
O ativismo encontra respaldo legal no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que “Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui o de não ser incomodado por causa de suas opiniões, o de investigar e receber informações e opiniões, e o de difundi-las, sem limitação de fronteiras, por qualquer meio de expressão”. Além disso, no Brasil, temos dois artigos constitucionais que amparam o ativismo:
“Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente” – Artigo 5° da Constituição Federal.
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” – Artigo 220 da Constituição Federal.
O ativismo – aqui e no mundo
Vale procurarmos as origens do ativismo no mundo para nos aproximarmos dos usos e história do termo no Brasil. Ativismo se refere à ação direta em apoio ou oposição a uma política social ou política de maneira ampla. O Online Etymology Dictionary diz que as raízes da palavra remontam a 1915, quando “ativistas” suecos pediram o fim da neutralidade daquele país na Primeira Guerra Mundial. Há quem diga que os termos “ativismo” e “ativista” foram usados pela primeira vez pela imprensa belga, em 1916, referindo-se ao Movimento Flamingant: que lutava para que fossem reconhecidas oficialmente duas línguas oficiais no país, o neerlandês (ao norte) e o francês (ao sul) – o que aconteceu somente em 1930.

Sufragistas marcham pelo direito ao voto na Inglaterra. 23 de outubro de 1915
No mundo anglo-saxão mesmo há divergências sobre sua origem: as feministas reivindicam as sufragettes na virada do século XX como pioneiras no uso do termo, e uma exposição no Museu da Cidade de Nova Iorque com o título “Nova Iorque ativista” busca origens na luta pela tolerância religiosa na Nova Holanda de 1650 a 1664, incluindo imagens do documento “Flushing Remonstrance”, escrito em 1657 por um grupo de colonos protestantes que se opunham à expulsão dos quacres da cidade.
Com um pouco de imaginação política, poderíamos encarar os abolicionistas ou até mesmo os quilombolas como ativistas avant la lettre no Brasil da mesma forma como no Norte global identificam Espártaco, que liderou uma rebelião de escravos durante o Império Romano como o primeiro ativista da História. Por fim, a diferença de como ativismo é encarado no mundo anglo-saxão e no Brasil é bem exemplificado no verbete “ativismo” na Wikipedia em português e no mesmo termo em sua versão em inglês: enquanto no primeiro é uma breve menção pouco embasada, no segundo é um robusto verbete recheado de hiperlinks.

A morte de Espartacus.
Foto: Gravura de Hermann Vogel
No Norte global, foi somente após o fim da década de 1960, com a erupção de novos movimentos sociais – feminismo, liberação gay, ecológico entre outros – que os ativistas realmente começaram a proliferar. Nos anos oitenta e noventa, o termo já era amplamente utilizado. Esses movimentos sociais realizaram muito em um período de tempo notavelmente curto, muitas vezes desenvolvendo e adaptando técnicas de organização mais antigas, ao mesmo tempo que inventavam procedimentos abertos, democráticos e não hierárquicos.
Os ativistas emergiram a partir do momento em que as pessoas se afastaram do que consideravam ideologias políticas antiquadas e abraçaram identidades radicais que surgiam naquele momento. No rastro dos anos 1960, as pessoas também, compreensivelmente, queriam ser menos devedoras à liderança carismática, que colocava os movimentos em risco de sabotagem quando figuras de proa eram assassinadas; Martin Luther King Jr., por exemplo.

Manifestação pela Amazônia – Lisboa
Caminhos do ativismo no Brasil
A tarefa de um ativista, em um país com pouca tradição em manter seu estado democrático de direito, nunca é simples. O depoimento da ativista ambiental Miriam Prochnow é exemplar sobre este tema:
“Eu sou ativista ambiental. Minha causa é o bem comum, é a conservação da natureza, da qual tod@s somos dependentes. Da qual depende a sobrevivência da espécie humana. Meu lema sempre foi ‘boca no trombone e mão na massa’, denunciando as agressões ao meio ambiente, mas dando exemplos de como as coisas podem ser feitas de forma sustentável e com diálogo.
Nos meus mais de 30 anos de ativismo, encontrei milhares de pessoas que também abraçaram a causa e por conta disso conseguimos inúmeros avanços que garantem qualidade de vida para tod@s e a proteção mínima da biodiversidade. Já recebi inúmeros prêmios de reconhecimento.
Mas também por conta do meu trabalho, já sofri muitas ameaças, inclusive de morte, fui perseguida e até agredida, física e moralmente, por aqueles que se acharam no direito de impedir que a guerreira verde trabalhasse pelo bem comum”.
O ativismo ambiental, não por acaso, é particularmente visado em nosso país. Bolsonaro foi enfático em 2018, quando era ainda candidato à presidência: “vamos acabar com o ativismo ambiental”. Além da perseguição pública, ações como o rompimento com os acordos do Fundo Amazônia, cujo recurso era dividido especialmente entre o Estado, com 60%, e organizações socioambientais, com 38%.
Se o trabalho dos ativistas já era importante antes, o vácuo se torna ainda maior uma vez que o ataque também ocorre sobre a institucionalidade. O corte em abril no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, quebrando inclusive promessa feita por Bolsonaro na Cúpula do Clima, inviabiliza operações de fiscalização pelo país e soa bem coerente com a afirmação de 2018. Os R$ 83 milhões destinados pelo orçamento oferecido estão abaixo dos mínimos R$ 110 milhões essenciais, garante Suely Araujo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama.
Não bastasse as circunstâncias nefastas da atual presidência, vale lembrar que o Brasil é um dos campeões mundiais de assassinatos de ativistas que lidam com a questão ambiental no planeta. País é o terceiro mais letal, segundo relatório da ONG Global Witness, que contabilizou 24 mortes em 2019, quatro a mais que no ano anterior. 90% dos casos ocorreram na Amazônia, onde a destruição de terras indígenas vem se acelerando. A região amazônica inteira assistiu a 33 mortes, 90% delas no território brasileiro. Paulo Paulinho Guajajara, assassinado a tiros em novembro do ano passado no Maranhão, foi um dos casos mais lembrados na região. Ele tinha 26 anos e era uma importante liderança dos indígenas Guajajara. Ainda segundo o relatório, “as políticas agressivas do presidente [Jair] Bolsonaro para estimular a mineração em escala industrial e o agronegócio na Amazônia vêm gerando graves consequências para a população indígena, assim como para o clima global”.
Atividades caracterizadas como “ativismo” no Brasil podem ter suas raízes históricas nas lutas do movimento operário do final do século XIX, por exemplo, mas só ganharam este nome com o surgimento do próprio movimento ecológico e ambientalista, a partir das décadas de 1970 e 80. Entretanto, se o conceito de ativista abarcar figuras históricas como Espartaco, não é possível deixar de fora Zumbi dos Palmares, Cunhambebe – líder das Confederação dos Tamoios – e tantos outros que se organizaram na luta contra a opressão.
Hoje, segundo o Greenpeace, organização mundial que é uma das maiores responsáveis pela popularização do termo, o ativismo é “exercitado em rede e nas redes, ele é o meio em que pessoas praticam sua cidadania política para transformar não só o lugar onde vivem como a si próprias”. Uma boa parte do ativismo no país, por exemplo, muitas vezes recebendo pouca atenção midiática, busca “dar voz às pessoas invisíveis” e fatalmente são os que estão sujeitos a sofrerem violências múltiplas. E há quem critique o termo para além dos inimigos conservadores.
Crítica e autocrítica
Há quem critique o termo ativismo/ativista porque “contestar o poder não é um hobby ou uma subcultura – é um projeto coletivo que permeia todas as facetas de nossas vidas”, lidando com um aspecto individualista associado ao termo ou porque “ativistas são tipos que, por alguma peculiaridade de personalidade, gostam de longas reuniões, gritar slogans e passar uma ou duas noites na prisão” ou ainda porque “parecem saborear sua marginalização, interpretando seu pequeno número como evidência de sua especialidade”. Mesmo dentre os anarquistas, tão associados ao ativismo, há críticas contundentes, como a que diz que o ativismo “por sua composição ideológica e organizativa, e procedência de classe, tende, em determinado momento do seu desenvolvimento, a se converter num verdadeiro obstáculo à luta revolucionária e a resistência da classe trabalhadora” e que em razão de suas predileções de classe média, tende a “a formação de uma contracultura sectária fechada em si mesma, inútil para as lutas dos trabalhadores”.
Em alguns casos, o uso da palavra militante é preferível por muitos grupos – lembrando que esse próprio termo também é alvo de críticas por sua origem e correspondência com a ideia de forças armadas e guerras – que veem no ativismo um “nome importado”.
A questão, talvez, seja compreender que termos como democracia, anarquia e ativismo estão vivos e passando por constantes transformações. Lideranças indígenas como Sônia Guajajara afirmam “as pessoas me perguntam como me descobri ativista. Eu não me descobri. Eu nasci. Sempre fui de luta”, deixando claro que aquelas e aqueles que se identificam com a palavra não correspondem necessariamente ao corte de classe e raça que a palavra pode suscitar por seu uso amplo na Europa e nos Estados Unidos.
Um pensamento de esquerda clássico é de que a prática é o critério da verdade. Se é assim, o real sentido do que significa ser ativista não está no dicionário ou numa enciclopédia. A história é sim importante, mas é no caminhar, no fazer que o ativista e o ativismo se moldam e se declaram. Uns nascem, outros se descobrem, outros se tornam, alguns podem até renegar o termo. Seja como for, é a reflexão, a organização e a ação contra opressões e injustiças o ponto importante que une a todas e todos, independentemente de como se queira nominar.
TEXTO
Velot Wamba e Mario Campagnani
PUBLICADO EM
08/02/2023
Matérias Relacionadas
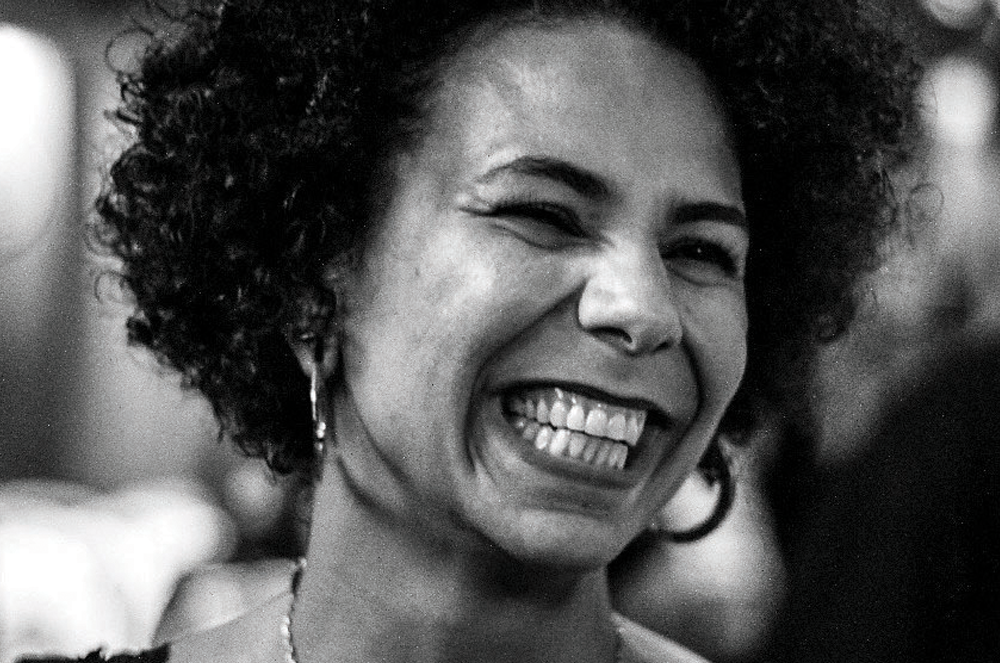

Newsletter
Mais recentes
Participação democrática: como ativistas e a sociedade civil podem pressionar candidatos antes, durante e depois das eleições
Participação democrática: como ativistas e a sociedade civil podem pressionar candidatos antes, durante e depois das eleições
Ações estratégicas e coletivas são essenciais na luta por mudanças e na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Conheça métodos que podem funcionar nas eleições municipais de 2024.

Em um país marcado pela desigualdade, destruição ambiental e violações de direitos humanos, pressionar candidatos nas eleições é uma ação fundamental e democrática. Muitos ativistas podem optar pela via partidária, fortalecendo candidaturas com as quais se identificam. Mas existem outras formas de agir. Por isso, fomos conversar com ativistas mobilizadores da área para pensar como agir com estratégia e coletividade nas eleições e depois dela. Ou seja, como pressionar diversas candidaturas a se comprometerem agendas que valorizam os direitos humanos, o bem viver e o combate à desigualdade.
As pesquisadoras ouvidas pela Escola de Ativismo afirmam que sem apelo e mobilizações da sociedade, o poder público não se movimenta. Mas na hora de pressionar candidatos para obter resultados, o quê, de fato, funciona? Manifestações, rodas de conversa, campanhas, tuitaços, lambe-lambes, abaixo-assinado e carta compromisso são algumas opções. No entanto, existem opções mais eficazes para fazer essas ações.
“Os candidatos e suas campanhas, em período pré-eleitoral, e no eleitoral, estão atentos ao que o eleitor quer. Monitoram redes, lêem jornais, se informam por pesquisas. Nós podemos incidir nesses espaços, mostrar aos candidatos que a população tem demandas a favor das causas que defendemos e que eles terão que colocá-las no seu discurso de campanha e nos representar, se eleitos”, explica Gabi Juns, comunicadora com experiência em campanhas eleitorais, socioambientais e por direitos, atualmente é diretora executiva do Instituto Lamparina.
Juns, que implementou em 2022 uma estratégia política coletiva para aumentar a participação jovem e de mulheres nas eleições, afirma que a sociedade pode e deve participar da construção política e que o diálogo do eleitorado associado a algumas movimentações tem poder de pressionar candidatos de forma positiva.
Em sua visão, táticas como o abaixo-assinado e a carta-compromisso, por exemplo, podem ter menor relevância. “Basta o candidato assinar e pronto, tira aquela ONG do meio do caminho. Eu prefiro táticas que nos colocam como segmentos da sociedade: nós mulheres queremos mais creches. Então, a tática pode ser uma carta assinada por muitas mães da cidade e divulgada pela imprensa, para que a opinião pública seja percebida”, exemplificou.
O que importa, segundo Gabi, é movimentar verdadeiramente as intenções de voto de parcelas da população durante o período eleitoral. Ações offline ou ações online, como uma chuva de comentários nas redes sociais dos candidatos da cidade, também são opções. Se houver recurso, grupos podem produzir uma pesquisa de opinião sobre determinado tema e divulgá-la, inclusive enviando para as campanhas eleitorais.
“Precisamos olhar para a população da mesma forma que uma campanha eleitoral olha: dividindo em perfis de eleitores, os jovens da periferia, as mulheres evangélicas, os trabalhadores rurais, e por aí vai. Ao fazer isso, podemos produzir campanhas que movimentam a opinião desses segmentos nas nossas causas e aí sim, os candidatos que estão interessados nos votos deles, se sentirão pressionados a adotarem uma postura mais adequada ao que seus eleitores pensam”, afirmou Gabi Juns.

Juns acredita que não compensa gastar tempo com extremistas. l Foto: Reprodução
E depois?
Como as nossas causas vêm de muito antes e seguem para muito depois de uma eleição, é válido pressionar todos os candidatos que possam nos escutar.
“Eu só não acho que vale a pena gastar energia e recurso para convencer extremistas de algo. Esses candidatos não são permeáveis, não adianta fazer nada. É melhor olhar para as pessoas que não são extremistas e têm intenção de votar neles e ajudar elas a pensar em opções mais equilibradas com seus valores. Uma pessoa política que nos represente tem que ter capacidade de representar muita gente, tem que ter um histórico de coletividade, vontade de estar a serviço da população, tem que ter visão de futuro, não só saber reclamar da cidade. Em termos de propostas, acredito que a visão de futuro da candidatura é o que mais me faz definir o voto: qual é o mundo que essa pessoa está trabalhando todos os dias para construir? Se você analisar assim alguns políticos, vai encontrar verdadeiras distopias em construção”, afirmou Gabi Juns.
Brisa Lima da Silva, coordenadora de Incidência e Pesquisa do Instituto Marielle Franco, afirma que a pressão é importante para construir a cidade que queremos. Para ela, o importante é sempre ter em mente ações coletivas.
“Marielle Franco defendia que o benefício da política deve ser coletivo e não individual. A coletividade vem, não apenas porque o benefício de suas conquistas políticas valerá para toda a população de seu município, mas principalmente pela forma como, direta ou indiretamente, uma política pública é construída. Além disso, é nas construções coletivas que as resistências são tecidas e que podemos transformar as estruturas por um mundo mais justo e igualitário”, disse Brisa.

“devemos considerar candidaturas que sejam pautadas na defesa dos direitos humanos, que promovam o bem-viver”, diz Brisa Lima da Silva.
Brisa explica que também é importante se atentar para a escolha dos candidatos, além de conhecer bem as funções de cada cargo e considerar as concepções e ideologias de candidatos/as e partidos.
“É imprescindível votar de forma consciente e, portanto, devemos considerar candidaturas que sejam pautadas na defesa dos direitos humanos, que promovam o bem-viver para todas as pessoas e a preservação do nosso planeta. Também considero importante ampliar a representação política institucional de mulheres negras, LGBTQIA + e periféricas que atuam como lideranças coletivas em todo o Brasil. Mulheres negras ainda são sub-representadas na política. É importante observar o compromisso com o antirracismo e o antissexismo, assim como o compromisso com a democracia”.
Mas a questão não se encerra com o voto: “É preciso construir e participar de atos e manifestações sociais, se engajar em campanhas e tuitaços em torno de reivindicações alinhadas aos direitos humanos, promover atividades culturais para mobilizar e convocar a juventude para o debate eleitoral”, disse.
A advogada lembra que, apesar do calendário eleitoral, a política é realizada todos os dias com decisões e processos políticos que afetam efetivamente nossas vidas. Por isso as fiscalizações, cobranças e incentivos aos políticos devem ser feitos antes, durante e depois do período eleitoral.
“É possível cobrar durante o processo eleitoral e, inclusive, organizar formas participativas e populares de construção das propostas e práticas políticas com as quais os/as/es candidatos/as/es podem se comprometer para as eleições. É nosso papel erguemos nossas vozes para construir futuros, traçar cenários políticos que possibilitem a adoção de medidas prioritárias para resolução dos problemas sociais e o enfrentamento a desigualdades e opressões”, explicou Brisa.
Agendas comuns
Outra forma muito eficiente de pressionar candidatos é apoiando agendas e plataformas de propostas e práticas políticas. O Instituto Marielle Franco, que defende o direito de mulheres negras em ocupar a política e realiza ações de pesquisa e incidência sobre violência política de gênero e raça no Brasil, lançou neste ano uma agenda programática. No material constam práticas e políticas antirracistas, feministas, populares e LGBTQIA+ para as eleições de 2024, com foco no legislativo e executivo municipais.
Geralmente essas agendas apresentam conjunto de políticas públicas prioritárias fundamentais para determinados públicos, grupos, comunidades ou localidades (cidades, estados ou países). Com detalhes, justificativas, formas de implementação e exemplos do que já deu certo, o material é uma excelente forma de mostrar aos candidatos o que é básico, fundamental e urgente e que não pode ser negligenciado.
Outro exemplo interessante é o da Casa Fluminense, que pensa ações públicas com foco na redução das desigualdades e desenvolvimento sustentável para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A iniciativa lançou a Agenda Rio 2030 propondo pautas prioritárias para as eleições e construção de políticas públicas.
O material reúne 10 propostas pautadas nos diagnósticos e dados apresentados no Mapa da Desigualdade a partir das justiças climáticas, de gênero, racial e econômica. A sistematização foi feita a partir do diálogo com os territórios, lideranças sociais, especialistas, conselheiros, associados e toda a rede da Casa Fluminense. Acesse aqui

Agenda Rio 2030 traz propostas para enfrentar desigualdade social
Foto: Reprodução
O objetivo é fazer com que governos locais criem, planejem e controlem a destinação de recursos públicos a partir de orientações feitas para a população sempre pensando no enfrentamento à desigualdade social na metrópole.
Luize Sampaio, coordenadora de Informação da Casa Fluminense, participou da produção das Agenda Rio 2030 e explicou como o material é criado e trabalhado coletivamente a cada dois anos.
“A gente lança a Agenda acompanhando o ciclo eleitoral. Na construção deste último material, com foco em candidatos a prefeitos e vereadores, pensamos no que é prioritário, no que não pode faltar nas cidades até 2030. Depois são realizados encontros com os candidatos a prefeitos e vereadores para debater, junto com lideranças dos territórios e especialistas, todas as questões apresentadas. É sempre uma conversa em que a gente faz um debate e entende como eles olham para essas propostas e como pensam isso dentro dos seus planos de governo”, explicou.
Além das reuniões com possíveis representantes, rodas de conversa também são feitas com grupos de moradores. “A intenção é influenciar que a população comece a olhar para os candidatos, em quem pensam em votar, a partir das propostas. Isso vai mostrar se estão ou não dando atenção para pautas que são prioritárias”, explicou Luize.
Especialistas mostram que é essencial saber lutar por mudanças estruturais e acreditar que a política pode ser instrumento democrático de transformação de realidades.
Apesar das reivindicações, nem sempre as pautas são atendidas. Nesses casos é preciso avaliar mudanças de estratégias ou táticas. Antes de pensar em desistir, é essencial lembrar que todas as conquistas que temos foram conseguidas através da luta de ativistas de gerações anteriores.
“Não podemos abrir mão das reivindicações que garantirão nossos direitos. É preciso que neste cenário de crescimento do conservadorismo não deixemos de lado as reivindicações que garantirão as nossas vidas, as vidas das pessoas negras, indígenas, moradoras de favelas e periféricas, quilombolas, comunidades tradicionais, do campo, das águas e das florestas, pessoas com deficiência, trabalhadores em geral e pessoas LGBTQIAP+. Precisamos disputar mentes e corações para esta luta coletiva”, conclui Brisa.

Luize Sampaio, da Casa Fluminense
Foto: Reprodução
Especialistas mostram que é essencial saber lutar por mudanças estruturais e acreditar que a política pode ser instrumento democrático de transformação de realidades.
Apesar das reivindicações, nem sempre as pautas são atendidas. Nesses casos é preciso avaliar mudanças de estratégias ou táticas. Antes de pensar em desistir, é essencial lembrar que todas as conquistas que temos foram conseguidas através da luta de ativistas de gerações anteriores.
“Não podemos abrir mão das reivindicações que garantirão nossos direitos. É preciso que neste cenário de crescimento do conservadorismo não deixemos de lado as reivindicações que garantirão as nossas vidas, as vidas das pessoas negras, indígenas, moradoras de favelas e periféricas, quilombolas, comunidades tradicionais, do campo, das águas e das florestas, pessoas com deficiência, trabalhadores em geral e pessoas LGBTQIAP+. Precisamos disputar mentes e corações para esta luta coletiva”, conclui Brisa.
Matérias Relacionadas
Newsletter
Mais recentes
Ameaças contra lideranças, ativistas e defensores: quais cuidados tomar?
Ameaças contra lideranças, ativistas e defensores: quais cuidados tomar?
Alguns passos e ideias de protocolos para pessoas ativistas e defensoras do meio ambiente em situação de ameaças à segurança e integridade física

Brasil é um dos países mais perigosos para ativistas e defensores do meio ambiente.
Foto: Reprodução
Ameaças, agressões, ataques, situações de risco de vida iminente e exposições a algum tipo de vulnerabilidade física e psicológica. Esse é o cotidiano enfrentado por um sem fim de ativistas, comunicadores, defensores de direitos humanos e lideranças de comunidades originárias e tradicionais. O Brasil é, afinal, o segundo país que mais mata defensores do meio ambiente. Em meio aos episódios de violência, algumas estratégias são importantes para a segurança integral de quem cumpre um papel essencial para o fortalecimento da democracia, a defesa de direitos e a proteção do meio ambiente e de modos de vida tradicionais.
O crescimento do campo conservador, da extrema direita e dos retrocessos no campo dos direitos humanos nos últimos anos fez crescer também o número de assassinatos, ameaças e incidentes de segurança envolvendo ativistas de diversas áreas. O foco é enfraquecer, despolitizar, deslegitimar, desqualificar e silenciar quem denuncia violações que atingem, principalmente, grupos em vulnerabilidade.
Comunidades originárias e tradicionais estão entre os principais alvos. Conforme o último levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT), a violência no campo bateu recorde em 2023, quando 2.203 conflitos foram registrados. Entre as pessoas indígenas o número de assassinatos cresceu. Grande parte dos ataques estão relacionados à busca por regularização de territórios e a exploração de recursos naturais.
É quem assume papel de liderança atua na linha de frente de diversas lutas e se expõe a múltiplos riscos. Por isso é necessário pensar estratégias e organizar medidas que possibilitem uma atuação com o maior nível de segurança possível para defensoras e defensores de direitos humanos e também para as pessoas que estão à sua volta. Para isso é necessário considerar cuidados digitais, mecanismos diversos e alguns comportamentos diários.
A segurança em rede tende ser a mais efetiva e diversos saberes locais e pessoais já são colocados em prática intuitivamente por coletivos ativistas. Valorize o que existe no seu território e comunidade. Além disso, uma ação conjunta, que envolve o movimento, um círculo mais próximos de pessoas ou até a comunidade proporciona proteção e reduz a pressão sobre uma única liderança.
A responsabilidade da garantia de segurança às vítimas é do Estado, mas com tantas falhas, é importante que as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade também se auto protejam com uma camada extra de atenção e participem de todo o processo da elaboração da sua própria proteção. Isso mitiga perigos e permite que os grupos possam continuar fazendo seus trabalhos mesmo sabendo que o governo não proporciona toda a segurança esperada.
Proteção institucional
Apesar de insuficiente, ter um plano institucional de segurança pode ser uma das formas de cuidado. A pessoa ameaçada tem direito de ser protegida quando atua para uma organização da sociedade civil e é dever do Estado garantir essa proteção.
Lideranças em situação de ameaça, seja ela direta ou indireta, precisam fazer registros formais, uma vez que é tipificada como crime no código penal brasileiro. O Boletim de Ocorrência, realizado em delegacias da Polícia Civil, comprova que uma situação de violência aconteceu e responsabiliza e obriga o Estado a agir. Se a vítima não confiar na polícia local, a recomendação é fazer o BO numa cidade vizinha, sempre que possível, acompanhado de um advogado ou advogada popular.
O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), administrado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, promete oferecer proteção às pessoas que estejam em situação de risco, vulnerabilidade ou sofrendo ameaças em decorrência de sua atuação em defesa desses direitos.
O PPDDH é executado por meio de convênios, firmados voluntariamente entre a União e os Estados, quando da existência de Programas Estaduais. Atualmente, onze estados fazem parte do PPDDH e são responsáveis pela gestão técnica e política dos Programas Estaduais: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nos estados em que não existe Programa Estadual, pessoas ameaçadas são acompanhadas por uma Equipe Técnica Federal.
Mas essa política pode não ser suficiente e eficaz. Há registro de pessoas ameaçadas, incluídas no programa, que foram assassinadas, como é o caso de Maria Bernadete Pacífico – a Mãe Bernadete. A liderança quilombola foi morta violentamente dentro do seu território.
Mãe Bernadete havia perdido o filho (Binho do Quilombo) de forma semelhante e, quando morreu, era porta-voz de sua comunidade, integrava a coordenação da CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas e exigia justiça pelo assassinato do filho.
TEXTO
Letícia Queiroz
publicado em
TEMAS
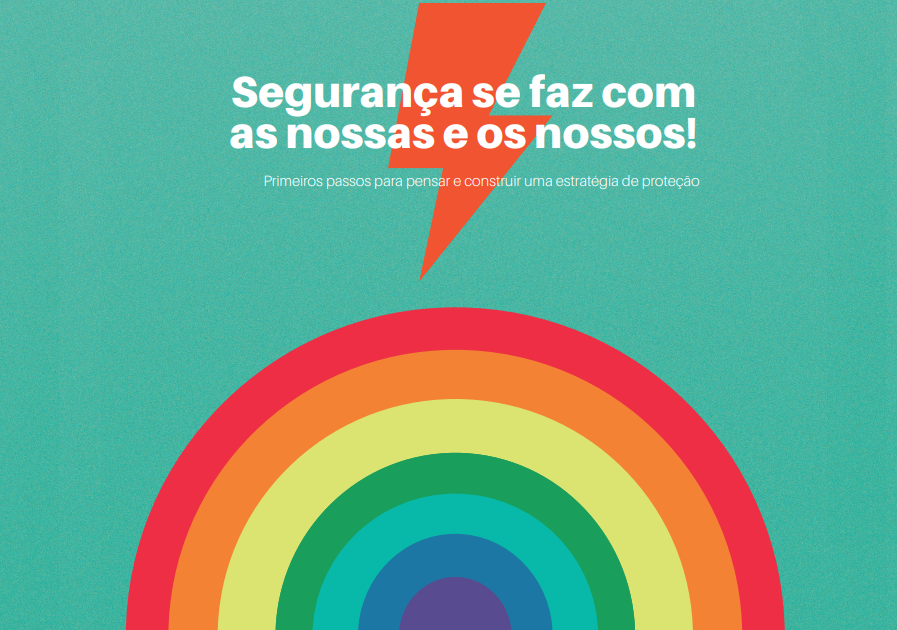
leia mais
Tudo isso é muita coisa e apresentamos muito pouco por aqui, mas a Escola de Ativismo tem três materiais que podem ajudar coletivos e indivíduos ameaçados:
Guia para fazer uma avaliação de risco e adotar medidas de segurança
A Internet Também é Nosso Território – Dicas Essenciais da Escola de Ativismo para Proteção na Rede
Guia para Desenvolvimento de uma Avaliação de Risco e Medidas de Segurança
Comunicação e cuidados digitais
A comunicação é uma ferramenta importante para lideranças e ativistas, mas é necessário compreender que há situações que a exposição ajuda e outras que transformam as pessoas em alvo. Uma liderança que está em perigo precisa analisar quando é melhor ficar mais retraída, inclusive da mídia ou redes sociais, para sair do foco. Às vezes é melhor deixar de dar entrevistas, de aparecer como liderança principal de determinadas lutas ou embates e evitar aparecer em fotografias.
É preciso tomar cuidados digitais sempre que utilizar a internet. O uso de senhas fortes, por exemplo, é essencial. Elas devem ser longas, com ícones e sem dados pessoais. Aplicativos seguros para a troca de mensagens também é regra para quem está em perigo. Existem opções, que não são as mais utilizadas, como o Signal, que tem como prioridade a privacidade dos usuários. O uso da tecnologia VPN Rede Virtual Privada (em inglês, Virtual Private Network), por exemplo, aumenta a proteção e privacidade online e é recomendada para ativistas de diferentes áreas de atuação.
Os celulares são mais vulneráveis a ataques e invasões e é preciso ter cuidado com o que eles podem registrar. Ao falar assuntos sensíveis, é importante retirar dispositivos (telefones e computadores) de perto. Todos os aplicativos instalados devem ser configurados para não acessarem ao microfone em tempo integral. Esse recurso deve ser habilitado apenas durante o seu uso.
Camadas de proteção
Considere que cada medida de proteção, física ou operacional, adotada é uma camada a mais que pode reduzir as vulnerabilidades da pessoa ameaçada ou ainda dificultar uma possível tentativa de violência por quem realiza a ameaça. Tomando como exemplo uma casa, certamente nenhuma porta ou janela será suficiente para barrar alguém que esteja determinado a arrombá-la, mas a porta com tranca servirá para atrasar a pessoa, vai forçá-la a fazer algum barulho e pode te dar tempo para alguma reação. Na mesma lógica, pode se incluir o uso de cães para alarde ou mesmo proteção, muros e cercas dos mais variados tipos, sistemas de câmeras de vigilância, alarmes sonoros simples (uma garrafa atrás de uma porta) ou sofisticados e assim por diante. O conjunto de práticas, medidas de proteção e/ou equipamentos são camadas que aumentam a segurança.
Estratégias diárias
Alguns cuidados diários devem ser seguidos pelas pessoas sob ameaça, como não andar sozinha, mudar sempre de rota e não ter uma rotina para dificultar qualquer tentativa de estabelecer um padrão de suas atividades e planejarem um possível ataque. Sair e chegar em casa ou no escritório sempre nos mesmos horários e dias e frequentar sempre os mesmos lugares devem ser evitados nesse contexto. Mudar de endereço, de cidade ou estado por um período pode ser necessário e é um recurso comumente utilizado mas tem uma série de implicações, como deixar a família, parar a luta e dar uma pausa nos cuidados com o território.
Atenção redobrada pode salvar vidas. Sob ameaça, é prudente estar sempre atento a todos acontecimentos ou mesmo em sinais de que algo não está na normalidade ou pode vir a acontecer, principalmente porque os ataques violentos algumas vezes não seguem um padrão. Alguns grupos têm feito registros posteriores de incidentes, ameaças e ataques e, assim, conseguem debater e partilhar entre outras pessoas como está a situação baseada em fatos.
Incidentes de segurança, que são aqueles acontecimentos que deixam dúvidas, também merecem atenção. Alguns exemplos podem ser, uma visita de pessoas desconhecidas de fora da comunidade perguntando pela liderança, um carro que passa a seguir seus caminhos ou a rondar a casa, a tentativa ou mesmo o roubo do celular, uma invasão ao escritório onde levam pouca coisa.
Além de maior atenção, da possibilidade de fazer e analisar registros formais e mudança de rotinas, quando uma pessoa está sob forte risco de algo acontecer devido a sua atuação política e/ou da defesa de direitos é recomendado adotar um conjunto de práticas que levam em conta o princípio da precaução. Por exemplo, seus deslocamentos, mesmo dentro da cidade ou de seu território, devem ser de conhecimento de pessoas de confiança que sabem onde, como, quais horários e com quem a pessoa estará. Monitorar os deslocamentos e dar pronto apoio quando necessário é fundamental para diminuir riscos e até salvar vidas.
Ameaças, diretas ou indiretas, configuram um crime e é importante não normalizar a violência. Algumas pessoas recebem ameaças com tanta frequência que, com o tempo, deixam de levar a sério. As ameaças devem ser analisadas e todas elas levadas à polícia.
Proteção coletiva
A proteção não é uma prática individual e isolada de cada defensor, defensora ou liderança, mas um conjunto de ações também executadas por outras pessoas. E neste sentido, a Segurança em Rede tende ser a mais efetiva. Uma ação conjunta, que envolve o movimento, um círculo mais próximos de pessoas ou até a comunidade proporciona proteção e reduz a pressão sobre uma única liderança. Quanto mais conexão com as forças coletivas, sejam elas públicas, privadas ou da sociedade civil organizada, mais a proteção se estrutura a favor da integralidade do cuidado e a autonomia de pessoas ou grupos.
Reconhecer a insuficiência do Estado Brasileiro, construir estratégias individuais e coletivas de proteção, compartilhar boas experiências e apoiar movimentos de resistência fortalecem a luta de lideranças e das instituições. Lembrando sempre que esses são apenas alguns pontos e que a prioridade absoluta de toda luta passa pela segurança e pela vida dos defensores/as e ativistas! Reconhecer a insuficiência do Estado Brasileiro, construir estratégias individuais e coletivas de proteção, compartilhar boas experiências e apoiar movimentos de resistência fortalecem a luta.
Esse texto foi escrito com colaboração de pessoas da Escola de Ativismo que atuam na área de segurança e proteção física/pessoal e operacional.
Newsletter