Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
O que está acontecendo na Colômbia agora? A eleição de Petro e a mudança política no país
Por Sigifredo Romero Tovar
O que ocasionou a vitória da primeira chapa da esquerda na Colômbia? Em artigo, o filósofo colombiano Sigifredo Tovar analisa o evento à luz da história de nosso vizinho latino-americano.

A vice-presidenta Francia discursa no palanque da vitória. “É uma revolução moral”, aposta o filósofo. l Foto: Página de Facebook de Gustavo Petro/Reprodução
Há exatamente 20 anos, não havia nada mais incrível na Colômbia do que Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). O salvador da pátria, a esperança de todo o país, o maior fenômeno político em 50 anos. Ele chegou para resolver o problema da guerra, por meio da morte, para sempre. Todo mundo era uribista na época. Ele era o cara.
Hoje ele deve estar se narco-lembrando amargamente disso lá na sua narco-fazenda, agora que seu tempo parece ter acabado. Uribe, narcotraficante e paramilitar como poucos, o homem mais poderoso da Colômbia em décadas, governou oito anos – coincidindo mais ou menos com os oito de Lula – e depois continuou sendo o protagonista principal da novela política nacional. Nas eleições de 2018, conseguiu obter a maioria no Congresso e colocar uma marionete sua na presidência: Iván Duque (2018-2022).
No próximo 7 de agosto, termina o governo dos narcotraficantes e assassinos e começará o governo do esquerdista, do ex-guerrilheiro Gustavo Petro e da militante negra e ex-empregada doméstica Francia Marquez. O mandato da pele escura, dos negros, dos indígenas, das feministas, da galera LGBTQIA+, das vítimas, dos defensores de direitos humanos, dos direitos dos animais e dos defensores da natureza – o termo “ambientalista” nunca é suficiente.
É como se de repente aparecessem no governo todas as pessoas que não aparecem nas novelas da Globo. É uma revolução moral. As mudanças que estão ocorrendo nas instituições políticas colombianas nunca tinham acontecido em toda a sua história. Estamos testemunhando muitas primeiras vezes. Mas é só porque a grande mídia é burra e o Estado é lerdo. Os dois são imorais e o povo sempre é, como no Brasil, superior e mais rápido.
O que é a Colômbia: em três tempos
Se sobre a Colômbia você não sabe nada de nada, vou te dar a grande enciclopédia de tudo o que você tem que saber sobre o país em três parágrafos. Se sabe, pode pulá-los. Quanto mais ao norte do Brasil você for, mais tudo se parece à Colômbia. Deixa o sul de fora, óbvio. No entanto, se você está na Colômbia, quanto mais pra cima você subir na montanha, mais diferente é do Brasil. A mestiçagem indígena, espanhola e africana lá foi intensa, migração europeia posterior, quase nula.
A maioria dos 50 milhões mora nas montanhas mas a população também é numerosa no litoral. Há menos gente na região amazônica e nos Llanos orientais, as grandes savanas vaqueiras — os llaneros são os gaúchos, os cowboys – cuja cultura é compartilhada com a Venezuela. Oito milhões de desgraçados moram na capital Bogotá que, verdade seja dita, é a cidade mais feia que eu já vi. Tem bastante gente em Antioquia, uma terra intensa, cheia de contrastes e orgulhosa. Antioquia é protagonista, mais do que Bogotá, tanto da história do café quanto da história da cocaína, as duas drogas que fazem a fama do país. Já a região Caribe é deliciosa, tranquila, quente pra caramba, mais pele à mostra, García Márquez, vallenato e cumbia, mais viciantes ainda do que café e cocaína. Finalmente existe (existe!) o litoral Pacífico, africano, selvático, menosprezado e molhado todos os dias em muitas águas: o mar Pacífico, a chuva intensa, os grandes rios que vêm do sul e procuram o norte. A Colômbia com frequência tem uma vibe muito parecida com a brasileira, uma tropicalidade, uma tranquilidade, uma alegria, uma festividade, uma emocionalidade, ficar só de shorts e sem camisa.
E, finalmente, a guerra, a violência, a exploração brutal por parte das elites econômicas, o terrorismo de estado, os exércitos paramilitares, as chacinas que envolviam vilarejos inteiros e que duravam vários dias, mortes por motosserra, morte para os indígenas, os comunistas, as pessoas em situação de rua, os deficientes, os mais de 4 mil membros de um partido de esquerda chamado Unión Patriótica, tortura, desaparição forçada sistemática, desterro de milhões de camponeses, estupro de crianças, a violência intensa dos cartéis, brigas de vizinhos que terminam em bala e tripas de fora, sequestro, extorsão, minas terrestres antipessoais, o exército bombardeando vilarejos, homens jogando ácido nas mulheres que os rejeitam, empalamento, todo tipo de jogos macabros com o corpo, carros-bomba, colares-bomba, cartas-bomba, bikes-bomba, burros-bomba, pessoas-bomba, aviões-bomba, tantas cagadas que as guerrilhas de esquerda fizeram também, medo, pavor, terror da noite, da paisagem, do pai. O lugar é um manicômio e uma chacina. Colômbia. Não consigo ser mais conciso do que isso.
Sessenta anos de guerra
O Pacto Histórico, a coalizão de esquerda liderada por Gustavo Petro que ganhou a presidência nas eleições de 19 de junho deste ano, também foi o movimento político mais votado nas eleições para o congresso que ocorreram um pouco antes, no dia 13 de março. Mais uma primeira vez. O Pacto agrupa grande parte dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda, incluindo o Partido Comunista e o Polo Democratico — esse último o partido de esquerda mais importante das últimas décadas. Todos eles sobreviventes do genocídio político colombiano.
A guerra e a violência na Colômbia são fenômenos muito complexos, permeiam todos os âmbitos da vida dos indivíduos, são parte constituinte das identidades, mudam de região para região e têm muitos ciclos. Problemas socioeconômicos e políticos mal resolvidos levaram a uma violência bipartidária extrema entre liberais e conservadores nas décadas de 1940 e 1950. Os problemas não foram resolvidos e nas décadas de 1960, 1970 e 1980 nasceram muitas e diversas guerrilhas. Guerrilhas marxistas, guevaristas, maoístas, nacionalistas, urbanas, camponesas, indígenas, operárias, etc. As Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, as FARC, são as mais importantes nessa profusão toda. Na década de 1980 irromperam os narcotraficantes com seu poder ilimitado. Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín, capital da Antioquia, é só o mais famoso. Torturou, matou, estuprou, sequestrou, comprou consciências e explodiu os corpos de milhares de pessoas nos lugares mais inusitados. Naquela época surgiu e prosperou ainda o paramilitarismo. Los paracos são narcotraficantes, militares e ex-militares, latifundiários, coronéis e até mesmo ex-guerrilheiros, que cumpriram vários propósitos: eliminar o dissenso e o pensamento, matar sindicalistas para as corporações estrangeiras, apavorar camponeses e expulsá-los de suas terras para roubá-las, matar y recontramatar comunistas, gays, maconheiros, ou seja, matar a vida em si.
O auge paramilitar foi em 1997, quando os diferentes grupos conformaram um exército de alcance nacional chamado Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Poucos anos depois, com o paramilitar Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) a situação foi propícia para negociarem com o governo boas condições de desmobilização. Nunca a Colômbia foi tão paraca como naquela época. Numa ocasião, o congresso nacional louvara fervorosamente os chefões paracos em patriótica homenagem. As AUC desapareceram, o paramilitarismo persiste.
Petro, Uribe e a paz
Como Garcia Márquez, Gustavo Petro nasceu no Caribe e estudou lá, em cima da montanha, em Zipaquirá. Foi um membro não muito destacado — ele era jovem — do grupo guerrilheiro M-19. O grupo tinha em sua composição uma galera mais urbana do que as outras guerrilhas e se caracterizava por sua espetacularidade. Eles fizeram marketing de expectativa antes de se assumirem publicamente e seu primeiro ataque foi — pasmem — a um museu em Bogotá. Roubaram a espada de Simón Bolívar. Bolívar, a tua espada volta à luta! A guerra é tanto que é também símbolo. O M-19 nasceu porque as elites roubaram as eleições de 1970 de um velho militar populista, um Getúlio vetusto e a destempo.
Eu vi o Petro na TV há pouco menos de 20 anos. Era senador do Polo Democrático e denunciava uma realidade vigente ainda hoje: que os paramilitares estão no congresso, no governo, nas forças armadas, nos governos departamentais, nas prefeituras, entre os ruralistas claro, na indústria da palma africana, nas empresas estrangeiras mineiras e bananeiras e nos escritórios mais altos, espaçosos e limpos dos bancos.
Isso me lembra uma cena de Narcos. Wagner Moura como Pablo Escobar sonha que é recebido como presidente na Casa de Nariño. Numa cena incomparavelmente melhor, o chefão Vito Corleone fala para o seu filho Michael que tinha uma outra expectativa para a vida dele; ele queria que seu filho não só tivesse poder, mas também respeito: “… senator Corleone, governor Corleone…”
Quando o ex-governador de Antioquia, Álvaro Uribe, chegou à presidência em 2002, a grande maioria nem sabia ou se negava a acreditar naquilo que já sabiam tanto os bandidos como os norte-americanos: que o ex-senador Uribe, das entranhas do cartel de Medellín, era na verdade a herança mais maldita, o presente mais abominável de Pablo Escobar para a Colômbia. A chegada de Álvaro à presidência em 2002 foi a realização do sonho de Pablo, nove anos depois da morte do capo em 1993.
Uribe, el patrón, narcotraficante, paramilitar e assassino em massa. Durante seu governo o aparelho de inteligência da época, o DAS, estava nas mãos dos paramilitares. Uribe vê Pinochet, vê o Medici e ri. Muitos poucos mortos para ele. Ele matou mais, muito mais. Também cometeu diversos outros crimes: ele conhece a lei como ninguém porque ninguém foge tanto dela. Uribe, o bandido mais bem-sucedido na história de um país que tem a sua história cheia de bandidos terríveis.
E depois de quatro anos na presidência ele quis seguir matando, reformou a constituição, que não permitia a reeleição, e comprou congressistas com cartórios para poder governar mais quatro. E depois de oito anos ainda queria mais — mas a lei não permitiu dessa vez. Então ele quis botar um lacaio, seu Ministro de Agricultura, na presidência. Lamentavelmente, o lacaio tinha organizado um esquema para tirar milhões dos camponeses e encher ainda mais os bolsos dos seus amigos riquinhos. O ministro virou foragido e foi extraditado à Colômbia recentemente. Supostamente ele hoje está pagando por seus crimes num resort militar.
Então, em 2010, impedido pelas circunstâncias de pôr uma marionete de presidente, Uribe teve que confiar em quem não confiava, seu ministro Juan Manuel Santos (2010-2018), um príncipe dourado da elite bogotana que antes de saber ler já sabia que seria presidente só olhando para as fotos de família. Foi ministro da morte de Álvaro Uribe e antes disso ministro de outras atrocidades em outros governos, fanático neoliberal e antissocial da pior categoria. Mas ele fez uma coisa boa: o Processo de Paz com as FARC. Recebeu o Nobel de Paz como outros grandes assassinos, Barack Obama e Henry Kissinger.
Não foi por Santos — senão porque as ruas, as selvas, os campos, e as cidades da Colômbia estão cheios de gente milagrosa que movimenta o país todos os dias e todos os dias é capaz de derrotar o Estado e seus donos – que o Processo foi muito importante para transformar o país. De um dia para outro havia muitos menos mortos e os jornais tinham menos batalhas para informar.
As elites e a mídia por elas controlada afirmaram durante anos que a Colômbia era muito boa e tinha muitas possibilidades, mas que lamentavelmente os guerrilheiros não deixavam o povo progredir para poder ser como os norteamericanos. As FARC eram a maldade absoluta em um sentido quase bíblico.
Até que um belo dia, graças ao Processo de Paz, os colombianos acordaram num país sem FARC e repararam que continuavam ferrados do mesmo jeito. De fato, eles tiveram que prestar mais atenção aos políticos sorridentes tirando descaradamente o dinheiro da saúde, das mães, da educação, das crianças, dos deficientes, dos velhinhos, dos doentes, dos trabalhadores. É mais difícil enxergar o escândalo diário das elites roubando legalmente as pessoas do seu tempo, da sua alegria, da sua família, da comida gostosa e do ar. Assim, quando a pessoa perguntava, como dom Hélder, “Por que são pobres?” a resposta “Guerrilheiro, terrorista!” já não colava. Tiveram que começar a dizer “Venezuela!”. Só que a Venezuela não tinha estourado bombas nem sequestrado ninguém, então o efeito não foi o mesmo.
O Processo de Paz (2012-2016) foi o começo do fim do uribismo que havia chegado ao poder com a promessa de acabar com a guerra por métodos violentos depois de vários processos de paz malsucedidos nas décadas de oitenta e noventa. Uribe e os seus se opunham ferozmente ao Processo e o sabotaram. Todas as obscenidades que Uribe tinha cometido no Processo com os seus amigos paramilitares em 2002-2006, os uribistas inventaram que houve no processo de 2012-2016. Que o Santos era das FARC, falaram. Dizer que Santos é comunista é como dizer que Elon Musk é petralha ou cientista. Hoje em dia eles continuam atacando a paz e promovendo a guerra. Mesmo assim, graças à pacificação da época de Santos, o mais importante aconteceu, o povo começou a reverdejar.
Também me lembro de Petro na época do Processo quando era prefeito de Bogotá. Deram um golpe nele em 2014 mais rápido que o golpe na Dilma em 2016 só que depois de umas poucas semanas tiveram que restituí-lo. Foi bem naquela época que a petrofobia tomou a sua forma atual: Petro é um perversor de almas que fecha igrejas e abusa das freiras, um ser malvado que acende velas ao Chávez, que quer que a Colômbia vire Venezuela como um Zeus das placas tectônicas, que sequestrou o filho do Lindbergh, que matou Papai Noel e que é culpado de tudo aquilo que antes era culpa das FARC. Posso dizer que Petro governou em Bogotá para os mais oprimidos e desprezados e que graças a ele meu sobrinho de 20 anos hoje estuda numa sede da Universidade Distrital de Bogotá que fica em Bosa, um bairro de pessoas de carne e osso que nunca aparecem nos postais turísticos.
A última vez que o Petro havia se candidatado à presidência foi em 2018. Essa vez ele perdeu para Iván Duque, o pau-mandado do Uribe que, entre outras coisinhas, ganhou porque seus amigos narcotraficantes investiram uma boa grana nele, em sua vice-presidente de família narcotraficante, e em seu partido que é o partido dos narcotraficantes.
Duque, pau-mandado dócil, mas também guloso, do Uribe, é um carinha mediano, sem mérito algum. E aí Uribe se estrepou porque o Duque pode ser muito assassino, sim, mas o principal é que ele é (era, já era) um inepto de pobre intelecto e inexperiente — ainda hoje depois de quatro anos de presidência. É só escutá-lo falar para reparar na sua idiotice, e o seu foi o governo dos idiotas, dos falsificadores de títulos, dos medíocres, dos racistas, dos oportunistas, dos mentirosos, dos puxa-sacos dos norte-americanos.
Francia e o povo
E Francia, quem é? Há muitas como ela no Brasil. Negra da região do Pacífico, defensora da natureza e da comunidade, filha de parteira. A primeira vez que soube dela foi porque recebeu um prêmio muito importante. Como isso aconteceu nos Estados Unidos, a mídia colombiana foi obrigada a dar a notícia. Isso não impediu que o regime de narcos que a mídia defende tentasse ainda matá-la. E ainda assim a mídia não viu, não acreditou e não entendeu o que aconteceu quando no passado 13 de março, na consulta do Pacto Histórico, Francia recebeu quase 800 mil votos, para grande inveja dos políticos de sempre que têm todo o dinheiro, toda a atenção da mídia e todas as máquinas políticas.
A proposta política de Francia é de uma radicalidade tanto revolucionária como ancestral que é o oposto do desenvolvimento capitalista e do Estado liberal pois não vem de Paris nem de Washington nem de John fucking Locke. A proposta é vivir sabroso, viver gostoso, curtir. Isso inclui tudo aquilo que não seja vender a vida por horas aos opressores nem poluir a terra por eles. É uma filosofia que vem do povo e não se ensina em faculdade nenhuma.
E foi no povo que aconteceram as transformações profundas que culminaram na vitória eleitoral. Eu soube disso em um dia de setembro de 2020 quando um cara, não um líder, não um defensor de direitos humanos, um cara que era só um cara normal chamado Javier foi assassinado pela polícia de Bogotá. Até aí nada de novo. A novidade foi que as pessoas atearam fogo no prédio policial onde ele foi assassinado, fizeram protestos, a cidade feia foi incendiada e a polícia assassinou mais uma dúzia de pessoas no que constituiu mais uma chacina cometida pelo Estado colombiano.
No ano seguinte, quando o governo de Duque propôs uma reforma tributária para empobrecer o pobre e enriquecer o rico, a Colômbia foi para as ruas de novo. Os que saíram eram principalmente jovens, quase crianças, apenas com idade suficiente para saber que na Colômbia não tinham futuro além de uma vida de bicos, desemprego e humilhação. O chamado estallido social. Porque é isso, as pessoas estouram. Eu que cresci no medo reparei que aquilo era diferente dos outros protestos que tinha visto antes por um fator importante: a duração da luta. As pessoas foram para a rua sem pensar no regresso com uma raiva contida por décadas.
A cidade ardeu de novo, a grande mídia chorou pelos vidros quebrados e os pneus carbonizados enquanto o Estado saiu para massacrar de novo. A polícia e os paramilitares mataram dúzias, dúzias e mais dúzias, arrebentaram os olhos das crianças, torturaram transeuntes, estupraram mulheres e culparam as vítimas. Iván Duque os animava a matar. Tantos mortos no povo e tantos assassinos na força policial, começando com Duque, marcaram a morte de uma era, a era Uribe.
E no meio disso tudo, nos últimos 20 anos se popularizaram a internet e os celulares. Na minha época a internet estava ainda chegando e se usava bastante o telefone fixo. As pessoas se informavam principalmente pelos dois canais privados da TV nacional. Hoje, a grande mídia continua falando as suas mentiras, só que há jornalistas em potencial em cada esquina do país e em qualquer aparelho você pode acessar a imprensa internacional, os arquivos de qualquer coisa, tudo. Meu sobrinho de 20 anos, celular em mãos, só assiste telejornal para gargalhar das mentiras da mídia.
Por conta de muitas razões muito diversas que nem sempre tiveram a ver nem com a Francia nem com o Petro, caiu neles a oportunidade do impossível. Talvez antes deles houveram outros que mereciam mais, só que os rumos da história são moralmente inescrutáveis. Eles permaneceram de pé depois de uma longa lista de mortos. Os assassinos não conseguiram matar todo mundo.
A vitória do 19 de junho foi dada a eles pela idiotice dos seus inimigos que geraram uma oportunidade histórica para o Pacto. Francia e Petro, insubordinados de sempre, sobreviventes, militantes sem descanso, mantiveram a esperança nos tempos mais escuros. Agora parece que foram recompensados por isso. Recompensa nenhuma. O poder deveria ser um dever. Veremos se Petro e Francia estarão à altura do que virá. Daqui pra frente corresponde a eles a pior das responsabilidades.
A responsabilidade lhes foi dada pelas pessoas que votaram, as que não aguentaram a vergonha e saíram para a rua e por muitos outros que estão mortos agora. Nos últimos três anos aconteceram coisas na Colômbia que não aconteciam há décadas. Isso porque o povo em que eu cresci, cabisbaixo e assustado, o povo da era Uribe, hoje é outro povo.
Claro, seguimos sendo indígenas, negros, cholos, descamisados, nadies, camponeses, ñeros, trabalhadores, maricas, amigos incorruptíveis e mães solteiras. O que eu quero dizer é que hoje em dia tem gente que cresceu sem medo. O que mudou foi o povo. Essa é a magnitude da mudança que está acontecendo agora mesmo na Colômbia. E o povo persistirá criando coisas novas, coisas além de nós mesmos, além de Francia e Petro. Só o povo pode salvar o povo.
—
*Sigifredo Romero Tovar é filósofo ecosocialista formado em Historia pela Universidad Nacional de Colombia e em Estudos da Religião pela Florida International University. Atualmente, seu interesse acadêmico é a superação do capitalismo para que a humanidade não derreta de calor. Contato: srome039@fiu.edu
Entenda os cuidados e riscos de participar de boicotes para esvaziar eventos
Por Bibiana Maia
Inscrever-se para retirar ingressos pode ser considerado um ato de liberdade de expressão, mas existe uma zona cinza no campo jurídico sobre o uso de dados falsos
Atualmente, qualquer organizador de eventos faz um passo a passo simples: cria uma página em alguma plataforma de venda de ingressos (com informações sobre a programação e as atrações) e os interessados se cadastram e retiram suas entradas, sejam elas pagas ou gratuitas. O processo vale para shows, peças de teatro, cursos, palestras e até convenções políticas, caso do Partido Liberal (PL). O que o PL não contava era com uma estratégia de mobilização para esvaziar o evento, que envolvia adquirir um ingresso com a intenção de não comparecer.
Em uma estratégia de boicote, diversos usuários nas redes sociais encorajaram seus seguidores a retirar os ingressos, na plataforma Sympla, para o encontro que acontece neste domingo (24/07), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A convenção vai anunciar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro e do vice General Braga Netto. Com a viralização das postagens, surgiram dúvidas sobre a legalidade deste tipo de mobilização e a segurança dos dados. Algumas publicações sugeriram o uso de informações falsas, como CPF e e-mail, na ação.
Das 50 mil inscrições, o PL decidiu cancelar 40 mil com uma triagem feita “com o uso de ferramentas próprias, por meio de inteligência artificial”, como informou o partido ao Correio Braziliense. Além disso, declarou que os IPs foram armazenados para eventuais medidas legais. A organização também disse ao site Poder360 que apresentaria uma uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a investigação sobre a mobilização. O partido defendeu que “foram descobertas fraudes e tentativa de hackeamento”. O evento, inclusive, aconteceu sem a necessidade ingresso para comparecimento.
A Sympla informou à Escola de Ativismo que pode “realizar a suspensão de contas identificadas como falsas ou que contenham informações inverídicas”. Sobre o IP, a plataforma declarou que não disponibiliza este tipo de informação aos organizadores de eventos cadastrados.
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do TSE respondeu que, até sexta-feira (22/07), não houve nenhuma representação do partido sobre o caso e que a mobilização de retirada de ingresso com o intuito de não comparecer não tem tipificação de crime eleitoral, mas pode haver alguma implicação criminal no uso de documentos falsos, como o CPF.

Boicote gerou dificuldades para a extrema-direita, mas pode colocar em risco segurança de ativistas l Créditos: Pixabay
Que tipos de dados o usuário fornece
Assim que uma pessoa decide adquirir um ingresso na plataforma Sympla, segundo o documento sobre Políticas de Privacidade nos Termos e Políticas, é preciso que forneça informações divididas em três blocos: Informações do Participante, Informações para o recebimento do ingresso e Informação de pagamento.
Na primeira, são coletados dados de identificação sobre a pessoa que usará o ingresso para acessar o evento, como o nome e o e-mail. Em alguns casos, o organizador pode pedir informações adicionais, como o CPF. A segunda refere-se aos dados de identificação do consumidor, ou seja, a pessoa que receberá o ingresso, e se resumem ao nome e e-mail. O último bloco é sobre dados financeiros e de identificação, como informações do cartão de crédito, nome, telefone, CPF e endereço.
A plataforma ainda diz que o usuário poderá fornecer outros tipos de dados, como geolocalização, comportamento de uso do aplicativo e informações referentes ao dispositivo usado para visitar o site, como celular ou computador. Entre esses dados estão o número de telefone, endereços IP, tipo de navegador e idioma, redes Wifi, provedor de serviços de Internet, operadora, sistema operacional, fabricante do dispositivo, modelo, informações sobre data e horário, páginas de consulta e saída, e dados sobre a sequência de cliques.
O documento também indica como funciona a segurança desses dados, mas alerta que o sistema não é infalível. Segundo a Sympla, são usadas técnicas de criptografia, monitoramento e testes de segurança periódicos, Firewall, entre outros. “Contudo, não é possível garantir completamente a não ocorrência de interceptações e violações dos sistemas e bases de dados, uma vez que a internet possui sua estrutura de segurança em permanente aperfeiçoamento.”
Cuidados ao decidir participar de boicotes
O Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que dá diretrizes sobre como essas informações devem ser geridas. Segundo Christian Perrone, head de Direito, Tecnologia e Govtech do Instituto Tecnologia e Sociedade (ITS), não há nada que impeça a plataforma de compartilhar dados com os organizadores, mas é preciso haver transparência e não quebrar as expectativas do usuário sobre sua privacidade. Eles precisam saber quais dados serão utilizados, quais serão tratados e para quais finalidades.
Sobre informações que as pessoas fornecem indiretamente, como o IP, existe uma obrigação legal, em alguns casos, de as empresas precisarem guardá-los porque há uma lógica na legislação brasileira de que não se pode ser completamente anônimo na internet. A Sympla precisa mantê-los por um período de tempo e pode entregá-los com o conhecimento do titular ou em caso de requisição legal, como uma ordem judicial. Desta forma, o PL só poderia ter acesso aos IPs com requerimento legal, já que a plataforma informou que não fornece aos organizadores.
A LGPD considera dados sensíveis aqueles que podem ser discriminatórios, como religião, raça, cor, estado civil, diagnósticos de saúde, ou por serem únicos, como os biométricos, por exemplo, digitais, íris e formato do rosto. Informações como e-mail e CPF são dados pessoais relevantes, mas não são considerados sensíveis.
Ainda assim, devemos ter cuidado com eles. “Quando você tem o CPF, ele é uma espécie de chave para encontrar outros cadastros porque normalmente os cadastros indexam nossas informações ao CPF”, explicou Perrone. Já o e-mail é relevante pois usamos para dar acesso a uma série de contas por serem parte do login, desde redes sociais e streaming a banco. É por isso que o especialista indica usar um outro e-mail para compras e plataformas de eventos, como a Sympla.

PL teve que autorizar a entrada de pessoas sem ingresso no evento que aconteceu no Maracanãzinho l Créditos: Agência Brasil
Uso de dados falsos e VPN
Este tipo de mobilização é encarada como legal e democrática. Uma das defesas para o ato de se registrar sem a intenção de participar é a liberdade de expressão, enquanto um protesto. Mas existe uma zona cinzenta quanto ao uso de dados falsos como CPF e e-mail e até de divulgar essa tática nas redes sociais. Perrone explicou que o usuário pode ter que arcar com os danos dessa falsidade e entrar na categoria de fraude, mas não é tão simples definir esta ação como um crime. Demanda interpretação.
“Usualmente, preencher um dado incorretamente e ‘falso’, não é crime, mas é crime em algumas circunstâncias. É por isso que algumas pessoas estão dizendo que pode ter causado um crime eleitoral, por estarem fornecendo dados eleitorais, mas isso pressupõe um contexto oficial e eleitoral. Preencher um cadastro para ganhar um ticket, ainda que esteja ligado a uma questão eleitoral, é difícil que exista uma interpretação que visualize como um crime.”
Outra questão levantada nesse caso foi o uso de VPN para mascarar o IP e assim evitar que as pessoas que participassem deste tipo de boicote sejam identificadas. O IP mostra onde está o dispositivo que está acessando aquele site. É um endereço que é fornecido automaticamente pelo sistema, pois é a forma como a rede funciona. Mas existem técnicas para driblar esse rastreamento. O VPN funciona como se indicasse um endereço intermediário ou espelhasse outro número de IP que não é o seu.
É comum o uso em países não democráticos ou ainda em situações que o usuário não queira indicar sua localização, como em investigações jornalísticas. Na China, por exemplo, é utilizado para acessar sites que não são permitidos no país, como o Google. No Brasil, esse recurso não é ilegal.
Contudo, Perrone defendeu o uso dos dados verdadeiros para este tipo de estratégia. “Há uma lógica de que, se você quer participar do processo democrático, deve participar como você. Participar sem entregar os dados é complexo porque começa a beirar os limites do que é considerado politicamente correto e legítimo. Por exemplo, entra nessa fronteira de estar em fraude por não entregar o CPF quando lhe é pedido e entregar o que não é seu. Não é automaticamente ilegal, você estaria na zona de discussão da liberdade de expressão, mas é possível de não ser visto como correto e, em algumas circustâncias, como ilegal. Beira a antijuridicialidade”.
Mobilização foi inspirada nos fãs de Kpop
Este tipo de boicote não é exatamente uma novidade. A estratégia de organizar uma retirada massiva de ingressos para não comparecer a um determinado evento foi inspirada em uma mobilização que aconteceu nos Estados Unidos. Em junho de 2020, o então presidente Donald Trump fez um comício em Tulsa, Oklahoma, cujas entradas deveriam ser retiradas com um cadastro usando o número do celular.
Quando os organizadores pediram ao público para inscrever-se, fãs de Kpop (música popular coreana) e usuários do TikTok encorajaram as pessoas a se registrarem sem a intenção de ir. Segundo o “The New York Times”, muitos usuários apagaram as publicações com a orientação como parte do plano. A organização chegou a divulgar que mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram, mas o público foi bem abaixo do esperado. Dos 19 mil lugares disponíveis, apenas 6.200 foram ocupados, segundo os bombeiros da cidade. Trump havia planejado um discurso para o público quem não conseguisse entrar no local, mas acabou cancelando.
O mesmo tipo de tática teria sido usada com o evento “Minha cor é o Brasil”. Com teor conservador e negando o racismo, o encontro aconteceria este mês em Alphaville, em São Paulo, mas havia intenções de levá-lo para outros lugares, como o Rio. Sérgio Camargo, ex-presidente exonerado da Fundação Palmares, divulgou em seu perfil no Twitter que o evento seria remarcado “por motivos de força maior”.
Alguém se levantou — e expulsou o presidente da Funai
O ex-funcionário da Funai, Ricardo Rao, se levantou e expulsou Marcelo Xavier de um evento; a ação direta do ex-colega de Bruno Pereira é, segundo Luh Ferreira, um exemplo para ativistas no Brasil de 2022
Amanheceu chovendo esta manhã.
Fiquei com preguiça de levantar, de ir pro treino, de fazer café…
Achei que poderia esperar um tempo na cama até o tempo abrir.
Abri o celular, no instagram, fui passando o feed, me entristeci profundamente por saber que o governador do Mato Grosso havia assinado o PL 561/2022, a lei anti-Pantanal, que pode mudar para sempre como as águas do bioma são protegidas. Já não bastasse o 22 x 02 na assembleia – isso mesmo 7×1 é pouca vergonha, foram 22 deputados estaduais votando contra a proteção do Pantanal — tive hoje nesta manhã a certeza de que tudo vai mal. E que não conseguimos fazer nada para mudar.
Segui em desânimo, segui passando o feed.
Quando vi uma cena:
Um homem se levanta em um auditório. E começa a dizer em alto e bom som, de maneira dirigida, algo que a gente vêm gritando na internet, nos metrôs, nas feiras, nos almoços de família, na academia, no bar, no mercado, entre nós, claro… temendo a violência, sem querer arrumar confusão com gente que anda doida para atirar.
Desta vez alguém disse o que precisava ser dito para quem está há tempos, precisando ouvir:
“Este homem não pertence aqui, não é digno de estar entre os senhores. O Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo babá de miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. É responsável pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips!
Miliciano! Vai embora! Vai pra fora!”

Ricardo Rao está exilado desde 2019 na Noruega e saiu da Funai durante o governo Bolsonaro por conta de perseguição política l Foto: Arquivo Pessoal
Ahhh, como eu ando querendo mandar gente embora dos lugares! Sobretudo do Brasélllllll!!!!
O homem que me refiro é o indigenista e ex-funcionário da Funai, Renato Rao. O levante aconteceu durante o evento da Assembleia Geral do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe (Filac) em Madri, na Espanha. Rao corajosamente, dirigiu-se ao atual presidente da Funai (cujo nome não vamos mencionar pois dá azar), e fez com que ele se retirasse da reunião.
Oras, mas depois dessa eu me levantei na hora da cama!
Depois dessa ação direta, me animei a seguir o dia, mas também em escrever, em falar com as pessoas e saber mais sobre o caso Brasil, vai que um levante estava rolando e eu estava ainda na cama cansada?
Sim, me refiro ao caso Brasil, pois todos os dias acontece algo que muda, mas na real não muda nada. né?
É fucking meeting with diplomatas para anunciar que vai dar golpe — até porque não tem prova de nada. É convocação de irmão de petista assassinado para expôr ao mundo a sua estratégia de divisão familiar. É cada uma pior do que a outra.
Tudo isso rolando e a gente aqui com esse maldito clima de ESTÁ TUDO NORMAL como diria nosso querido André Dahmer:

Chega de normalizar as imbecilidades!
Basta de normalizar a violência – Toda solidariedade às famílias do Complexo do Alemão!
Isso tudo não é normal, levantemos como fez Rao e expulsemos de nossa casa, de nosso convívio e principalmente desta presidência aquele que vocês sabem muito bem quem.
Salve o Ceará do Dragão Nuclear: A luta contra a mineração de urânio e fosfato em Santa Quitéria
Por Sarah Lima, do Jovens Pelo Clima Ceará
Movimentos sociais e comunidades tradicionais do sertão do Ceará estão lutando há quase 20 anos contra projeto de morte em seus lares

Manifestantes protestam em frente à mesa diretora da audiência pública que discutiu a exploração de jazida em Santa Quitéria (CE) l Foto: Antônio Rodrigues
“Salve o Ceará do Dragão Nuclear”, dizia uma faixa pairando sob a cabeça da mesa da audiência pública. Os movimentos sociais se fizeram presentes com indignação, faixas e gritos até a alta madrugada nas audiências realizadas nos dias 7, 8 e 9 de junho em Santa Quitéria, Itatira e Canindé, promovidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Nelas, o Consórcio Santa Quitéria, formado pelas Indústrias Nucleares do Brasil e Galvani Fertilizantes, apresentou a proposta de mineração de urânio e fosfato para as populações das regiões afetadas.
As intensas manifestações refletem a preocupação sobre o que pode vir a ser uma das maiores tragédias socioambientais do Ceará. A mina de Itataia está prevista para ser a maior mina de urânio e fosfato do Brasil. Caso estes materiais sejam explorados, poderão deixar para trás um rastro de contaminação e doenças para as comunidades tradicionais, além de poluir o ar, o solo e a água com radioatividade e poeira tóxica.
Contexto
O Projeto Santa Quitéria prevê a exploração e o enriquecimento do urânio para formar uma pasta chamada de yellowcake, que será transportada pelas rodovias do Ceará até o Porto do Pecém (CE) e, de lá, até a usina nuclear de Angra III no Rio de Janeiro. Já o fosfato será usado para a fabricação de ração animal e de fertilizantes fosfatados, que serão utilizados pelo setor do agronegócio nas regiões Norte e Nordeste do país. Os rejeitos radioativos e os efluentes líquidos contaminados serão depositados em cinco lagoas, aumentando os riscos de vazamento dos rejeitos tóxicos e de contaminação do lençol freático.
Além dos impactos socioambientais provenientes da extração de urânio e fosfato, o Projeto Santa Quitéria vai na contramão do debate de mudanças climáticas. São previstas a queima de 195 mil toneladas de coque de petróleo – resíduo proveniente do processo de refino do petróleo – para suprir a demanda energética da mineração. A queima do coque de petróleo pode elevar as emissões de gases de efeito estufa do Ceará de 2 a 3%, contribuindo com os efeitos catastróficos da crise climática previstos para o Nordeste, como secas mais frequentes, ondas de calor, escassez hídrica e insegurança alimentar.
O Projeto Santa Quitéria também prevê a utilização de 855 mil litros de água por hora, ou seja, serão cerca de 20 milhões de litros destinados todos os dias para um empreendimento que está localizado no sertão do Ceará, cerca de 89 carros-pipa por hora. Para efeitos de comparação, as comunidades tradicionais da região de Santa Quitéria recebem, no melhor dos cenários, 6 carros-pipa por mês.
Ilegalidades
Apesar dos graves e nítidos impactos da mineração de urânio e fosfato sobre as populações e os ecossistemas, o EIA/RIMA do Projeto Santa Quitéria apresenta um diagnóstico social e ambiental falho e insuficiente, que não aborda a dimensão da contaminação por radioatividade proveniente da exploração do urânio, apontam os movimentos sociais e comunidades. Um outro erro grave presente no documento é o apagamento da existência das mais de 160 comunidades tradicionais que existem na área de impacto direto do empreendimento — como se os territórios fossem inabitados e improdutivos.
Uma outra ilegalidade presente é a ausência das consultas prévias, livres, informadas e de boa-fé aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais afetados, impactados ou atingidos. As consultas prévias são asseguradas pela Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), cujo Brasil é signatário, e devem ser realizadas bem antes da ocorrência das audiências públicas. No caso de Santa Quitéria, nenhuma foi realizada e, como consequência, no dia 2 de junho, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos emitiu uma recomendação ao Ibama para que o processo de licenciamento ambiental seja suspenso.

Protesto diz que INB mente e pede a suspensão do licenciamento. l Foto: Antônio Rodrigues
Protesto
Nos três dias de audiência pública, o debate sobre a saúde das comunidades tradicionais, a contaminação do ar, do solo e da água, além da precariedade dos empregos gerados por atividades de mineração foram centrais.
Nas apresentações do Consórcio Santa Quitéria, muitas informações foram omitidas e outras colocadas de forma desonesta e mentirosa. Em vários momentos foi dito às populações que não é possível relacionar radiação com câncer, que o lençol freático não seria contaminado e que nenhum tipo de poeira radioativa chegaria às comunidades que moram nos arredores da mina de Itataia. E reforçaram que a mineração traria riqueza e empregos às pessoas da região, apesar de gerar apenas cerca de 500 empregos durante 20 anos de vida útil da jazida.
Durante todo o tempo das audiências públicas, os movimentos socioambientais, representados por Jovens pelo Clima Ceará, Greenpeace Fortaleza, Instituto Verdeluz, MAM – Movimento pela Soberania Popular na Mineração e MST – Movimento Sem Terra, bem como lideranças dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e das comunidades camponesas, manifestaram-se com faixas, cartazes e gritos de “Xô, Nuclear” e “Salve o Ceará do Dragão Nuclear”.
No espaço destinado às manifestações orais e perguntas da sociedade civil, movimentos socioambientais, comunidades tradicionais e professores universitários se inscreveram para desmentir cada informação equivocada, exigir mais transparência sobre os dados apresentados, solicitar responsabilidade do Ibama no processo de licenciamento ambiental e reivindicar um Ceará livre de mineração de urânio e fosfato.
Apesar do direito às manifestações da sociedade civil, em todos os dias foi necessário que o público reivindicasse tempo igual de fala, já que cada pessoa tinha somente 3 minutos para falar, com risco de ter o microfone cortado, enquanto o Consórcio Santa Quitéria teve mais de 4 horas somente apresentando o empreendimento, além do tempo de respostas às manifestações orais. A ordem das falas organizada pelo Ibama, que deveria ser aleatória, apresentava um certo viés em alguns momentos, como na audiência pública em Canindé, cujo primeiro bloco de manifestações foi composto apenas por políticos da região favoráveis à mineração.
A duração das audiências públicas também afetou a participação popular, já que os trabalhadores e os povos tradicionais não tinham condições de ficar até 3 horas da manhã participando dos debates, como foi o caso da audiência pública em Santa Quitéria.
Abaixo, o relato de uma moradora do assentamento Riacho das Pedras, localizado em Santa Quitéria, seguido do comentário do presidente nacional do Ibama, Régis Fontana. As audiências públicas estão disponíveis no YouTube e podem ser assistidas na íntegra por meio do canal Consórcio Santa Quitéria.
Outro ponto abordado em todas as audiências públicas foi a situação do município de Caetité, na Bahia. Atualmente, é a única região do Brasil que tem atividade de mineração de urânio, também conduzida pelas Indústrias Nucleares do Brasil. No lugar de riqueza e geração de emprego, os resultados são mais de 10 crimes ambientais de vazamento de licor de urânio, ácido sulfúrico e óleo combustível; poços artesianos com concentrações de urânio 7 vezes maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde; taxas de câncer exponencialmente maiores nas populações da região; e inúmeros processos trabalhistas por acidentes e condições precárias de proteção dos trabalhadores à radiação.
Durante as audiências públicas, um grupo de pesquisadores e professores universitários, que também compõe a Articulação Antinuclear do Ceará juntamente com os movimentos sociais e comunidades tradicionais citados, protocolou ao Ibama um parecer técnico apresentando todas as irregularidades presentes no EIA/RIMA do Projeto Santa Quitéria, além das ilegalidades citadas anteriormente decorrentes do processo de licenciamento ambiental.
Com o fim do período das audiências públicas, a expectativa é a de que o Ibama considere todos os documentos protocolados, escute a voz das populações cearenses e não licencie o Projeto Santa Quitéria. Os movimentos sociais e as comunidades tradicionais vão continuar resistindo e lutando até que o Ceará fique livre de vez do Dragão Nuclear.
Para saber mais: PAINEL ACADÊMICO SOBRE OS RISCOS DA MINERAÇÃO DE URÂNIO E FOSFATO. Análise das omissões e das insuficiências do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) referentes ao Projeto Santa Quitéria de mineração e fosfato. 2022. Disponível em: <https://www.renatoroseno.com.br/files/5/8/3/5830124-Parecer-T%C3%A9cnico,-Painel-Acad%C3%AAmico-2022.pdf>.
Brasileiros estudados
Por Luh Ferreira*
A inventividade e resiliência do brasileiro sempre mereceu as vistas que nem a filosofia explica. Mas à beira da ameaça de golpe, Luh Ferreira se pergunta: quem precisa ser estudado?

Bolsonaro mostra um remédio não efetivo contra a Covid-19 para uma ema. Foto: Reprodução
Sempre achei engraçada a frase “o brasileiro precisa ser estudado”, como se ela falasse de situações que nos colocam como um povo de feitos inéditos e que exige, portanto, algum tipo de estudo para entender o porquê de alguns comportamentos e atitudes nossas se dão.
De fato, nosso povo merece estudo e aplausos, merece carinho, pois toda semana quando a gente abre as redes sociais a gente se depara com uma coisa mais graciosa, criativa, e até mais doida que outra!
As pessoas por meio do Tiktok, por exemplo, nos trazem um dia a dia cheio de invenções, que vão desde a ensinar dancinhas da moda à inserir palavras desconhecidas em nosso vocabulário – aqueles que fazem um glossário de expressões locais são os meus preferidos! – mas também gente que mostra jeitos múltiplos de fazer coisas – receitas, arrumações, explicações de fórmulas, desvelamento de segredos cosméticos – antes a gente ia pro Google perguntar como faz? Como é? Agora o Tiktok mostra. E com performance!
Até aqui estou tentando crer que o brasileiro precisa ser estudado pela sua capacidade inventiva, pela sua expressão singular, por uma certa engenharia de ações que não se vê por aí, que a ciência desconhece, a filosofia nem tenta explicar — e o santo ajuda por amar esse povo!
Mas, ando desconfiada de algumas coisas que a gente anda fazendo. Me coloco a repensar esta expressão.
Por exemplo, assisti um vídeo esta manhã em que um senhor aparece num posto de gasolina. Ele está abastecendo o seu carro e diz algo do tipo “a gasolina abaixou graças ao Bolsonaro! Pode encher tudo! Pode colocar!” e aí retira a mangueira de abastecimento das mãos do frentista e começa a jorrar gasolina pra todo lado, lavando a roda, lavando o para-choque do veículo.
Ô gente?
Mas o que é isso?
Eu me perguntava…
E comecei a me lembrar de diversos casos em que brasileiros foram à frente das câmeras exacerbar o seu fanatismo por esse sujeito que organiza orçamentos secretos e todo tipo de conchavos, inclusive decretar a exposição dos valores de ICMS sobre os combustiveis pelos postos de gasolina até o mês de DEZEMBRO, furar pela milésima vez o teto de gastos para aumentar o auxilio às famílias de baixa renda, apenas para reverter seu péssimo desempenho nas pesquisas eleitorais.
É… esse tipo de brasileiro, pra mim, precisa ser estudado!
Outro exemplo e este está me deixando mais encafifada, é uma falta de percepção dos riscos, do perigo, que certamente nós brasileiros temos em nosso DNA.
Se de um lado temos aí uma espécie de cegueira dominando brasileiros que não enxergam o quão nocivo é o governo bozó. Temos de outro lado, brasileiros que não enxergam os movimentos golpistas que assolam o nosso país. Brasileiros que dizem que “as coisas vão se resolver nas urnas”.
Oras, e quem disse que está tudo garantido?
Que vai ter resolução de urna?
Nós imaginávamos que as coisas seriam difíceis, não?
Mas, imaginávamos que a capacidade de destruição seria tão grave e tão profunda em apenas quatro anos de mandato?
Não. Nós não imaginávamos o quão destrutivo ele seria.
Não prevemos por exemplo que aumentaria em 300% o número de registros de arma de fogo, num país com uma política de desarmamento presente. Hoje temos mais armas nas ruas nas mãos de civis do que nas mãos das forças armadas.
Temos visto na TV, nas redes sociais, nas entrevistas, diferentes declarações de insatisfação tanto do bozó quanto dos milicos, com o processo eleitoral do país. Obviamente sem nenhum precedente — algo típico deste governo. Mas não é isso que preocupa e sim a maneira como esse descontentamento se apresenta — com um tipo de ameaça, com um tom de quem pode sim repetir o que já foi feito no passado.
Ah, mas o bozó não tem apoio da mídia, e o golpe de 1964 tinha mídia e a população com eles.
Ok, brasileiros!
Record e SBT estão com o governo desde o início. E vimos aumentar as verbas para a Rede Globo de televisão em 75% neste ano.
Uai? Mas a globo não é lixo?
Sim! A globo é golpista. E se é golpista bozó quer por perto…
E aí tem duas coisas que poderão nos ajudar ainda mais nessas análises.
Veremos se depois disso nosso povo que não liga muito pra esse negócio de “sinais” se mantém na mesma. Aí sim, o brasileiro definitivamente precisa ser estudado!
Atenção ao dia 07 de setembro de 2022.
Quem esteve nas ruas de Brasília ano passado viu a força (e a tragédia estética) e fanatismo do soldados bozónaristas, dispostos a qualquer coisa, foram às ruas como se estivessem indo a uma guerra, para defender os interesses de uma elite e do próprio poder concentrado na imagem do que ocupa a presidência.
Este ano a convocatória a pretexto de comemorar os 200 anos da independência do Brasil vem com uma proposta de defesa de liberdade que nas palavras de bozó em entrevista ao SBT significa defender o voto em sua reeleição e a audição das urnas. “Eles querem aproveitar a data, do 7 de setembro, pra ter uma grande concentração, por exemplo em São Paulo, nas capitais, aqui em Brasília, que vai ser um 7 de setembro e também um apoio a um possível candidato que esteja disputando”. Na mesma entrevista defendeu que existe uma “sala-cofre” onde o processo eleitoral é definido.
Inacreditável a confusão que esse sujeito faz com as coisas.
Esse brasileiro precisa sim, ser estudado!
Então querides leitores.
Por favor parem com esse negócio de “ele não é nem louco de me atropelar! Ele está me vendo!”
Sim, o carro vai te atropelar.
Pare de desconfiar dos sinais, das ameaças.
Nós brasileiras e brasileiros precisamos ser estudados, precisamos de um pouco de respiro, de vida. E isso não virá sem luta!
A guerra já começou e os alertas estão aí. Bora ver?
—
Nota da autora: Escrevi este texto antes dos eventos da última semana, pois estava aqui matutando sobre a ideia de sinais, de alertas, de intuições, ou apenas de leitura de mundo, de cenários. Muitas vezes quando a gente fala sobre isso, as pessoas nos chamam de paranóicos, de teses conspiratórias. Coisa do nosso povo, são falas do nosso povo, que nós todes já escutamos certamente.
Ocorre que diante deste empasse – ver não ver. Sentir ou não. Crer ou não crer. Posicionar-se pra lá ou pra cá… eis que, uma hora a coisa escancara, chega-se a uma situação limite!
Situações limites como a morte e omissão do Governo diante da morte de Bruno e Dom, onde todo o desleixo com as políticas públicas de proteção à Amazônia aparecem na cara, em forma de assassinato.
O lamentável e escandaloso assassinato do petista Marcelo Aloizio de Arruda em sua festa de aniversário por um bolsonarista fanático não deixa dúvidas de que não se trata de polarização, discórdia na política ou bebedeira de final de semana como afirmam autoridades do próprio governo brasileiro, não são mais sinais.
É ódio.
Política de ódio.
É sim estimulo à sociedade de guerra, e não adianta mais uma vez dizer “o que eu tenho a ver” como na situação do descontrole da pandemia, desta vez, sim, você puxou o pino da granada, bozó!
Os tiros que foram disparados contra a caravana de Lula há quatro anos atrás também no Paraná, podem agora começar a esboçar alguma explicação, são sinais companheirada, e precisamos além de lamentar, estudar tudo isso para que sirva de instrumento pedagógico aos ativismos e a toda militância.
marcelovive!
Sim, eu assisto pantanal
Na verdade não só assisto, vivo o Pantanal desde 2017 quando nos somamos à um projeto de defesa dos rios junto aos Comitês Populares da Águas na região do Alto Paraguai.
É uma luta pelas águas, pela existência dos rios como força de vida.
É uma luta por permanência, a mesma que orienta as chuvas, a seca, que localiza os ninhais para os milhares de pássaros se reproduzirem.
É uma luta para afirmar um modo de existência humano e não humano.
Neste final de semana assisti a uma live organizada pelos Comitês Populares que formam a Escola de Militância Pantaneira e o Fórum de Mudanças Climáticas chamada “Direitos da Natureza”.
Professores, pesquisadores, gente com formação em direito apresentaram uma diversidade de declarações, leis, minutas, políticas públicas que colocam o rio, a natureza como um “sujeito de direitos”.
No meio da live comecei a pensar, se a turma dos comitês estava captando a mensagem como eu, e como penso em verso, a coisa saiu assim:
Direito companheirada
não é coisa simples, mas aqui tá dando pra compreender:
É instrumento pra transformar, pra regular a sociedade
pra garantia de um bem-viver!
É jurídico é político
pra gente usar junto com a luta
Tem um montão de textos e declarações
tem letra que não acaba mais nessas minuta…
Mas tudo isso,
todas essas letra do direito à natureza
vale mesmo pra reconhecer
coisas que a gente aqui já sabe, e já põe na mesa!
Que ela, a natureza é soberana
que ela não é objeto e deve ser respeitada
Fica esperto sujeito homem
Capitalismo e agronegócio, tá na hora da virada!
Nós dos comitês populares
reunidos aqui para estudar
para com ações
ao Rio Paraguai nos somar
Nós fazemos isso porque
compreendemos o rio e a natureza
como se fossem um de nós
Um ambiente vivo
e se é vivo tem direito!
Chega de usar
o Rio Paraguai para ganhar, para explorar!
O Rio Paraguai e todos os rios têm direito
estão aqui para reivindicar
Atenção Comitês Populares, convoco todos vocês
a partir deste encontro pensar:
Rio Paraguai é nosso companheiro de luta!
Direitos à vida ele têm.
E assim temos que chamar
Viva o companheiro Rio Paraguai!
Minha intuição primeira é de que o rio nessa perspectiva humanizadora, quando transformado em “sujeito de direitos” precisa ser chamado de companheiro! Pois luta, resiste, insiste em seguir correndo, fazendo curvas diante da imposição, ultrapassando barreiras, quando tentam lhe impor. O rio doa sentido à militância! Dele advêm o alimento e o sustento, nele nos inspiramos, e junto dele, lutamos!
Longe de querer transformar o rio em um humano para ter direitos, logo me vêm a cabeça o modo como as sociedades indígenas e os povos mais ligados à terra, à floresta nos ensina. Que as fronteiras entre natureza e cultura não existem, todos os seres vivos independentemente de sua forma física compõe e participam da vida social estabelecendo alianças, mas também relações de competição ou hostilidade.
Não foram poucas as vezes em que ouvi nas aldeias e comunidades ribeirinhas, rurais conversa sobre um ganso que gostava mais de uns do que de outros, um sapo que expressava sentimentos por certa moça… um boi que se abaixava para receber afago de um amigo…
Li recentemente, em um livro do Phillipe Descola, uma história incrível contada por um missionário do Vietnã, de uma senhora que pilava o arroz no quintal de sua casa quando ouviu os rugidos de um tigre se aproximando. O pobre estava com um pedaço de osso entalado em sua garganta e aos pulos tentava se livrar, indo parar na porta da senhora. Ela assustada, largou o pilão que caiu bem na cabeça do tigre, fazendo com que o mesmo num sobressalto, se livrasse do osso que o estrangulava.
Na noite seguinte a senhora reviu o tigre em sonho, que disse a ela “nós teremos uma amizade de pai para filha” ao que a mulher exitou dizendo que não seria digna de tal relação. O tigre insistiu e disse que “não aceitaria um não como resposta!”, trocaram cortesias.
Alguns dias depois, caminhando pela floresta a mulher deu de cara com o tigre carregando um javali. Na mesma hora em que o tigre bateu os olhos na senhora, largou a presa, rasgou-a em dois, lançou-lhe uma metade e seguiu seu caminho. E assim à senhora nunca mais lhe faltou caça, pois o tigre mantinha vivo seu contrato de parentesco com aquela que salvou sua vida.
Também já ouvi de um senhor que mora muito próximo de uma enorme montanha que nos dias em que ela amanhece coberta de neblina, significa que ela não está muito feliz, e por isso melhor evitar subi-la.
Existem pescadores que conhecem muito bem o humor dos rios e do mar e não se arriscam a medir força quando está brabo!
Sem contar as diferentes maneiras de cumprimentar florestas, igarapés, rios, montanhas, arvores, peixes que encontramos Brasil afora!
Mas tá parecendo conversa de velho do rio?
E é!
A novela remake dos anos 1990 (se não assistiu, assista!) está nos conduzindo à este espaço.
Ao invés de carregarmos a natureza pra dentro do campo dos “sujeitos de direitos” os personagens nos apontam o caminho inverso: à experiência de sermos natureza.
Curvando-se à sagacidade de um boi alongado, conhecer seus desejos, entender seus anseios, pressentir com eles a necessidade de liberdade. De uma onça arrodeando uma tapera afim de protegê-la, avançar sobre os agressores instintivamente para defender sua vida e a vida dos seus. De experimentar virar uma sucuri de olhos justiceiros, capaz de engolir alguém e não deixar rastros.
Constituir alianças com o tempo, com o vento, com as águas que sobem e descem.
“A coisa não é de explicar, é de se entender!” Disse o Zé Leôncio, encantado no Guimarães Rosa em uma certa cena, porque o povo da cidade quer explicação pra tudo!
Tem ali os encantados e tem o crambulhão, que no ouvido do Trindade sopra coisa boa… orienta o rumo.
O paradoxo de desenvolver e envolver.
O velho do rio que vira sucuri, a cobra grande daquelas bandas pantaneiras, é didático em sua abordagem: “Somos filhos de uma mãe gentil e generosa, a quem tentamos há muito tempo escravizar.” “Liberdade é entender que se não tem vento, não tem semente, e se não tem terra ela não finca.”
O velho é um encantado? Ou seria o pedaço de natureza que habita cada um de nós?
Nas palavras do poeta português Fernando Pessoa, vemos com nitidez as montanhas, vales, planícies, florestas, flores, riachos, mato, pedras, mas temos dificuldade em perceber que há um todo a qual tudo isso pertence, afinal conhecemos o mundo por partes, jamais como um todo. Mas a partir do momento que nos habituamos a enxergar a natureza como um todo, ela se torna por assim dizer um grande relógio, como qual podemos compreender sua engrenagem, montar, desmontar, acompanhar, aprender e nos somarmos à sua luta por existência.
E sendo assim…
A Juma Marruá que habita em mim, saúda a Juma Marruá que habita em ti!
Quem nunca sente réiva, só quer ir pra casa, é de poucas palavras e poucos amigos?
Juma é simbolo da autodefesa.
Sente cheiro de gente boa e ruim. Não confia nos homens.
Aponta a espingarda para a devastação.
Dica
O livro: Outras naturezas, outras culturas. Phillipe Descola, 2016. Editora 34
Lambeção

Estive em São Paulo neste final de semana. Fazia um frio impressionante. Vivo há algum tempo numa região de ar quente e úmido, me sinto desacostumada com as temperaturas baixas e com a frieza dos centros urbanos.
Passei pelo centro da cidade e o choque com a quantidade de pessoas dormindo em barracas tipo iglu ou armações de sacos de lixo e lonas foi imensa. Uma armação muito pouco protetiva do frio que fazia, apesar de parecer tudo muito bem feito pelas pessoas que ali estavam. Alguns aglomerados possuem filtros d’água, tapetes, flores e estantes para armazenamento de brinquedos e objetos.
Distribuí nessa caminhada tudo o que tinha nos bolsos, porque também nunca fui tão abordada na rua. Crianças aos montes. Mulheres. Homens. Velhos, jovens. Todo o tipo de gente, na rua. E não era pra se divertir, e não era pra protestar.
Eu só pensava no destrato. Como é que a gente pôde chegar nesse ponto, nesse nível de descaso, de não se importar. Onde é que estava o estado, os direitos humanos, o papa, o diabo?!
Uma instituição se via e muito, a polícia.
Essa não faltava.
Essa ali, estática, armada, cheia de carros, de escudos, estilo robocop – pronta para sei lá o que.
Descendo um pouco mais e buscando algum tipo de proteção do frio, tentando lidar com a indignação, olhava pro alto, tentava encontrar o mundo que tanto me encanta. Buscava ouvir as conversas das pessoas pra ver se encontrava a cidade, alguma cidade que não estivesse enterrada no descaso, no sofrimento, no congelamento.
Lembrei de um texto, A Conversa da Mesa do Lado, de Santiago Alba. Nesse texto ele conta que estava em um restaurante em Barcelona escutando uma conversa na mesa ao lado da sua, um grupo de jovens falava sobre nada. Ele analisa esta pequenez da conversa, achava tudo meio pobre, mas sentia que era algo que movimentava a vida das pessoas. Diz Alba: “a pequenez quase autista do mundo no qual se moviam as suas vidas e as suas conversas”. O mundo para Alba então seria exatamente isso, o que tem significado para nós, para o que nos marca, o que tem significado, o que nos implica, nos complica, faz com que tenhamos sensibilidade para algumas coisas e para outras, não. O mundo então seria o que nos marca, o que marca nossas conversas e o que compartilhamos.
Mundo é isso.
Com este texto em mente, fui olhando, fui explorando as mensagens, as partilhas nas paredes, as conversas entre as pessoas e o que aqueles mundos de um centro urbano, naquela tarde, diziam.
Me chamou atenção a quantidade de lambes que vestia a cidade.
Milhares de mensagens partilhadas: de “trago seu amor…” à “voto antirracista”, anúncios, comércios, serviços… me fez parar.
Nas pilastras do minhocão vi de longe um lambe gigante, muito bem feito, uma foto, ou quase uma miragem, trazia em letras pretas na parte de cima a expressão FODA-SE e mais abaixo, em clima de férias, temperatura alta, um sujeito montado em um jet ski, com o sorriso de quem está quite com suas tarefas, com a tranquilidade de quem mesmo fazendo as maiores atrocidades com a população, com a economia, com a saúde, com a educação, com a politica pública, com a vida, seguia solto e sem risco de ser preso ou pego. O sujeito que está em segundo lugar nas pesquisas para presidente, mesmo com uma lista imensa de denúncias e crimes não apurados.
O lambe se repetia por varias pilastras do minhocão.
Como um filme daqueles quando o diretor quer fixar uma ideia, dar-te uma pista da história, quando ele quer te enredar sobre algo. A foto horrível repetida com as frases em preto traduzia o acontecimento:
CRISE, FOME, TA TUDO CARO, FODA-SE.
Os lambes e as barracas enfileiradas abaixo do viaduto não deixavam duvidas do que acontecia.
Pra bom entendedor meia palavra basta, um risco é francisco.
Não é descaso. Não é pequenez. É projeto de destruição dos mundos.

Por uma história espiralar do movimento LGBTQIA+ no Brasil
Érica Sarmet* propõe uma retrospectiva dos movimentos LGBTQIA+ que supere estrangeirismos e invisibilizações e retrate de fato a busca coletiva da comunidade por “uma vida que valha a pena ser vivida”

IV Encontro Nacional de Travestis e Liberados, 1996: André, Jovanna Cardoso, Indianare Siqueira e Kátia Tapey l Foto: Reprodução
Se você fizer uma busca simples na internet por “história do movimento LGBT no Brasil”, encontrará nos primeiros resultados uma mesma linha do tempo, que tem início com a rebelião de Stonewall. Ocorrida nos Estados Unidos em 28 de junho de 1969, a revolta é considerada o marco inicial da luta pelos direitos civis da população LGBTQIA+ no mundo, sendo por isso a data escolhida para a celebração do Dia Internacional do Orgulho. E como ficam os LGBTs brasileiros que viveram antes e bem longe de Stonewall? Será que nada fizeram para melhorar suas condições de vida? Por que pensamos em Stonewall para falar da resistência LGBTQIA+ no Brasil, e não dos povos indígenas e suas variadas experiências de identidade de gênero e sexualidades pré-colonização? E os homens trans, quando eles entrarão na linha do tempo do orgulho? Por que suas iniciativas não figuram junto às lideradas por homens gays, lésbicas e travestis?
Em grande parte dos sites, reportagens e textos, essa linha do tempo salta do final dos anos 1960 em Nova Iorque para 1978 em São Paulo, na fundação do Somos – Grupo de Afirmação Homossexual (1978 – 1983), um dos pioneiros na articulação do na época denominado Movimento Homossexual Brasileiro. A ele, somam-se as histórias das publicações Lampião da Esquina (1978-1981) — cuja história virou um documentário homônimo de Livia Perez — e ChanacomChana (1981-1987); e a invasão do Ferro’s Bar (1983) por ativistas do GALF – Grupo de Ação Lésbica Feminista (1981-1990), episódio popularmente conhecido como “Stonewall brasileiro”, a despeito dos distintos contextos históricos, sociais e políticos que separam os dois eventos.
Quando chegamos nos anos 1980, é comum que nessa linha do tempo se escolha relatar o esvaziamento do movimento diante da morte de vários militantes para a pandemia do HIV/AIDS, ao invés de destacar eventos marcantes como a realização do I Encontro Brasileiro de Homossexuais (1980), a fundação do Grupo Gay da Bahia (1980) e de diversos outros coletivos pelo Brasil. O movimento organizado de pessoas trans e travestis, quando mencionado – o que muitas vezes não acontece -, geralmente é descrito tendo como ponto de partida a fundação em 1992 da Associação de Travestis e Liberados (ASTRAL) – sem dúvida um evento fundamental na história da militância trans brasileira. No entanto, será que antes de 1992 nenhuma pessoa trans havia atuado na defesa do direito a uma vida digna para a nossa população?
Descolonizar nossa história
Esse modo linear, progressivo e centralizado de compreender e relatar a história faz com que assumamos certas narrativas como principais ou únicas, e não é coincidência que essas sejam quase sempre protagonizadas por gays e lésbicas brancos, cisgêneros e de classe média. É bastante simbólico que a cronologia dos movimentos LGBTQIA+ no Brasil tenha como modelo os Estados Unidos, reflexo da extensão do colonialismo nos nossos modos de ver, saber e relatar o mundo. Nossa luta não começou em Stonewall, ela vem de muito, muito antes, formada na resistência dos corpos de figuras como Xica Manicongo, Tibira do Maranhão e Felipa de Sousa.
Xica Manicongo foi a primeira pessoa documentada como travesti na história do Brasil, devido a uma denúncia feita contra ela no Tribunal do Santo Ofício em 1591. Angolana, foi trazida ao Brasil como escravizada e viveu em Salvador, onde trabalhou como sapateira. Após a denúncia, Xica precisou abrir mão de suas roupas femininas e seu nome para escapar da pena de morte.
Em 1614, de acordo com o sociólogo e antropólogo Luiz Mott, um índio tupinambá foi executado por um tiro de canhão, com a anuência da Igreja Católica, em razão de sua orientação sexual, na época entendida como prática sodomita. Mott o nomeou de ‘Tibira do Maranhão’ por tibira ser o termo utilizado por indígenas do grupo linguístico tupi-guarani para se referir aos sujeitos de práticas homossexuais.
Já Felipa de Souza foi uma portuguesa condenada por “práticas nefandas” e “pecado nefando da sodomia entre mulheres” pelo Tribunal do Santo Ofício em 1591. No livro “O sexo proibido: virgens, gays e escravos nas garras da Inquisição” (1988), Mott relata que 29 mulheres foram acusadas de “lesbianismo” na Capitania da Bahia, das quais sete foram julgadas e condenadas, entre elas Felipa de Sousa, que teve a punição mais severa. Presa nos calabouços da Casa da Inquisição, ela foi retirada de lá em 26 de janeiro de 1592, quando foi obrigada a fazer um cortejo de humilhação até a Igreja da Sé, onde foi condenada, atada ao pelourinho e açoitada.
Essas nossas ancestralidades LGBTQIA+ se fazem presentes e vivas na formação de coletivos e organizações políticas, a exemplo do coletivo indígena Tibira. Composto por jovens indígenas LGBTQIA+ das etnias Tuxá, Boe Bororo, Guajajara, Tupinikim e Terena dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia, Pará, São Paulo e Maranhão, o coletivo busca visibilizar narrativas de indígenas gays, lésbicas, bissexuais, trans e travestis.

Integrantes do Coletivo Tibira l Foto: Reprodução Instagram.
Desinvisibilizar
Apesar de avanços no que tange os direitos civis e de uma relativa ampliação da representação política e midiática, ainda estamos muito aquém do necessário para contemplar a pluraridade de vivências LGBTQIA+ de um território vasto e tão culturalmente complexo como o Brasil. Certas identidades seguem invisíveis, desconhecidas para a maior parte da população e muitas vezes até para si mesmas.
No clássico artigo Heterossexualidade compulsória e existência lésbica (2010/1982), a poeta e teórica Adrienne Rich afirma que, diferente das existências judaica ou católica, as lésbicas tem vivido sem acesso a qualquer conhecimento de tradição, continuidade e esteio social. Isso se deve à destruição de seus registros, cartas, documentos, imagens, estratégia de apagamento de um projeto político muito bem sucedido de manutenção da heterossexualidade compulsória sobre as mulheres.
O mesmo se deu com outras existências LGBTQIA+ indígenas, negras, trans, intersexo, não-binárias… A ausência dessas figuras na linha do tempo oficial do “movimento LGBT brasileiro” produz uma ficção colonial segundo a qual apenas homens e mulheres cisgêneros brancos teriam contribuído para o avanço dos nossos direitos civis no país. Sabemos que isso não é verdade, mas o saber é pouco: precisamos cada vez mais conhecer e nomear os sujeitos que se mobilizaram no passado e seguem se mobilizando no presente em defesa de um futuro mais justo, digno e prazeroso de viver.
Quando falamos da luta travesti, por exemplo, é comum reportagens e blogs citarem como marco inicial a fundação da ASTRAL – Associação de Travestis e Liberados, em 15 de maio de 1992, sem contudo mencionarem suas fundadoras – na maioria negras e nordestinas: Jovanna Cardoso, Josy Silva, Elza Lobão, Beatriz Senegal, Raquel Barbosa, Monique do Bavieur e Claudia Pierry France.
Outro marco é a eleição de Kátia Tapety, travesti, negra, eleita vereadora em 1992 por Colônia do Piauí, município 388 km ao sul de Teresina, capital do estado. A história de Tapety, inclusive, se transformou no documentário KÁTIA (2013), por Karla Holanda. Um ano depois, acontece o Encontro Nacional de Travestis e Liberados que Atuam na Prevenção da Aids – ENTLAIDS, que levou à formação da Rede Nacional de Travestis e Liberados – RENTRAL, posteriormente renomeada de ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais, como é conhecida até hoje.

Organizações e referências LGBTQIA+:
Se o movimento social organizado das travestis tem início nos anos 1990, isso não significa que antes não houve uma série de tentativas de construí-lo, as quais devemos conhecer. Afinal, o fracasso também faz parte da nossa história.
Resistência na ditadura
De acordo com o pesquisador de memórias LGBTQIA+ Luiz Morando, em setembro de 1966 em Niterói, no Rio de Janeiro, houve a tentativa de realizar o I Congresso Nacional do Terceiro Sexo, impedido pela polícia. Em março de 1968, uma nova tentativa seria feita na cidade serrana de Petrópolis, também frustrada pela polícia; em maio daquele ano seria a vez de João Pessoa, na Paraíba, onde ativistas tentaram realizar o “Congresso de enxutos”, voltado para travestis e homossexuais. Na época, o ‘Diário de Pernambuco’ noticiou a eminência da realização do evento e suas principais pautas: reconhecimento do 3° sexo, permissão para casamento e divórcio entre homossexuais e reivindicação de melhor tratamento por parte da sociedade.
Ainda nos anos 1960, mais precisamente em 1962, foi fundada a primeira instituição LGBTQIA+ brasileira, a Turma OK, no Rio de Janeiro. Ativa até hoje, a história do mais antigo clube social gay da América Latina pode ser apreciada no curta-metragem “O Clube” (2014), de Allan Ribeiro.
Nos anos 1970, apesar da repressão da ditadura militar, houve tentativas de articulação de grupos e encontros anteriores ao Somos, como o I Congresso de Homossexuais do Nordeste, preparado pelo padre da Igreja Ortodoxa Henrique Monteiro em abril de 1972 em Caruaru, Pernambuco, igualmente barrado pela polícia. É também nos anos 70 que o psicólogo, escritor e ativista João W. Nery torna-se conhecido por ser o primeiro homem trans brasileiro a fazer uma cirurgia de redesignação sexual no país, em 1977.
Poucos anos depois, em 1982, Anderson Bigode Herzer seria o primeiro autor trans publicado no Brasil, com seu livro de poesias “A Queda para o Alto”. Assolado por uma existência de muita dor e sofrimento, Herzer se suicidaria naquele mesmo ano, mas seu legado permanece vivo e pulsante no CATS – Coletivo de Artistas Transmasculines. Fundado em 2020 pelos artistas homens trans Léo Moreira Sá e Daniel Veiga, o CATS tem o objetivo de gerar mais oportunidades de trabalho para artistas transmasculines, a fim de reverter o cenário de invisibilidade que esse grupo se encontra nas mídias e nas artes no geral. Quando o CATS é criado, já existem algumas instituições dedicadas às demandas e necessidades de homens trans e pessoas transmasculinas como o IBRAT – Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, fundado em 2013, e a ABHT – Associação Brasileira de Homens Trans, fundada em junho de 2012 em São Paulo.
No Rio de Janeiro, em 2001, foi fundada uma organização dedicada aos direitos das lésbicas, em especial das lésbicas negras, chamada Grupo de Mulheres Felipa de Sousa. Em entrevista à BBC News Brasil, a diretora da organização, Rosangela Castro, conta que a entidade recebeu o nome justamente pelo fato de Felipa de Sousa ter sido o primeiro caso de lesbofobia que se tem notícia no Brasil.
Coletivos como CATS, Tibira e Felipa de Sousa são só algumas das centenas de iniciativas voltadas para a defesa dos direitos LGBTQIA+ surgidas no Brasil nos últimos anos. De 2018 para cá também foram criadas a Associação Brasileira Intersexo (ABRAI) e a Frente Bissexual Brasileira, para ficar em dois exemplos de identidades marginalizadas dentro da própria comunidade, o que só reforça a fragilidade da ideia ilusória e importada de um movimento LGBTQIA+ uno e coeso. Diante de um cenário econômico, político e social devastador promovido por um governo fascista, declaradamente racista e lgbtfóbico, devemos exaltar as construções coletivas, bases fundamentais das histórias de nossos movimentos, inclusive das que estamos criando agora. É através da coletividade que nos fortalecemos, que honramos os que vieram antes de nós e nos mantemos firmes no propósito de viver uma vida que valha a pena ser vivida.
–
Érica Sarmet* é diretore, roteirista e pesquisadore nascide em Niterói. Com sua produtora, Excesso Filmes, dirigiu e escreveu três curtas: “Latifúndio” (2017),“Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui” (2021) e “Vollúpya” (em produção). Doutorande em Meios e Processos Audiovisuais na USP, é bacharel em Estudos de Mídia e mestre em Comunicação pela UFF. Autore de diversos capítulos de livros e artigos relacionados aos campos dos estudos de gêneros e sexualidades, como “Explosão Feminista” (2018), de Heloísa Buarque de Hollanda, vencedor do Prêmio Cesgranrio de Literatura; e “Feminino Plural: Mulheres do Cinema Brasileiro” (2017), finalista do Prêmio Jabuti, Sarmet também é co-fundadore do Quase Catálogo, cineclube dedicado a filmes dirigidos por mulheres e pessoas trans, da festa Velcro e do coletivo Isoporzinho das Sapatão.
Hidrelétricas e barragens impactam gerações de comunidades nas margens do “Velho Chico”
Por Mirela Coelho*
A produção de energia elétrica ameaça a vida do rio São Francisco e a sobrevivência de diversos povos, atravessando histórias de famílias e comunidades

Abertura das comportas da Usina Hidrelétrica Três Marias cuja construção afetou a vida de inúmeras comunidades l Foto: Cbh São Francisco/Youtube/Reprodução
Há cerca de 60 anos, o município de Três Marias, em Minas Gerais, era o lar de seu Pedro e dona Antônia, um casal de ribeirinhos recém-casados. Por ali eles viviam bem e tiravam seu sustento de tudo que o rio São Francisco provia. Em 1963, a primeira filha do casal acabara de nascer quando se iniciaram as operações da barragem Três Marias, um mega-empreendimento de geração de energia que mudaria para sempre suas vidas.
Seu Pedro até chegou a trabalhar na construção da hidrelétrica. Eles acreditavam na promessa de que, quando o lago estabilizasse, teriam suas terras de volta. Porém, a história não foi bem assim: os fazendeiros locais se apossaram das áreas que restaram e a família, como muitas outras, foi expulsa e precisou recomeçar a vida rio abaixo, na barra do Formoso. Hoje, Clarindo Pereira, 55 anos, pescador, filho do casal, e que ainda vive no local, teme que a história se repita.
Em 2020, o governo federal por meio do Diário Oficial da União anunciou a construção de uma nova barragem no rio São Francisco, a usina hidrelétrica (UHE) Formoso. Como aconteceu com seus pais, Clarindo e sua comunidade não foram consultados sobre a construção dessa barragem e as consequências esperadas para o mega-empreendimento causam medo e revolta.
“Não houve consulta prévia. Ninguém chegou e disse: “Olha, o senhor que é um pescador, que é um ribeirinho, o que o senhor acha da gente construir uma barragem aqui?” Não houve nada. Quando abrimos o olho as coisas já estavam além do que a gente previa”, afirma Pereira.
A UHE Formoso integra o Programa de Parcerias de Investimento (PPI) do Governo Federal e a empresa responsável pela hidrelétrica é a Quebec Engenharia. A nova hidrelétrica terá potência instalada de projeto de 306 MW e está projetada para ser implantada no estado de Minas Gerais, a 12 quilômetros da cidade de Pirapora (MG) e a 88 da UHE Três Marias. A área de reservatório invadirá 312 km2 e abrangerá os municípios de Buritizeiro (MG) e Pirapora (MG). O projeto atualmente segue na fase de levantamentos sociambientais prévios ao licenciamento.
Direito de existência
Biólogos brasileiros alertam para os perigos da construção de uma nova barragem na região em um estudo publicado no periódico científico “Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems” [Conservação Aquática: Ecossistemas Marinhos e de Água Doce]. As projeções indicam que 8 mil pescadores serão diretamente afetados e uma área de preservação permanente será profundamente alterada, assim como todo o rio São Francisco. Estudos também indicam que mais um barramento pode causar o desaparecimento de espécies de peixes ameaçadas, como o pacamã, que usam os efluentes do rio para reprodução.
Os moradores das áreas que não forem alagadas, que já vivem assombrados com o risco de rompimento da barragem Três Marias, passarão a conviver com mais uma barragem pendurada em suas cabeças – além de lidarem com todos os impactos ambientais, econômicos, sociais e psicológicos do empreendimento.
“Recebemos a proposta dessa barragem já com todo o desenvolvimento do projeto, pronto para aprovação, com o aval do presidente Bolsonaro e do governador Romeu Zema. Nós defendemos que nenhum mega-projeto, por mais importante que seja, possa retirar o direito à própria existência de um povo!”, diz seu Clarindo.

As barragens alteram a vida do rio e de suas populações l Foto: Cbh São Francisco/Youtube/Reprodução
Remoções
Histórias graves de violação de direitos fundamentais na construção de barragens são comuns no Velho Chico. Os povos Tuxá, em Rodelas (BA), e Pankararu, entre Petrolândia, Itaparica e Tacaratu (PE), também tiveram seus territórios e vidas violadas com a chegada da hidrelétrica Luiz Gonzaga (Lago de Itaparica) no norte da Bahia em 1975.
Nos anos 1980, a inundação causada pela barragem de Itaparica levou ao deslocamento de aproximadamente 40 mil pessoas, entre elas, cerca de 200 famílias Tuxá, aproximadamente 1.200 indígenas. Além dos danos materiais e imateriais produzidos com a submersão dos territórios ancestrais, a demora no reassentamento resultou na separação da população Tuxá, com grupos menores indo procurar abrigo em territórios distantes.
“Nenhuma das comunidades que saíram do território tradicional e foram para outros espaços vivem um cenário socioeconômico e cultural estável e seguro. Todos vivem processos territoriais por conta do que aconteceu no território tradicional” diz Ayrumã Tuxá, que mora na aldeia mãe, território D’zorobabé, local ancestral próximo a área que foi inundada. Ela completa:“Hoje eu percebo que foi uma estratégia inteligente do estado, pois não havia interesse de negociar ou conceder os direitos do povo Tuxá. Era mais fácil desagrupar uma comunidade”
Ayrumã conta que hoje seu povo luta em duas frentes: indenização e autodemarcação. Há quase 40 anos os Tuxás esperam respostas da Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) e da Funai (Fundação Nacional do Índio) sobre o ocorrido. Além disso, os indígenas da aldeia-mãe enfrentam um árduo processo para reconhecimento de posse das suas terras, em constante ameaça de desapropriação.
Atualmente, existe uma liminar de reintegração de posse expedida e reconhecida pela justiça federal que está com prazo suspenso até o julgamento final do Marco Temporal no STF. O Marco Temporal para demarcação de terras indígenas tem como finalidade principal determinar qual data deve ser observada para que aconteça a demarcação de um território indígena. Os ruralistas defendem que apenas as terras ocupadas em 1988 por Povos Indígenas poderão ser demarcadas, o que, por conta de processos de extermínio e expulsão, muitas vezes não acontece, como no caso dos Tuxá. A decisão é de repercussão geral, impacta diretamente no processo.
“Este é um processo de sérias violações a direitos fundamentais e o Estado está à frente disso, infelizmente. Para nós, resta a esperança de que o Marco Temporal não passe e que possam vir futuros governos que tenham propostas para os territórios indígenas e demarcação dessas terras,” destaca Ayrumã.
Depois da construção da hidrelétrica Luiz Gonzaga, o povo Pankararu viu toda a margem do rio São Francisco ser privatizada, não restando meios para desenvolvimento de suas atividades de subsistência. Até o consumo de água foi prejudicado. Para além disso, a cidade de Petrolândia que era de suma importância para as atividade econômicas Pankararu, desapareceu por entre as águas e foi transferida de local, o que impossibilitou a comunidade de vender produtos e tirar seu sustento.
“À medida que o rio foi privatizado tivemos que nos entender em um novo contexto. Em 1987 houve a nossa demarcação pela Funai e em 2006 conseguimos a extensão das terras, que é o território Entre Serras. A distância de Entre Serras ao São Francisco é de 2 km. O que são 2 quilômetros em uma demarcação? A todo momento o nosso direito ao rio é negado!”, protesta João Pankararu.
Atualmente a comunidade Pankararu não tem abastecimento de água do rio, vivendo de poços, água da chuva, fontes e nascentes. No período de seca, a água chega em carros pipa, quando o estado oferece, quando não, as famílias, mesmo que sem condições financeiras, são obrigadas a comprar água de longe. Tudo isso com o Velho Chico a poucos quilômetros.
“Não podemos mais praticar nossos rituais à beira do rio. A gente acredita que os encantados surgiram na cachoeira de Itaparica, que é onde está localizada hoje a barragem. Quando foi construída a barragem, a cachoeira foi destruída. Esse é o primeiro impacto: cultural e espiritual” conta João.
Preocupação com o futuro
Após tantas transformações, o estado atual do rio preocupa João e seu povo. “Passamos por uma seca forte nos últimos cinco anos. A Serra da Canastra, onde o São Francisco nasce, sofreu um incêndio criminoso. Com isso, a nascente diminuiu a vazão e a gente viu a água secando. Hoje o rio está um pouco mais cheio. Por mais que seja uma notícia boa, essas chuvas torrenciais que estão vindo e encheram as barragens são decorrentes das mudanças climáticas. Outros acontecimentos naturais ou provocados irão acontecer. E isso nos preocupa.”
Hoje, coletivos, pastorais, movimentos sociais e outras entidades dos povos do São Francisco se movimentam para que a barragem do Formoso não escreva mais histórias tristes naquelas águas. João afirma que “o desenvolvimento e o progresso ignoram essas histórias, mas são histórias reais, são impactos reais e que perduram por muito tempo.”
Dentre estes coletivos está o “Velho Chico Vive”, onde organizações, moradores e artistas se reuniram para denunciar os impactos da construção da UHE Formoso e defender o Rio São Francisco, através da divulgação da campanha contra a construção da hidrelétrica e ampliação do debate para a população. Eles costumam fazer visitas em campo e grandes rodas de conversa para trocar com o povo ribeirinho, num movimento de acolhimento e unificação para que todos se mantenham firmes diante das promessas que envolvem dinheiro, emprego e desenvolvimento para as comunidades.
Para Clarindo, a situação revela a “ ganância capitalista com a desculpa de que há necessidade de energia.” Segundo ele, ”o povo que vive da lamparina, porque a energia não chega aqui, não entende qual é o significado de tanta intolerância para construir uma barragem.”
Na contra-mão de empresas e governos, os povos do São Francisco pedem que outras formas de geração de energia mais limpas, que não matem bacias inteiras e respeitem as limitações e potencialidades do semiárido passem a ser consideradas pelo estado. Eles já entenderam que os frutos maduros dos empreendimentos no São Francisco definitivamente não vão para quem vive de suas águas.
“Temos que unir forças e acolher o povo para que esse projeto não passe e se apodere de mais um território. Onde vão colocar as pessoas retiradas de suas terras santas? Qual o valor para isso? O trunfo deles é ir apagando histórias e arrancando raízes. O impacto das barragens vai muito além da área que eles dizem indenizar”, finaliza seu Clarindo.
*Mirela Coelho é repórter da Escola de Ativismo.
Como é ser uma adolescente crescendo num Brasil que encolhe
A ativista Vitória Rodrigues reflete sobre crescer e se tornar adulta durante os anos de Bolsonaro e organizando, na linha de frente, a resistência climática
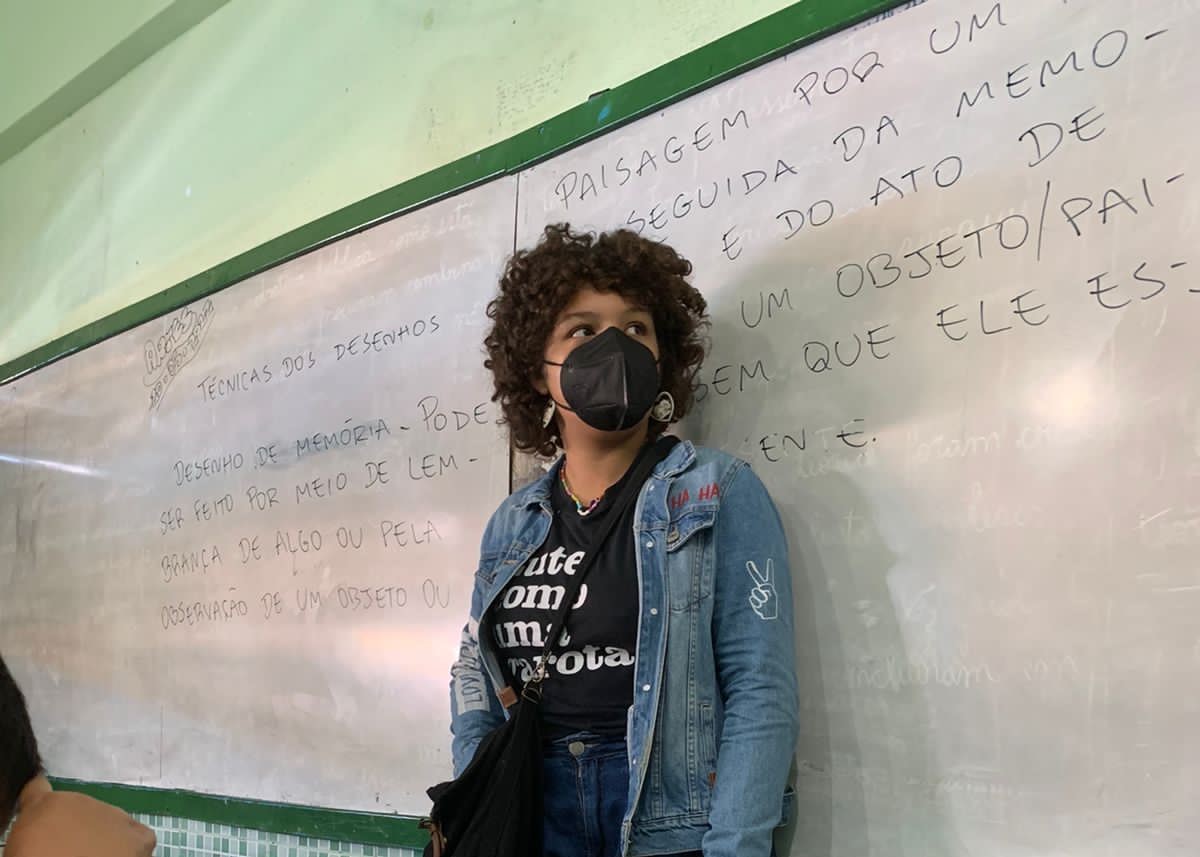
As últimas semanas estão sendo caoticamente dolorosas para qualquer pessoa que saiba e reconheça a gravidade do que está acontecendo. Ignorância, negligência, mentira. Eu tenho a expectativa de conseguir, algum dia, mudar realidades através da vida pública, mas como é possível permanecer com essa visão no clima de Bolsonaro?
Nas escolas que passei durante o fundamental, achei que chegar ao ensino médio seria sinônimo de, exclusivamente, curtir a vida e ver no estudo a chave pra mudar de vida. Mas, todavia, entretanto, eu comecei essa parte da minha vida junto com o governo Bolsonaro. O resto a gente já sabe muito bem o que houve, mas aqui quero falar da perspectiva da Vitória.
O meu ensino médio foi e está sendo completamente diferente do que eu imaginava: eu trampo com projetos sociais, faço iniciação científica por cem reais ao mês e estágio sem remuneração. Sendo mais específica, falo bastante do mínimo, que é trocar ideias sobre periferia, segurança, saúde pública e educação de impacto social. Porém é aí que o buraco fica mais embaixo: que é quando eu preciso afirmar que a crise climática tá em curso — e se não tem mundo, não tem mais problema algum.
Eu vou nos cantos falando que desenvolvimento sustentável é o caralho, que a mudança é estrutural, é como um todo: é preciso naturalizar a radicalidade. Essa preocupação com o presente – não é futuro, gente – do mundo não é só minha, mas também de muitos adolescentes, como a Hyally Carvalho e a Heloíse Almeida, que estão se desdobrando para comunicar que as coisas não podem continuar como estão.
Daí na hora de repensar diariamente tudo o que faço, me pergunto: por que eu preciso fazer isso?
Sei muito bem que a gente precisa de gente que movimenta espaços na cara e na coragem. Eu sei. Fazer isso me conecta com pessoas, histórias e experiências que jamais teria se só estivesse conformada com a realidade, mas eu realmente tinha que estar passando a maior parte do meu tempo lutando contra toda essa correnteza que vai desde o montante de lixo que é incinerado na porta da minha casa até a indústria que tá poluindo a Baía de Guanabara?
Todo esse processo é doloroso: faz o corpo gritar seja na dor de cabeça ou na ecoansiedade. Crescer no clima de Bolsonaro é ver que a sua vida e a sua luta não tem valor algum, porque a política deste crápula é a de atacar o ser ativista de tudo que é forma, ao ponto de dar aval ao fim da nossa existência. Comecei falando que essa semana está uma merda e está. Mais uma vez, estamos vendo o governo brasileiro – que é o de Bolsonaro, precisamos dar nome aos criminosos – falar que tá tudo bem ver ativistas como Bruno Pereira e Dom Phillips desaparecerem.
É aterrorizante ver que você vai começar a sua vida adulta num país que simplesmente não liga pra sua vida, pro que você fala. Viver no clima de Bolsonaro é andar lado a lado do medo e com a consciência de que o que você representa só importa quando você é um dos alvos dos poderosos.
Isso é um desabafo. Isso é um grito de desespero. Isso é uma expressão do meu medo. Mas isso também é uma forma de dizer que precisamos dar as nossas mãos não apenas entre a gente que tá nos projetos, mas entre todo mundo. A Anna Paula Salles, da Associação de Moradores do Engenho de Itaguaí, costuma dizer que a gente precisa é andar em bonde.
Convido quem me lê aqui a pensar formas de proteger ativistas, sejam aqueles que já foram, os que estão na luta e os que estão por vir. Como fazer tudo isso eu ainda não sei, mas a Escola de Ativismo é um bom caminho. Vamos pensar em outros coletivamente também?
Como publicou Andréa Pachá, “quero viver em um país que não mata e que não naturaliza a morte. Não aceito um Brasil que vive de perguntar quem mandou matar.”
–
Vitória Rodrigues é moradora de São João de Meriti, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Está terminando o ensino médio técnico de Gerência em Saúde na EPSJV/Fiocruz. É Diretora Executiva do Projeto Ini.se.ativa e inventa arte nas horas preenchidas. Fala bastante de violência urbana, racismo ambiental e educação crítica de impacto social.




