Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
JAUQUARA VIVO – Um rio é muito mais que suas águas para as comunidades quilombolas do Mato Grosso
Ao receber menos atenção que suas irmãs maiores, as chamadas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) representam um projeto que, por sua escala, pode ser ainda mais danoso à natureza. Somente no Mato Grosso, estão previstas 135 barragens desse tipo, que podem levar ao colapso do Pantanal, maior área alagada do planeta. Um projeto para cortar ao meio dezenas de rios. Entre eles, o Rio Jauquara, a veia principal que liga, dá vida, comida e cultura para um complexo de comunidades quilombolas que, agora, estão na luta pelo seu rio.
A luta pelo JAUQUARA VIVO é a pauta do Comitê Popular do Rio Jauquara, formado por quilombolas ligados ao Comitê Popular do Rio Paraguai. Essas barragens representam um choque incalculável em uma bacia hidrográfica pertencente a 4 países – Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina –, atingindo diretamente mais de 120 milhões de pessoas.
Os quilombos que dependem diretamente do Jauquara estão nos municípios de Barra dos Bugres e Porto Estrela. São gerações de uma cultura estruturada a partir da relação direta com a natureza, tendo no rio uma centralidade. Atualmente, o projeto para a hidrelétrica tem o nome de PCH Araras. O projeto básico já foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e segue em andamento.
A empresa responsável pelo empreendimento, a Prospecto Participações e Negócios, realiza estudos para entrar com o pedido de licenciamento ambiental na Secretaria de Meio Ambiente (Sema) do Mato Grosso. O processo, todavia, já está sendo questionado na Justiça pelo Ministério Público Federal. O procurador Julio Cesar de Almeida entrou com a ação questionando o projeto uma vez que as comunidades quilombolas não foram sequer consultadas sobre sua existência. A decisão da Justiça até o momento não foi emitida.
Porque as barragens são danosas aos rios

Os rios do Pantanal são conhecidos por seu período de cheia e de baixa. Esse equilíbrio delicado pode ser completamente alterado com o controle humano sobre o volume de água. Como forma de garantir que haverá sempre reserva de água para a geração de energia, os controladores das barragens determinam essa vazão. Para a natureza e as plantações que dependem desses ciclos para manter sua vida, isso significa o fim de colheitas e de vegetações nativas. No caso dos peixes, a situação é ainda mais grave, pois sem conseguir subir ou descer o rio para se reproduzir, diversas espécies entrarão em extinção nesses rios, levando a uma sequências de mortes em cadeia. Se até mesmo grandes cidades são impactadas por essa interferência, a situação é ainda mais grave em comunidades tradicionais que dependem dos rios para seu sustento e modo de vida, como os quilombolas do Vão Grande.
Eleições antirracistas, uma ação para já
Educafro, Instituto Marielle Franco, Mulheres Negras Decidem e Coalizão Negra por Direitos, com apoio do Pacto pela Democracia e uma série de outras organizações, estão convocando uma mobilização popular para pressionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a aprovar a distribuição proporcional dos recursos eleitorais para candidaturas negras nas próximas eleições de 2020. É uma forma de ajudar a desmontar os mecanismos do racismo estrutural: neste caso, no processo eleitoral.
ENTENDA
Nas eleições de 2018, homens brancos eram 43% do total de candidatos e receberam 58,5% dos recursos dos partidos destinados às campanhas. Homens negros eram 26% e receberam 18%. Mulheres brancas alcançaram 18% dos recursos, compatível com o número de candidatas (também 18%). Mas as mulheres pretas (13% das candidaturas) tiveram direito apenas à metade: 6,7% dos recursos eleitorais.
No dia 30 de junho, o TSE colocou em votação o tema da distribuição proporcional dos fundos partidário e eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral a candidatas e candidatos negros. Há 2 votos a favor da idéia, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo, o que pode atrasar a decisão e impedir que isso valha a partir das eleições deste ano.
A campanha pelas Eleições Antirracistas é para pressionar os ministros do TSE a concluir a votação o mais rápido possível de modo a garantir a distribuição proporcional já em 2020.
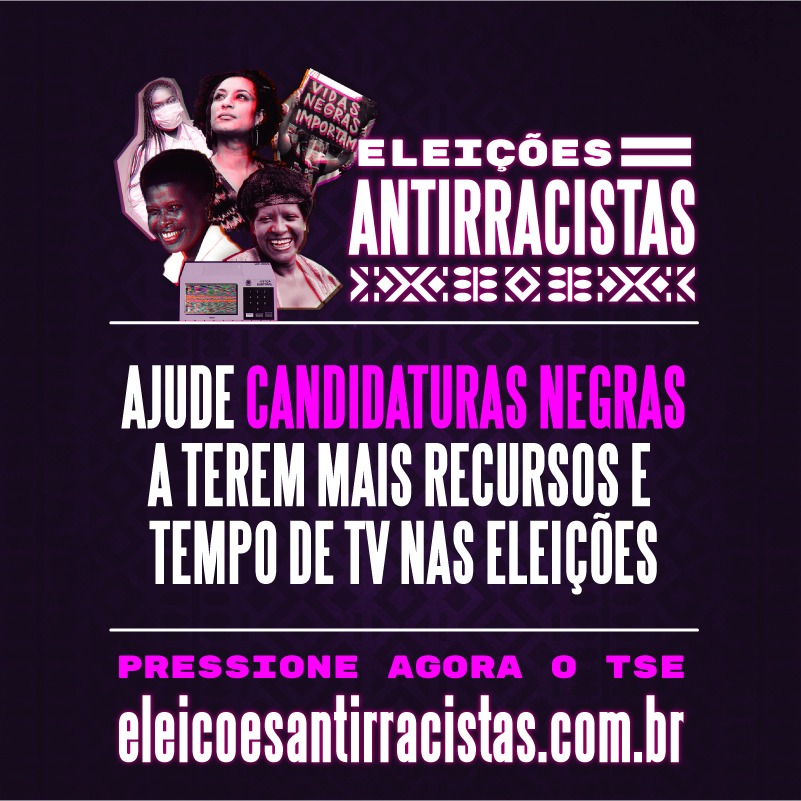
PARTICIPE AGORA
No site da campanha – clique aqui – você pode enviar um email diretamente aos ministros do TSE manifestando seu apoio à ideia.
Outra forma de apoiar é ajudar a ampliar a divulgação da campanha pelas mídias sociais, whatsapp, email etc, avisando as pessoas, chamando amigos e amigas.
Mais informações você encontra no site das Eleições Antirracistas.
LabCuidados – cuidado ativista é estruturante! Módulo 1: Insônia
Oi. Esperamos que esse post te encontre bem e com saúde no momento dessa leitura. Trazemos pra você saindo do forno uma iniciativa muito importante do #LabCuidados, da Escola de Ativismo, cujo objetivo é a experimentação e sistematização de saberes populares para abrir o código do cuidado para que seja acessível a todas/os. Mercantilização não tem vez aqui.
No módulo 1 dessa invenção, o tema é a insônia, mal da contemporaneidade e do nosso aperreio cotidiano. O sono é alvo direto do capital, pois representa o tempo não-produtivo, hoje dormir com qualidade é um luxo que a mídia informa que pode ser comprado ali no remedinho mais próximo. E isso é tudo o que essa publicação tem a intenção de enfrentar.
A proposta é tratar do tema de forma integral, trazendo os temas da reclusão, do trabalho remoto e da insônia, desde aspectos da fisiologia do sono à alimentação e mudança de hábitos possíveis.
Nas palavras do lab, “esse é um primeiro zine experimental para falarmos sobre saúde e ativismo sob uma perspectiva feminista, antirracista e autonomista“. E seguem, nas suas palavras, sobre o projeto: “Pretendemos fazer uma série de zines que irão abordar os desequilíbrios que temos visto mais comumente entre as pessoas que estão em isolamento social. Reconhecemos que existem muitas pessoas que não tem a opção de estar em isolamento e também precisam de materiais e cuidados específicos para os desafios e sofrimento que é estar exposta/o diariamente ao vírus.Este guia foi construído para promover autonomia nos processos de saúde entre ativistas que buscam justiça social e o fim da cultura patriarcal, racista, homofóbica e sexista.“
A coletiva disponibilizou seu e-mail para críticas e sugestões, só chegar em labcuidados@riseup.net
Um contrafeitiço circula pelas ruas, de bicicleta
O retrato que Natália Lackeski e Cadu Ronca, do Instituto Aromeiazero, fazem das mazelas e lutas dos cicloentregadores não deixa dúvida: ali está um ponto nevrálgico do sistema de exploração e, ao mesmo tempo, uma oportunidade potente de transformar os rumos das cidades, resistir à precarização e fortalecer formas de colaboração e solidariedade

Urgência e retomada
Começamos o ano de 2020 cheias de planos, metas e objetivos. Íamos colocar na rua mais uma edição presencial do curso do Viver de Bike, nosso projeto que promove a geração de renda por meio da bicicleta. Até então, era um curso presencial que abordava mecânica de bicicleta, empreendedorismo, geração de renda e pedalar na cidade. Durante as aulas, os alunos reformam bicicletas antigas e sem uso que conseguimos por meio de campanhas de doações e, no final, a bicicleta fica com eles como uma ferramenta para realizar o negócio que eles idealizam ao longo do curso. Apesar de atuarmos com uma população periférica de São Paulo, da Cidade Tiradentes ao Grajaú, o curso acontecia no Clube da Comunidade (CDC) Arena Radical, na Vila Olímpia, um dos centros financeiros da cidade. Mas este ano, depois de uma série de experimentações, decidimos inverter a lógica, indo até os territórios com um olhar de empreendedorismo e geração de renda que vê a bicicleta como ferramenta de fortalecimento das economias locais.
A pandemia veio e fez com que o curso presencial deixasse de ser uma possibilidade por enquanto. Revisitamos nossas ações para entender o papel do Viver de Bike nessa nova situação. Nosso olhar foi para urgência – os problemas de agora, principalmente a partir da pandemia – e também para a retomada – o caminho a ser construído para o que virá após a pandemia.
No âmbito da urgência, o que identificamos foi o crescimento do trabalho de ciclologística e o aumento exponencial da precarização do trabalho. A logística já era um mercado expressivo na cadeia econômica da bicicleta, mas tomou uma proporção sem precedentes com a pandemia. Vemos muita gente que perdeu o emprego ou não pôde mais exercer sua atividade profissional encontrar nos aplicativos de entrega uma forma de conseguir renda imediata. E a bicicleta é a principal porta de entrada dessas pessoas: é barata, acessível e não exige documentação específica. Além disso, a logística se tornou fundamental para que os negócios locais, que estão em situação de fragilidade, se mantenham em operação e minimizem seus prejuízos. Foi com esses elementos que repensamos o projeto Viver de Bike em 2020.
Surgiu a oportunidade de fazermos uma ação emergencial de valorização e apoio aos cicloentregadores. Assim nasceu o Pedal Contra Corona, que realizou revisões gratuitas de bike e entrega de kits com máscaras e álcool gel. Como contrapartida pela revisão gratuita, pedíamos o preenchimento de um pequeno formulário para entendermos as maiores dificuldades e preocupações dos entregadores. Conseguimos mais de 60 respostas e fizemos sete entrevistas em profundidade. Isso, somado à pesquisa do Perfil dos Entregadores Ciclistas de Aplicativo feita pela Aliança Bike antes da pandemia foi, fundamental para construir e embasar nossa atuação nesse campo.

Contradições
Hoje, enxergamos que a maior parte das pessoas que trabalham com ciclologística são de baixa renda e moradoras de periferias. O principal motivo para elas ingressarem nesse trabalho é a necessidade de renda, e isso vem acompanhado de outros motivos, como gostar de pedalar. A indicação de amigos e redes em grupos de WhatsApp também é muito importante. Existe até uma cena de youtubers que postam vídeos sobre como acessar esse tipo de trabalho. As pessoas escolhem os aplicativos porque, além de desconhecerem outras formas de trabalhar com ciclologística que não esse modelo hegemônico, não há formalidades para iniciar a atividade: não é necessário fazer entrevista de emprego, enviar um currículo ou passar por uma formação. E, principalmente, busca-se flexibilidade de horário e maior autonomia dentro de uma hierarquia. O sentimento de ser o próprio patrão, apesar de estar repleto de contradições, perpassa a maior parte desses trabalhadores. Mas, na realidade, muitas pessoas trabalham dez horas por dia e fazem de cinco a dez entregas. A remuneração diminuiu muito no período de pandemia – especula-se que isso seja por conta do aumento do número de entregadores – enquanto o faturamento dos aplicativos cresceu 30%.
Quando perguntamos qual o lado ruim de se trabalhar com entrega, o medo, em geral, é muito marcante. No nosso questionário, as pessoas citavam medo de não voltar para casa, medo de pegar Covid-19, medo de serem roubados, medo de serem confundidos com assaltantes, medo da bicicleta quebrar, medo de ser mulher… Mas, mesmo em uma pandemia, o medo da violência no trânsito foi muito expressivo. Também existem preocupações com a falta de transparência dos aplicativos: os trabalhadores não sabem como nem por que são bloqueados, por exemplo.
Atualização da luta de classes
Estamos vivendo há alguns anos um boom de inovação e startups. E vemos grandes startups de entrega ganharem um cartaz de inovação usando a velha exploração de uma classe não privilegiada. Não há nada de inovador nisso: é a tecnologia sendo usada para explorar o trabalho humano. As pessoas são pegas em uma armadilha de trabalho que quase inviabiliza que elas saiam desse modelo ou busquem outros sonhos. Se você trabalha dez horas por dia e ainda tem que ir e vir de casa, como você vai se dedicar a qualquer outra coisa?
É diferente de um comerciante, que abre a banquinha dele e depende do cliente chegar ou não para ele faturar. No caso de um aplicativo, existe um intermediário que controla o fluxo de clientes. Não é um trabalho conforme a CLT, mas está longe de ser autônomo.Se o aplicativo se apropria muito da situação, ele corre risco trabalhista. Então, ele fica no limite da responsabilidade possível, oferecendo nada além do mínimo.
É uma atualização da luta de classes. Quem produz não possui os meios de produção. O intermediário introduz uma tecnologia. A legislação trabalhista já não dá conta dessa realidade e o regime da CLT já não é atraente em um cenário em que os trabalhadores desejam autonomia sobre o próprio tempo – ainda que essa autonomia não seja realizada nos aplicativos. Os sindicatos perdem força e os aplicativos emergem como um símbolo forte, oferecendo uma “solução” problemática para quem fica mais vulnerável nesse cenário econômico. Não é à toa que o Audino Vilão, quando fala de Karl Marx, usa o exemplo do entregador de aplicativo.
Falamos muito de empatia, de pensar no outro, mas na hora de termos a comodidade de pedir um lanche para ser entregue em casa em plena chuva, esquecemos que alguém vai pegar essa chuva por nós. É uma falta de senso de ação e reação parecida com a que acontece quando alguém joga algo no lixo e acha que aquele lixo vai desaparecer. Temos que ter esse olhar sistêmico sobre os serviços que acessamos para conter a desumanização do trabalho.
Alternativas
Em última instância, a entrega de bicicleta só pode ser justa e eficiente para todos sem intermediários, porque o valor pago aos intermediários absorve os benefícios, direitos e grande parte dos valores que deveriam pertencer a quem está fazendo a entrega ou aos próprios restaurantes. Mas, enquanto existirem, os aplicativos seguirão possibilitando a geração de renda de milhares de pessoas que precisam sobreviver. Eles precisam se responsabilizar por esse papel social, compreendendo quem são seus colaboradores, a fragilidade em que se encontram e, principalmente, a questão estratégica desse modelo de negócio: sem o entregador e o restaurante, o aplicativo não é nada.
A primeira solução, então, é uma revisão dos próprios procedimentos dos aplicativos e uma atuação mais transparente, incluindo a participação dos próprios entregadores na configuração da tecnologia.

Além disso, quando falamos de ciclologística, os aplicativos não serão os primeiros, nem os últimos modelos. O ecossistema é muito maior. Existem empresas desse ramo que contratam seus entregadores de acordo com a CLT e operam de forma organizada e eficiente. As cooperativas também estão crescendo e se fortalecendo, embora, em geral, elas precisem de um tempo maior para se formalizar. Em São Paulo, a cooperativa que tem maior visibilidade e que está finalizando seu processo de formalização é a Giro Sustentável. Também há os coletivos, como Sinkro Mess e Señoritas Courier, que se organizam de forma similar às cooperativas, mas atuam à margem das burocracias formais e têm gestões mais dinâmicas e flexíveis parecidas com as dos coletivos que vêm dominando a cena cultural nos últimos anos. Esses grupos investem um capital social enorme para se organizar e manter uma visão de justiça social, colaboração e horizontalidade.
Uma alternativa que consegue competir em escala e complexidade com os aplicativos é o trabalho direto com os estabelecimentos. É importante lembrar que as altas taxas dos aplicativos são um problema também para eles, como apontou a pesquisa Alimentação na Pandemia, da Galunion e Associação Nacional dos Restaurantes (ANR). Para incorporar a taxas, os restaurantes precisam aumentar o preço, mas nem sempre esse aumento recebe adesão dos consumidores, e os aplicativos também fazem promoções que são parcialmente pagas pelos estabelecimentos. Negócios pequenos acabam levados à falência. Por isso, vemos também um movimento dos restaurantes desenvolverem os próprios aplicativos, automatizarem seus serviços, empregarem os próprios entregadores ou fazerem parcerias com os coletivos e empresas alternativas que citamos. E a ciclologística não é só a entrega: existe um trabalho comercial, de prospecção de clientes, atendimento, desenho de rota, entrega, coleta e prestação de contas, mas nem todo mundo tem o perfil ou desejo de realizar todas essas atividades. Os estabelecimentos podem ancorar essas etapas, empregando seus próprios entregadores, como se fazia nas farmácias e pizzarias há alguns anos.
Por fim, não podemos minimizar a importância do poder público em garantir que as entregas cada vez mais essenciais sejam feitas de forma digna. Regulamentar o serviço, aplicar os impostos e taxas (ou parte deles) em educação, conscientização e infraestrutura para ciclistas e pedestres são medidas indispensáveis. E é preciso regulamentar e fiscalizar as legislações específicas, como é a Política Municipal de Ciclologística, uma lei pioneira no Brasil mas que ainda precisa de regulamentação para ser efetivada.

Contrafeitiço
A filósofa francesa Isabelle Stengers definiu o capitalismo como um sistema capaz de gerar enfeitiçamentos, levando ao que ela chama de “alternativas infernais”, que são igualmente ruins e não têm saída. A entrada dos trabalhadores nos aplicativos é um exemplo disso: ou você trabalha, ou você não leva renda para sua família, e quando você se submete, ainda acha que tem liberdade dentro disso. Ela também diz que é importante criar os contrafeitiços, e é aí que entra o que entendemos como hackeamento. Lançar um contrafeitiço no sistema capitalista passa pela descentralização, pelo investimento no local e pelo desenvolvimento de novas centralidades.
A periferia – que não é periferia, como dizem os muitos pensadores de quebrada – faz parte dessas outras centralidades. E a bicicleta é integrada à solução local, à possibilidade das pessoas trabalharem e gerarem renda nos seus próprios territórios, à diminuição do movimento pendular das periferias ao centro. Ela é o veículo mais eficiente em distâncias de até cinco quilômetros e não tem as externalidades que as motos e os carros têm, como barulho, poluição e mortes no trânsito. Os novos aplicativos, os sistemas próprios de entrega, as outras formas de contratação e uma regulamentação moderna para o setor também fazem parte desse hackeamento.
No Viver de Bike, colaboramos para a criação desses negócios que são urgentes. Quando falamos de empreendedorismo, além de falarmos de trabalho digno, colaborativo e que tenha impacto positivo na sociedade, falamos em criar soluções que pensam o território, que fortalecem os seus. Já o Delivery Justo, a campanha que lançamos agora dentro do Viver de Bike, pretende conectar os negócios que precisam fazer entregas com os entregadores que pedalam naquela região e com as cooperativas e coletivos locais. É um dos nossos contrafeitiços: uma campanha com olhar territorial.

Simbolismo da luta
A paralisação dos entregadores em 1º de julho é uma grande vitória e um disparador importantíssimo de um contrafeitiço. Na França, os relatos são de que os entregadores conseguiram melhores remunerações e direitos depois das paralisações. Os aplicativos, em sua lógica neoliberal, dizem: “Somos a favor da greve e do direito à manifestação, mas quem sair para trabalhar no dia da greve vai receber bastante”. É importante sairmos desse encantamento, desse feitiço que busca mercantilizar tudo. A paralisação tomou proporções grandes, com cobertura da mídia, lives, posicionamento de empresas e de lideranças políticas. Estávamos um pouco carentes desse tipo de manifestação. Ela carrega o simbolismo de que, hoje, um grande movimento está sendo levantado pela classe mais precarizada, e fora de um sindicato.
Para nós, que temos esse olhar e atuamos com a bicicleta como forma de cidadania e transformação social, é muito perverso ver ela se transformar em uma ferramenta que possibilita a precarização do trabalho e a exploração das pessoas que já são historicamente subalternizadas. Na lógica dos aplicativos, as pessoas que estão na rua fazendo entregas são retratadas como indivíduos autônomos, concorrentes uns dos outros, e não como uma classe. Mesmo assim, elas conseguiram enxergar um laço de solidariedade entre si para pautar as mudanças no seu modelo de trabalho. Ainda que o número de motofretistas seja muito maior, as bicicletas e motos estão juntas nessa luta, que é uma só. Isso é muito bonito, além de urgentemente necessário para gerar serviços que tragam comodidade e efetividade, mas que também estejam pautados trabalho digno. Essa transformação é possível. E a bicicleta é uma grande aliada que deve reforçar seu papel histórico de promoção de autonomia, emancipação, independência e humanização da cidade.
—
Natália Lackeski é coordenadora de projetos no Instituto Aromeiazero, Bacharel em Produção Cultural pela UFF e especialista em Gestão de Inovação Social pelo Instituto Amani. Atua nas áreas de cidades sustentáveis, engajamento comunitário e cultura, com experiências no setor público e social.
Cadu Ronca é diretor e fundador do Instituto Aromeiazero. É advogado e especialista em Gestão de Sustentabilidade pela FGV-SP e em Gestão de Negócios Socioambientais pela FIA-USP / IPÊ – Instituto de Pesquisa Ecológicas. Atua na área socioambiental e de engajamento comunitário, especialmente a partir da bicicleta.
O Instituto Aromeiazero é uma organização sem fins lucrativos que promove uma visão integral da bicicleta, não só como transporte, mas também como expressão artística, oportunidade de renda, lazer, esporte e também como ferramenta de mudança no modo de vida e humanização das relações nos centros urbanos. Seus projetos, como o Viver de Bike, Bike Arte e Rodinha Zero, buscam reduzir a desigualdade social e tornar as cidades mais resilientes.
SAIBA MAIS
Site do Instituto Aromeiazero: https://www.aromeiazero.org.br/
Campanha Delivery Justo: https://www.aromeiazero.org.br/deliveryjusto
Audino Vilão explica Karl Marx: https://www.youtube.com/watch?v=y6eyQ8fgIf4se
Cooperativas e empresas de entrega justa…
… em São Paulo:
Giro Sustentável – https://www.instagram.com/girosustentavelentregas/
Señoritas Courier – https://www.instagram.com/senoritas_courier/
Sinkro Mess – https://www.instagram.com/sinkromess/
… em Porto Alegre:
Pedal Express – https://www.instagram.com/pedalexpress/
Um olhar sobre o papel do poder público na questão da ciclologística (Cadu Ronca e Murilo Casagrande pela Agência Envolverde Jornalismo)
“Compras por aplicativos têm alta de 30% durante pandemia, diz pesquisa” (Letycia Bond pela Agência Brasil)
——
Créditos das imagens: Carolina Santaella, Rogério Viduedo e Fluxos Imagens
Boletim #31
Especial: Covid19
Olá, companheires, esperamos que esse boletim lhes chegue em um bom momento, apesar de todos os pesares. Num cenário pandêmico, onde se unem crise política e econômia, tentamos trazer para este boletim notícias que são necessárias (mas nem tão boas assim) e que terão um aviso de [baixo astral] e outras notícias que são inspiradoras e fontes de esperança, nomeadas de [alto astral], como aviso para possíveis gatilhos.
Demos destaque as notícias sobre racialidades, visto que o mundo tem se levantado contra o racismo mais contundentemente neste momento. #VidasNegrasImportam
Esperamos que você esteja se cuidado e que use este boletim da melhor maneira possível.
Abraços da EA
Racialidades [alto astral]
Nossa inspiração do momento agora tem canal próprio de vídeos. Curtam e assistam o advogado, filósofo e professor Silvio Almeida tanto quanto nós <3. Acompanhe o canal no youtube.
Vídeo sobre racismo estrutural e a realidade brasileira com Professor Silvio Almeida e Djamila Ribeiro, também no youtube.
Conversas impertinentes – Feminicídio, genocídio e pandemia uma conversa com Angela Davis, Naomi Klein e outras jovens ativistas sobre as saídas para a crise, assista no youtube.
Allan da Rosa, escritor, educador popular, Angoleiro, historiador, mestre e doutorando em Educação pela USP publiciza ao poucos seus estudos sobre branquitude. Confere no perfil dele no Instagram.
Emicida em entrevista potente sobre racismo, violência, microbiologia e outras formas de existir. Assista no UOL.
#BlackoutTuesday: racismo e hipocrisia corporativa. No Nexo Jornal.
5 obras para a branquitude crítica compreender seu papel na luta antirracista – por @aquelaprofagab. Veja no twitter.
A Revista Afirmativa está com uma série de conversas sobre branquitude todas as segundas-feiras. Dá um check no Instagram.
Denise Carrera no seu artigo propõe a necessidade de engajamento das pessoas brancas na luta antirascista. Matéria completa na revista Sur Online.
Nas discussões sobre crise pandêmica e um mundo global, o Professor Milton Santos já apontava caminhos para o Brasil. O Uol fez uma linda timeline biográfica sobre o filósofo baiano.
Resistências ♥ [alto astral]
Tuíra de emergência:
Produzir memória. Amplificar vozes. Mover o pensamento. Inspirar ações. Estes são alguns dos motores da série “Tuíra de emergência: uma revista sobre ativismo na emergência”, que passa a ser publicada semanalmente pela Escola de Ativismo.
Na forma de textos produzidos a partir de conversas com ativistas em diferentes territórios e lutas, buscamos circular as ações e as (re)invenções resultantes da luta pela vida no enfrentamento das crises provocadas pela pandemia. A primeira da série registra as transformações pelas quais passou o Serviço Franciscano de Solidariedade – SEFRAS, ao identificar o avanço brutal da fome nas ruas e nas periferias da cidade de São Paulo. Navegue pela Tuíra de Emergência.
O Dia da/o Pedagoga/o: lembranças do que devemos ser em tempos furiosos
Em um mundo entregue à superficialidade nas relações humanas, às normas heteropatriarcais, aos enclaves da injustiça social que transformam a miséria humana e a dor do próximo em espetáculo, ser pedagoga/o é ousar desejar. Veja no Jornal GGN.
O homem que arruinou a extrema direita nos EUA
O perfil se chama Sleeping Giants, tem 250.000 seguidores e sua descrição diz: “Um movimento para tornar o fanatismo e o sexismo menos lucrativos”. Em seguida, uma citação de Steve Bannon sobre o Sleeping Giants: “Eles são o pior que há”. Matéria no El País.
Movimento Sleep Giants expõe empresas do Brasil que financiam, via anúncios, sites de extrema direita e notícias falsas. No El País também.
“Uma Nova Normalidade”
É uma campanha de comunicação impulsionada pelo Conselho Latinoamericano de Investigação para a Paz, cuja finalidade é gerar uma corrente de opinião crítica da normalidade prévia diante da pandemia. Veja a campanha Una Nueva Relidad.
A Global Encryption Coalition (Coalizão Global de Criptografia, em tradução livre)
Promove e defende a criptografia nos principais países onde a criptografia está ameaçada. A coalisão também apoia os esforços das empresas para oferecer serviços criptografados aos seus usuários, confira no site GlobalEncryption.
Sociedade civil pede que tecnologias usadas devido à pandemia respeitem os Direitos Humanos
Sociedade civil alerta que durante a Pandemia os Estados, governos e comunidades da América Latina devem protejer e fortaler os direitos humanos no contexto digital, veja no site da Coding Rights.
Povos indígenas frente à covid-19
O Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo reuniiu e publicou textos e artigos sobre a cosmovisão dos povos amerídios frente a pandemia de covid19. Saiba mais no site da CestA.
A Rede Emancipa lista campanhas de solidariedades ativas no Brasil
A Rede Emancipa, que luta contra a barreira do vestibular e pelo processo de emancipação individual e coletivo da juventude periférica, por meio da educação popular está divulgando uma lista com diferentes iniciativas para minimizar o impacto da pandemia nas periferias. Site da Rede Emancipa.
Apoio Mútuo – Kasa Invisível
O apoio mútuo é um dos pilares do anarquismo. E é em crises como a pandemia de COVID-19 que ele se faz mais presente e importante. Esse vídeo é um registro das ações de apoio mútuo realizadas pela Kasa Invisível, ocupação e centro social em Belo Horizonte. Veja o vídeo no Vimeo.
Notícias [alto astral]
Vitória! ICANN Rejeita Venda .ORG para a empresa de Private Equity Ethos Capital [en]
Esta é uma importante vitória que reconhece o longo legado do registro como uma entidade sem fins lucrativos, baseada em missão, protegendo os interesses de milhares de organizações e das pessoas que elas servem. Saiba tudo no site da EFF.
Notícias [baixo astral]
COVID-19 torna o acesso e a abertura à Internet uma prioridade absoluta
Enquanto nos mantém em casa à força, a pandemia do COVID-19 obriga-nos a enfrentar algumas questões difíceis. Como quase metade da população mundial pode ser regularmente excluída da Internet, que cada vez mais faz parte integrante de nossa vida social, política e econômica? Para abordar essa e outras questões o site Medianama organizou artigos do simpósio “Internet Openess”, veja tudo no site Medianama.
Coronavírus pode construir uma distopia tecnológica
O artigo da jornalista e pesquisadora Naomi Klein alerta para a distopia tecnológica a qual a crise do corona vírus pode nos proporcionar. Leiam e reflitam! No Intercept.
Informante da Apple vem a público por falta de ação [en]
Um ex-contratado da Apple, que ajudou a espalhar o programa da empresa para ouvir as gravações da Siri, decidiu vir a público. Leia no The Guardian.
Suas selfies de máscara facial podem estar treinando a próxima ferramenta de reconhecimento facial [en]
Pesquisadores estão buscando na internet fotos de pessoas usando máscaras faciais para melhorar os algoritmos de reconhecimento facial. Veja no CNET.
Fuzis ungidos e grafite gospel em muros da comunidade
Nação de Jesus: Traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) proíbem e expulsam praticantes de religiões de matriz africanas de seus domínios no Rio de Janeiro. No UOL.
Suprema corte da Índia falha em restaurar internet de alta velocidade nas cidades de Jammu e Caxemira durante a pandemia [en]
As pessoas da região ficaram restritas a apenas o acesso à Internet móvel 2G lento, desde que as autoridades suspenderam um fechamento geral da internet em janeiro de 2020, após uma decisão da Suprema Corte. Leia no site da Access Now.
POLÍTICA [baixo astral]
Polícia política?: Ministério da Justiça de Bolsonaro troca centenas de cargos na PF
Ministério da Justiça, sob comando de novo ministro, faz alterações na PF e muda 6 superintendentes regionais e centenas de outros cargos na sede e nos estados. As mudanças foram feitas através de 99 portarias. Matéria completa na Revista Forum.
Presidente recria Ministério das Comunicações e entrega pasta a genro de Silvio Santos
Deputado Fábio Faria (PSD-RN) comandará novo ministério, que era cobiçado por partidos do centrão. Matéria completa na Folha.
Presidente da Fundação Palmares chama movimento negro de escória maldita
Jornal divulgou áudios de reunião em que Sérgio Camargo xinga Zumbi; ele diz que gravações são ilegais. Leia na Gazeta Web.
A guerra global contra a população negra e nossa resistência histórica e global”.
Junho de 2013 e Junho de 2020 terão algo em comum?
O podcast Café da Manhã, debate e se debruça sobre as organizações dos dois momentos. Ouça no podcast da Folha.
Nossos corpos não serão descartáveis!
A pandemia e a urgência de uma democracia da abolição. Artigo da Revista Afirmativa.
Artigos e Análises [baixo astral]
Informe Anual da Artigo 19 – Dissonância [es]
Dissonância: vozes em disputa, busca refletir a tensão entre diferentes vozes e a impossibilidade de ouvir aquelas outras expressões que continuam a lutar para serem ouvidas. Neste relatório do México e América Latina, procuramos explicar os efeitos da polarização do pensamento e a necessidade de observar as diferentes arestas de uma crença. Leia no site Disonancia.
“As milícias bolsonaristas não vão aceitar a derrota e as esquerdas precisam se precaver”, diz historiador
Bolsonaro constituiu um dispositivo de milicianos e paramilicianos ligados às polícias militares que não vão aceitar a alternância de poder em caso de derrota no projeto de reeleição do atual presidente. Leia no Marco Zero.
Violência gera violência é a falácia colonial
Análise sobre as violências física e simbólica pelas Blogueiras Negras.
Dados e narrativas territorializadas em tempos de pandemia global
Um artigo sobre a importância do território e como a pandemia traz à tona ações locais com base na tecnologia. Leia no site da rede LAVITS.
Radar Legislativo: Especial COVID-19 e Tecnologia
Em menos de um mês, o Congresso Nacional propôs 18 novos projetos de lei relacionados à Internet e ao uso de tecnologia em tempos pós-coronavírus. Veja no site da Coding Rights.
Como o COVID-19 está alterando dados, IA e sociedade [en]
O Instituto Adalovelace fez um apanhado de textos e resumos sobre o tema. Site do Instituto Ada Love Lace.
O coronavírus transformará seu escritório em um estado de vigilância
De sensores de movimento a testes térmicos, a tecnologia de vigilância está crescendo à medida que as empresas procuram levar as pessoas de volta ao trabalho. Saiba mais na Wired.
A tecnologia é estúpida
O artigo aborda questões sobre qual tecnologia é boa, segura e apropriada para uso nesses tempos complexos. Como decidimos em qual tecnologia devemos confiar? No site da Tactical Tech.
Privacidade [alto astral]
Artigo do IP.Rec avalia como a criptografia homomorfica pode ajudar em meio a pandemia
Dado o delicado cenário causado pela pandemia, é aconselhável pensar em como todas as áreas do conhecimento podem arquitetar estratégias que evitem novas rupturas e crises sociais. Uma dessas áreas é a criptografia, no site do IP.Rec.
Privacidade e Pandemia: recomendações para o uso legítimo de dados no combate à COVID-19
O relatório lançado da dataprivacy auxilia agentes do setor público e privado de todo o território nacional a tomarem decisões que reduzam os riscos à privacidade no combate à pandemia. Relatório completo no Data Privacy Br.
Contact Tracing [baixo astral]
Não dá para escapar do tema, por isso fizemos uma seleção de links para saber tudo sobre rastreamento de contato (contact tracing), infelizmente a grande maioria são textos em inglês.
Definição de contact tracing na wikipedia [en]
Entrando no campo minado de rastreamento de contatos digitais [en]
Novo alerta sobre privacidade de dados dos aplicativos do vírus [en]
A API de notificação de exposição da COVID-19 da Apple e do Google: perguntas e respostas [es]
Fizemos um apanhado de links com a discusão em diferentes locais:
Guatemala [en] – Os aplicativos de rastreamento COVID-19 não devem interferir nos direitos humanos
India [en] – O aplicativo de rastreamento de contatos da Índia supera 100 milhões de usuários em 41 dias
Qatar [en] – A falha de segurança do aplicativo de rastreamento de contatos expôs detalhes pessoais sensíveis de mais de um milhão
Malasia [en] – Selangor apresenta SELangkah, o rastreador de contato que usa QR code
Europa [en] – Contact tracing apps: um teste pela privacidade na Europa
EUA [en] – Aplicativos de rastreamento de contatos são a resposta?
Vigilância [baixo astral]
O serviço secreto pessoal no Palácio da Alvorada
O presidente montou um serviço secreto pessoal de informações para proteger seus filhos, parentes e amigos e que conta com relatos diários de integrantes da milícia do Rio de Janeiro. Leia na Isto é.
A pandemia e a pulsão estatal por vigilância
Incontáveis iniciativas estatais e privadas pretendem prover soluções a expansão da covid-19 na América Latina. SObreviveremos ao desejo da vigilância? Leia no site da Derechos Digitales.
O grupo NSO lançou uma tecnologia de hackeamento por telefone para polícia americana
Uma brochura e e-mails obtidos pela Motherboard mostram como Westbridge, o braço norte-americano da NSO, queria que os policiais americanos comprassem uma ferramenta chamada Phantom. Leia na Vice.
Universidade do Equador começa a fazer testes com ferramenta de vigilância de alunos
A pandemia está proporcionando e legitimando mecanismos de vigilância, construindo um sistema social onde a entrega de dados não é apenas normal, como é esperada.Saiba mais, e reflita, lendo: Post no twitter. Confira o site do aplicativo.
Para quem ainda insiste em usar o Zoom [en]
O CEO do Zoom disse há alguns dias que não vai criptografar as ligações gratuitas para que o Zoom possa trabalhar mais em conjunto com o FBI em caso de mau uso do Zoom. Saiba mais no twitter de Nico Grant. Veja reações as declarações no Bloomberg.
Reconhecimento Facial [alto astral]
A IBM não oferecerá, desenvolverá ou pesquisará mais tecnologia de reconhecimento facial
CEO da IBM diz que devemos reavaliar a venda da tecnologia para a aplicação da lei. Leia no The Verge.
O projeto Reconhecimentofacial.info busca informar sobre o que está acontecendo na América Latina
Mostrando os diferentes esforços em fazer um debate a partir de uma perspectiva crítica baseada nos direitos humanos. Saiba tudo em Reconocimiento Facial.
Proibir a vigilância biométrica em massa! [en]
A Comissão Européia de Direitos Digitais solicita à Comissão e aos Estados-Membros da União Européia que garantam que as tecnologias de reconhecimento facial sejam proibidas de forma abrangente, tanto na lei quanto na prática. Saiba tudo no European Digital Rights.
Feminismos
Como evitar que agressores tenham acesso ao seu celular
Em relações abusivas muitas vezes nossos celulares são usados pelos agressores para espionar e controlar nossas vidas. MariaLab preparou um super guia com dicas e orientaçãoes para ficarmos mais seguras!
Pesquisa Para Onde Vamos
O Instituto Marielle franco e o movimento Mulheres Negras Decidem, lançaram a pesquisa sobre o movimento de mulheres negras e seus caminhos. Veja o site!
Trolls pandêmicos
Os movimentos feministas, de mulheres e LGBTI+ devem ser vulcões em erupção nas ruas e nas redes. É o artigo da Revista Pikara sobre violência digital e suas facetas.
Women on web censurado na Espanha [en]
Este artigo compartilha detalhes técnicos e informações sobre a crescente censura na internet da Espanha em sites como o Women on Web. No blog Magma.
Projeto Chypher sex e gerenciamento de identidade
Para se proteger contra perseguição ou passeio, Eve criou uma identidade de trabalho completamente diferente que não pode ser conectada à sua oficial. Veja no CypherSex.
Guia de cuidados digitais para jornalistas feministas
Ferramenta construída pela Rede de Jornalistas Feministas da América Latina e Caribe. Na LATFEM.
Ação Direta e Não Violência [alto astral]
Táticas em tempos de distanciamento físico: exemplos de todo o mundo [en]
Este artigo coleta exemplos de táticas para épocas de distanciamento físico, alguns exemplos são de campanhas recentes outros nem tanto, mas fornecem um modelo para inspirar ações durante a pandemia. Veja no Commons Library
A pandemia global gerou novas formas de ativismo – e elas estão florescendo [en]
Veja dados sobre os vários métodos que as pessoas têm usado para expressar solidariedade ou para pressionar por mudanças no meio desta crise. Foi identificado quase 100 métodos distintos de ação não violenta. Leia e se inspire-se no The Guardian.
Novos Futuros [alto astral]
Felicidade
Felicidade está intimamente ligada com práticas de vida que somos possibilitados de ter. E se queremos ser feliz temos que passar pela reformulação desse sistema. Veja vídeo completo no canal Tempero Drag.
Monólogo do vírus “Eu vim parar a máquina cujo freio de emergência vocês não estavam encontrando”
Um texto do ponto de vista da Covid-19. Na Lundi.
100 dias que mudaram o mundo
Para a historiadora Lilia Schwarcz, pandemia marca fim do século 20 e indica os limites da tecnologia. No UOL.
O projeto “Rooted”
É uma vila virtual global que busca nos conscientizar sobre as nossas marcas de trauma e como podemos curar o corpo. É uma educação acessível e prática, por um lado, e radicalmente transformadora, por outro. Saiba mais no site oficial.
Cuidado Coletivo e autocuidado [alto astral]
Por que chamadas de vídeo nos esgotam. E como lidar com isso
Ferramentas como Zoom, Google Hangouts e Skype se tornaram fundamentais para o trabalho e a vida social durante a pandemia, mas acúmulo de atividades pode ser exaustivo. Matéria completa no Nexo Jornal.
Efeitos no cérebro: por que todo mundo está exausto de conversar por vídeo
Sentir-se exausto depois de uma longa conversa por vídeo é normal, e a exaustão é basicamente proporcional ao número de participantes da reunião. “Quanto mais gente para ouvir e observar, mais cansado nosso cérebro fica”… Saiba mais no UOL.
Arte e Jogos [alto astral]
Como os designers de moda estão superando a vigilância do reconhecimento facial [en]
A tecnologia de reconhecimento facial está se tornando cada vez mais difundida diariamente, e os governos estão encontrando novas aplicações em meio à pandemia de coronavírus. Assista no youtube.
Guias e Ferramentas [Alto Astral]
Doxxing: Mini guia para prevenção e redução de danos
Doxxing é a prática de pesquisar, coletar e divulgar publicamente na internet dados privados e informações públicas de uma pessoa ou organização como uma forma de intimidação e/ou exposição. Saiba mais como proteger seus dados, no blog do Gus.
F-Droid
Ainda usando play store? F-Droid é um catálogo instalável de softwares de código livre e aberto (FOSS) para a plataforma Android. O aplicativo facilita a busca e a instalação, além ficar de olho nas atualizações no seu dispositivo. Página do F-Droid.
Signal para além dos números de telefone [en]
Percebeu mudanças no seu signal recentemente? Armazenar acesso à seus contatos nos servidores da Signal abriria a possibilidade de não precisar associar a conta ao seu número de telefone, mas isso não era possível sem comprometer a privacidade adicional. E foi aí que surgiu a Secure Value Recovery. Saiba tudo no site Freedom of the Press Foundation.
Edital e Fellowship [alto astral]
Lista de fundos de financiamento
O consigno Dignity for All fez compilado de financiamento e financiadores que atuam com ações emergenciais a partir da crise do COVID-19. Veja no site da Akahata.
Boletín #31
Especial: Covid19
Hola, compañeres, esperamos que este boletín les llegue en un buen momento, a pesar de todos los pesares. En un escenario pandémico, donde se unen la crisis política y economía, intentamos traer en este boletín noticias que son necesarias (pero no tan buenas) y que tendrán un aviso de [mala vibra] y otras noticias que son inspiradoras y fuentes de esperanza, llamadas de [buena vibra], como aviso para posibles ganchos.
Dimos destaque a las noticias sobre racialidades, ya que el mundo se ha levantado contra el racismo más contundentemente en este momento. #VidasNegrasImportan
Esperamos que usted esté cuidándose y que use este boletín de la mejor manera posible.
Abrazos de la EA
Racialidades [buena vibra]
Nuestra inspiración del momento ahora tiene su canal propio de videos. Denle me gusta y acompañen al abogado, filósofo y profesor Silvio Almeida tanto como nosotros <3. Acompañe su canal en youtube.
Video sobre racismo estructural y la realidad brasileña con el Profesor Silvio Almeida y Djamila Ribeiro, también en youtube.
Conversaciones impertinentes – Feminicidio, genocidio y pandemia, una conversación con Angela Davis, Naomi Klein y otras jóvenes activistas sobre la búsqueda de salidas para la crisis, mire en youtube.
Allan da Rosa, escritor, educador popular, Angolero, historiador, maestro y alumno de doctorado en Educación por la USP publica a pocos sus estudios sobre blanquitud. Corrobore su perfil en Instagram.
Emicida en entrevista poderosa sobre racismo, violencia, microbiología y otras formas de existir. Mire en UOL.
#BlackoutTuesday: racismo e hipocresía corporativa. En Nexo Jornal.
5 obras para que la blanquitud crítica comprenda su papel en la lucha antirracista – por @aquelaprofagab. Vea en twitter.
La Revista Afirmativa trae una serie de conversaciones sobre blanquitud todos los lunes. Échele una mirada en Instagram
Denise Carrera en su artículo propone la necesidad de compromiso de las personas blancas en la lucha antirracista. Materia completa en la revista Sur Online.
En las discusiones sobre crisis pandémica y un mundo global, el Profesor Milton Santos ya apuntaba caminos para Brasil. Uol hizo una linda cronología biográfica sobre el filósofo bahiano.
Resistencias ♥ [buena vibra]
Tuíra de emergencia:
Producir memoria. Amplificar voces. Mover el pensamiento. Inspirar acciones. Estos son algunos de los motores de la serie “Tuíra de emergencia: una revista sobre activismo durante el estado de emergencia”, que ahora será publicada semanalmente por la Escola de Activismo.
En la forma de textos producidos a partir de conversaciones con activistas en diferentes territorios y luchas, buscamos hacer circular las acciones y las (re)invenciones resultantes de la lucha por la vida durante el enfrentamiento de las crisis provocadas por la pandemia. La primera de la serie registra las transformaciones por las cuales pasó el Servicio Franciscano de Solidaridad – SEFRAS, al identificar el avance brutal del hambre en las calles y en la periferia de la ciudad de São Paulo. Navegue por Tuíra de Emergencia.
El día del/a Pedagoga/o: recuerdos de lo que debemos ser en tiempos furiosos
En un mundo donde prevalece la superficialidad en las relaciones humanas, las normas heteropatriarcales, los enclaves de la injusticia social que transforman la miseria humana y el dolor del prójimo en espectáculo, ser pedagoga/o es emprender desear. Vea en Jornal GGN.
El hombre que arruinó la extrema derecha en los EE. UU.
El perfil se llama Sleeping Giants, tiene 250.000 seguidores y su descripción dice: “Un movimiento para tornar el fanatismo y el sexismo menos lucrativos”. En seguida, una citación de Steve Bannon sobre Sleeping Giants: “Ellos son lo peor que hay”. Materia en El País.
Movimiento Sleep Giants expone empresas de Brasil que financian, por medio de anuncios, páginas web de extrema derecha y noticias falsas. También en El País.
“Una Nueva Normalidad”
Es una campaña de comunicación impulsada por el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, cuya finalidad es generar una corriente de opinión crítica de la normalidad previa frente a la pandemia. Vea la campaña Una Nueva Realidad.
Global Encryption Coalition (Coalición Global de Criptografía, en traducción libre)
Promueve y defiende la criptografía en los principales países donde la criptografía está amenazada. La colisión también apoya los esfuerzos de las empresas para ofrecer servicios encriptados a sus usuarios, Vea la página web GlobalEncryption.
Sociedad civil pide que las tecnologías usadas debido a la pandemia respeten los Derechos Humanos
La sociedad civil alerta que durante la Pandemia los Estados, gobiernos y comunidades de América Latina deben proteger y fortalecer los derechos humanos en el contexto digital, vea más en la página web de Coding Rights.
Pueblos indígenas frente a la covid-19
El Centro de Estudios Amerindios de la Universidad de São Paulo reunió y publicó textos y artículos sobre la cosmovisión de los pueblos amerindios frente a la pandemia de la covid-19. Conozca más en la página web de CestA.
La Red Emancipa lista campañas de solidaridad activas en Brasil
La Red Emancipa, que lucha contra la barrera del examen de admisión y por el proceso de emancipación individual y colectivo de la juventud periférica, por medio de la educación popular está difundiendo una lista de diferentes iniciativas para minimizar el impacto de la pandemia en las periferias. Página web de la Red Emancipa.
Apoyo Mutuo – Kasa Invisível
El apoyo mutuo es uno de los pilares del anarquismo. Y es en crisis como la pandemia de COVID-19 que se hace más presente e importante. Este video es un registro de las acciones de apoyo mutuo realizadas por Kasa Invisível, ocupación y centro social en Belo Horizonte. Mire en video en Vimeo.
Noticias [buena vibra]
¡Victoria! ICANN rechaza venta .ORG para la empresa de Private Equity Ethos Capital [en]
Esta es una importante victoria que reconoce el largo legado del registro como unan entidad sin fines de lucro, basada en una misión, protegiendo los intereses de miles de organizaciones y de las personas que se sirven de ella. Sepa todo en la página web de EFF.
Noticias [mala vibra]
COVID-19 torna el acceso y la apertura a Internet una prioridad absoluta
Mientras nos mantiene en casa a la fuerza, la pandemia de COVID-19 nos obliga a enfrentar algunas cuestiones difíciles. ¿Cómo casi la mitad de la población mundial puede estar regularmente excluida de Internet, que cada vez más hace parte integrante de nuestra vida social, política y económica? Para abordar esta y otras cuestiones la página web Medianama organizó artículos del simposio “Internet Openess”, vea todo en la página web Medianama.
Coronavirus puede construir una distopia tecnológica
El artículo de la periodista e investigadora Naomi Klein alerta sobre la distopia tecnológica a la cual la crisis del coronavirus nos puede ocasionar. ¡Lean y reflexionen! En Intercept.
Informante de Apple se torna público por falta de acción [en]
Un excolaborador de Apple, que corrió la voz del programa de la empresa para oír las grabaciones de Siri, decidió tornarse público. Lea en The Guardian.
Sus selfies de máscara facial pueden estar testeando la próxima herramienta de reconocimiento facial [en]
Investigadores están buscando en internet fotos de personas usando máscaras faciales para mejorar los algoritmos de reconocimiento facial. Vea en CNET.
Fusiles ungidos y grafite góspel en muros de la comunidad
Nación de Jesús: Traficantes del Tercer Comando Puro (TCP) prohíben y expulsan a practicantes de religiones de matriz africana de sus dominios en Rio de Janeiro. En UOL.
Corte suprema de la India falla al restaurar internet de alta velocidad en las ciudades de Jammu y Cachemira durante la pandemia [en]
Las personas de la región quedaron restringidas al acceso a Internet móvil 2G lento, desde que las autoridades suspendieron un cierre general de internet en enero de 2020, después de una decisión de la Corte Suprema. Lea la página web de Access Now.
POLÍTICA [mala vibra]
Policía política?: Ministerio de Justicia de Bolsonaro cambia centenas de cargos en PF
Ministro de Justicia, bajo el comando del nuevo ministro, hace alteraciones en la PF y cambia 6 superintendentes regionales y centenas de otros cargos en la sede y en los estados. Los cambios fueron hechos a través de 99 resoluciones. Materia completa en la Revista Forum.
Presidente recrea Ministerio de las Comunicaciones y entrega pasta al yerno de Silvio Santos
Deputado Fábio Faria (PSD-RN) comandará nuevo ministerio, que era codiciado por partidos de centro. Materia completa en Folha.
Presidente de la Fundación Palmares llama movimiento negro de escoria maldita
Diario difundió los audios de la reunión donde Sérgio Camargo insulta a Zumbi; él dice que grabaciones son ilegales. Lea en Gazeta Web.
“La guerra global contra la población negra y nuestra resistencia histórica y global”
¿Junio de 2013 y junio de 2020 tienen algo en común?
El podcast Café da Manhã (Desayuno), debate y aborda sobre las organizaciones de los dos momentos. Escuche en el podcast de Folha.
¡Nuestros cuerpos no serán descartables!
La pandemia y la urgencia de una democracia de abolición. Artículo de la Revista Afirmativa.
Artículos y análisis [mala vibra]
Informe Anual del Artículo 19 – Disonancia [es]
Disonancia: voces en disputa, reflexiona sobre la tensión ente diferentes voces y la imposibilidad de oír aquellas otras expresiones que continúan luchando para ser escuchadas. En este informe de México y América Latina, tratamos de explicar los efectos de la polarización del pensamiento y la necesidad de observar las diferentes líneas de una creencia. Lea la página web Disonancia.
“Las milicias bolsonaristas no van a aceptar la derrota y las izquierdas necesitan precaverse”, dice historiador
Bolsonaro constituyó un dispositivo de milicianos y paramilicianos vinculados a las policías militares que no van a aceptar la alternancia de poder en el caso de derrota del proyecto de reelección del actual presidente. Lea Marco Zero.
Violencia genera violencia es la falacia colonial
Análisis sobre las violencias física y simbólica, por las Blogueras Negras.
Datos y narrativas territorializadas en tiempos de pandemia global
Un artículo sobre la importancia del territorio y cómo la pandemia afecta acciones locales con base en la tecnología. Lea la página web de la red LAVITS.
Radar Legislativo: Especial COVID-19 y tecnología
En menos de un mes, el Congreso Nacional propuso 18 nuevos proyectos de ley relacionados a Internet y al uso de tecnología en tiempos poscoronavirus. Vea la página web de Coding Rights.
Como COVID-19 está alterando datos, IA y sociedad [en]
El Instituto Adalovelace recolectó una serie de textos y resúmenes sobre el tema. Página web del Instituto Ada Love Lace.
El coronavirus transformará su oficina en un estado de vigilancia
De sensores de movimiento a pruebas térmicas, la tecnología de vigilancia está creciendo a medida que las empresas tratan llevar de vuelta a las personas al trabajo. Sepa más en Wired.
La tecnología es estúpida
El artículo aborda cuestiones sobre qué tecnología es buena, segura y apropiada para el uso en estos tiempos complejos. ¿Cómo decidimos en qué tecnología debemos confiar? En la página web de Tactical Tech.
Privacidad [buena vibra]
Artículo de IP.Rec evalúa como la criptografía homomórfica pode ayudar en medio de la pandemia
Dado el delicado escenario causado por la pandemia, se aconsejable que se piense en cómo todas las áreas del conocimiento pueden estructurar estrategias que eviten nuevas rupturas y crisis sociales. Una de esas áreas es la criptografía, en la página web de IP.Rec.
Privacidad y Pandemia: recomendaciones para el uso legítimo de datos en el combate contra la COVID-19
El informe lanzado de dataprivacy auxilia a agentes del sector público y privado de todo el territorio nacional a tomar decisiones que reduzcan los riesgos en el combate contra la pandemia. Informe completo en Data Privacy Br.
Contact Tracing [mala vibra]
No se puede escapar del tema, por eso hicimos una selección de enlaces para saber todo sobre el rastreo de contacto (contact tracing), infelizmente la gran mayoría son textos en inglés.
Definición de contact tracing en wikipedia [en]
Entrando en el campo minado del rastreo de contactos digitales [en]
Nuevo alerta sobre privacidad de datos de las aplicaciones del virus [en]
La API de notificación de exposición de la COVID-19 de Apple y de Google: preguntas y respuestas [es]
Hicimos una selección de enlaces sobre la discusión en diferentes lugares:
Guatemala [en] – Las aplicaciones de rastreo COVID-19 no deben interferir los derechos humanos
India [en] – La aplicación de rastreo de contactos de la India supera los 100 millones de usuarios en 41 días
Qatar [en] – La falla de seguridad de la aplicación de rastreo de contactos expuso detalles personales de más de un millón
Malasia [en] – Selangor presenta SELangkah, el rastreador de contacto que usa QR code
Europa [en] – Contact tracing apps: una prueba por la privacidad en Europa
EE. UU. [en]– ¿Aplicaciones de rastreo de contactos son la respuesta?
Vigilancia [mala vibra]
El servicio secreto personal en el Palacio da Alvorada
El presidente montó un servicio secreto personal de informaciones para proteger a sus hijos, parientes y amigos, que conta con relatos diarios de integrantes de la milicia de Rio de Janeiro. Lea en Isto é.
La pandemia y la pulsión estatal por vigilancia
Incontables iniciativas estatales y privadas pretenden proveer soluciones contra la expansión de la covid-19 en América Latina. ¿Sobreviviremos al deseo de la vigilancia? Lea la página web de Derechos Digitales.
El grupo NSO lanzó una tecnología de hackeo por teléfono para la policía americana
Un folleto informativo y e-mails obtenidos por Motherboard muestran como Westbridge, el brazo norteamericano de NSO, quería que los policías americanos comprasen una herramienta llamada Phantom. Lea en Vice.
Universidad del Ecuador comienza a hacer pruebas con herramienta de vigilancia de alumnos
La pandemia está proporcionando y legitimando mecanismos de vigilancia, construyendo un sistema social donde la entrega de datos no es apenas normal, como se esperaba. Sepa más, y reflexione, leyendo: Post en twitter. Sepa más en la página web de la aplicación.
Para quien todavía insiste en usar Zoom [en]
El CEO do Zoom dijo hace unos días que no va a encriptar las llamadas gratuitas para que Zoom pueda trabajar más en conjunto con el FBI en el caso del mal uso de Zoom. Sepa más en el twitter de Nico Grant. Vea reacciones sobre las declaraciones en Bloomberg.
Reconocimiento Facial [buena vibra]
IBM no ofrecerá, desarrollará o estudiará más tecnología de reconocimiento facial
CEO de IBM dice que debemos reevaluar la venta de la tecnología para la aplicación de la ley. Lea en The Verge.
El proyecto Reconhecimentofacial.info busca informar sobre lo que está sucediendo en América Latina
Mostrando diferentes esfuerzos en hacer un debate a partir de una perspectiva crítica basada en los derechos humanos. Sepa todo en Reconocimiento Facial.
¡Prohibid la vigilancia biométrica en masa! [en]
La Comisión Europea de Derechos Digitales solicita a la Comisión y a los Estados-Miembros de la Unión Europea que garanticen que las tecnologías de reconocimiento facial sean prohibidas de forma completa, tanto en la ley como en la práctica. Sepa todo en European Digital Rights.
Feminismos
Cómo evitar que agresores tengan acceso a su celular
En relaciones abusivas muchas veces nuestros celulares son usados por los agresores para espiar y controlar nuestras vidas. ¡MariaLab preparó una super guía con consejos y orientaciones para estar más seguras!
Encuesta Para Dónde Vamos
El Instituto Marielle Franco y el movimiento Mujeres Negras Deciden, lanzaron la encuesta sobre el movimiento de mujeres negras y sus caminos. ¡Visite la página web!
Trolls pandémicos
Los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI+ deben ser volcanes en erupción en las calles y en las redes. Este es el artículo de la Revista Pikara sobre violencia digital y sus facetas.
Women on web censurado en España [en]
Este artículo comparte detalles técnicos e informaciones sobre la creciente censura en internet de España de páginas web como Women on Web. En el blog Magma.
Proyecto Chypher sex y gerenciamiento de identidad
Para protegerse contra la persecución o paseo, Eve creó una identidad de trabajo completamente diferente que no puede ser conectada a su oficial. Vea en CypherSex.
Guía de cuidados digitales para periodistas feministas
Herramienta construida por la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe. En LATFEM.
Acción Directa y No Violencia [buena vibra]
Tácticas en tiempos de distanciamiento físico: ejemplos de todo el mundo [en]
Este artículo reúne ejemplos de tácticas para épocas de distanciamiento físico, algunos ejemplos son de campañas recientes otros no tanto, pero ofrecen un modelo para inspirar acciones durante la pandemia. Vea en Commons Library.
La pandemia global generó nuevas formas de activismo – y estas están floreciendo [en]
Vea datos sobre los varios métodos que las personas han usado para expresar su solidaridad o para presionar en pro de cambios en plena crisis. Fueron identificados casi 100 métodos distintos de acción no violenta. Lea e inspírese en The Guardian.
Nuevos Futuros [buena vibra]
Felicidad
Felicidad está íntimamente involucrada con prácticas de vida que podemos tener. Y si queremos ser feliz tenemos que pasar por la reformulación de este sistema. Vea el video completo en el canal Tempero Drag.
Monólogo del virus “Yo vine para parar la máquina cuyo freno de emergencia ustedes no estaban encontrando”
Un texto del punto de vista de la Covid-19. En Lundi.
100 días que cambiaron el mundo
Para la historiadora Lilia Schwarcz, la pandemia marca fin del siglo 20 y muestra los límites de la tecnología. En UOL.
El proyecto “Rooted”
Es una villa virtual global que busca concientizarnos sobre nuestras marcas de trauma y cómo podemos curar el cuerpo. Es una educación accesible y práctica, por un lado, y radicalmente transformadora, por el otro. Sepa más en la página web oficial.
Cuidado Colectivo y autocuidado [buena vibra]
Por qué las llamadas de video nos agotan. Y cómo lidiar con eso
Herramientas como Zoom, Google Hangouts y Skype se tornaron fundamentales para el trabajo y la vida social durante la pandemia, pero el acúmulo de actividades puede ser exhaustivo. Materia completa en Nexo Jornal.
Efectos del cerebro: por qué todo el mundo está exhausto de conversar por video
Sentirse exhausto después de una larga charla por video es normal, y el cansancio es básicamente proporcional al número de participantes de la reunión. “Mientras más gente hay para escuchar y observar, más cansado nuestro cerebro se queda”… Sepa más en UOL.
Arte y Juegos [buena vibra]
Cómo los designers de moda están superando la vigilancia del reconocimiento facial [en]
La tecnología de reconocimiento facial está tornándose cada vez más difundida diariamente, y los gobiernos están encontrando nuevas aplicaciones en plena pandemia de coronavirus. Mire en youtube.
Guías y Herramientas [Buena vibra]
Doxxing: Mini guía para la prevención y reducción de daños
Doxxing es la práctica de investigar, reunir y difundir públicamente en internet datos privados e informaciones públicas de una persona u organización como una forma de intimidación y/o exposición. Sepa más como proteger sus dados, en el blog de Gus.
F-Droid
¿Todavía usando play store? F-Droid es un catálogo inestable de software de código libre y abierto (FOSS) para la plataforma Android. La aplicación facilita la búsqueda y la instalación, además estar de ojo en las actualizaciones de su dispositivo. Página de F-Droid.
Signal más allá de los números de teléfono [en]
¿Notó cambios en su signal recientemente? Almacenar acceso a sus contactos en los servidores de Signal abre la posibilidad de no necesitar asociar la cuenta a su número de teléfono, pero eso no era posible sin comprometer la privacidad adicional. Y ahí fue que surgió Secure Value Recovery. Sepa todo en la página web Freedom of the Press Foundation.
Pliego y Fellowship [buena vibra]
Lista de fondos de financiación
El consigno Dignity for All hizo una compilado de financiación y financiadores que actúan con acciones de emergencia a partir de la crisis de la COVID-19. Vea en la página web de Akahata.
#AlertaAtivista: Atualizações sobre o caso Sara Rodrigues
Até onde vai a teimosia do Estado pra tentar justificar o injustificável? A ativista recifense Sara Rodrigues segue presa, mesmo grávida e em meio a uma pandemia de COVID-19. Hoje, em pleno São João, tem uma menina, de apenas 5 anos, sem a sua mãe em casa porque o Estado não consegue voltar atrás em sua decisão violenta. Parece menino barrigudo e birrento, procurando justificativa pro que não tem (familiar né?).
Sara teve a sua casa invadida pela polícia (sem mandado) enquanto estava em casa com seu companheiro e envolvida em ações de mobilização para garantir cestas básicas à comunidade do Jardim Resistência, em Pernambuco. Farda pode ser fantasia, pode ser disfarce, ferramenta de opressão e de terror, mas sempre será um símbolo… e o recado é claro:
É um ataque direto à militância. É um ataque direto ao ativismo. É o ato de contradizer as regras do jogo. É marcar posição sem dizer a verdade. É uma casa sem pilar onde a sustentação é o ódio, a violência. Isso não é brincadeira. A narrativa da Guerra as Drogas não se sustenta, pode tirar a fantasia, polícia, chega de jogo de cena.
E Justiça, se faça: bit.ly/liberdadedaativistasararodrigues
Sobre o vídeo – Registro da Marco Zero Conteúdo
Ato ocorrido na cidade do Recife, Pacífico, em frente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, fechado, pois os juízes estão de recesso muito cansados pela crise do COVID-19. Dizem as línguas estranhas que pode ser o mesmo corpo judiciário que viola e encarcera o corpo de uma mulher que quer ser livre, mas que não hesita em submeter uma mulher grávida ao risco de perder seu filho.
LIBERTEM SARA RODRIGUES!
#AlertaAtivista: Liberdade para Sara Rodrigues!
Com muita tristeza e revolta recebemos diretamente de Recife, o comunicado de que Sara Rodrigues, ativista da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas foi presa sem justificativa hoje, nesta quinta-feira. A live do Amplificar foi cancelada em razão disso.
Sara se encontra gestante, criminalizada por tráfico de drogas, o que sua defesa afirma ter sido forjado pela polícia. Segue trecho da nota da RENFA Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas abaixo, com a chamada para que você assine o abaixo assinado pedindo a liberdade da companheira:
“Abaixo assinado pela LIBERDADE DA ATIVISTA SARA RODRIGUES presa injustamente, e acusada de um crime que ela não cometeu._ Mais uma vez o sistema de justiça destrói a vida de uma mulher jovem, grávida, mãe de uma criança de 5 anos, trabalhadora de carteira assinada e militante dos movimentos sociais, mais uma vida que pode ter seus sonhos encerrados pelas leis que só punem pessoas pobres e negras. Sara é militante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e do Coletivo de Mães Feministas Ranúsia Alves.”
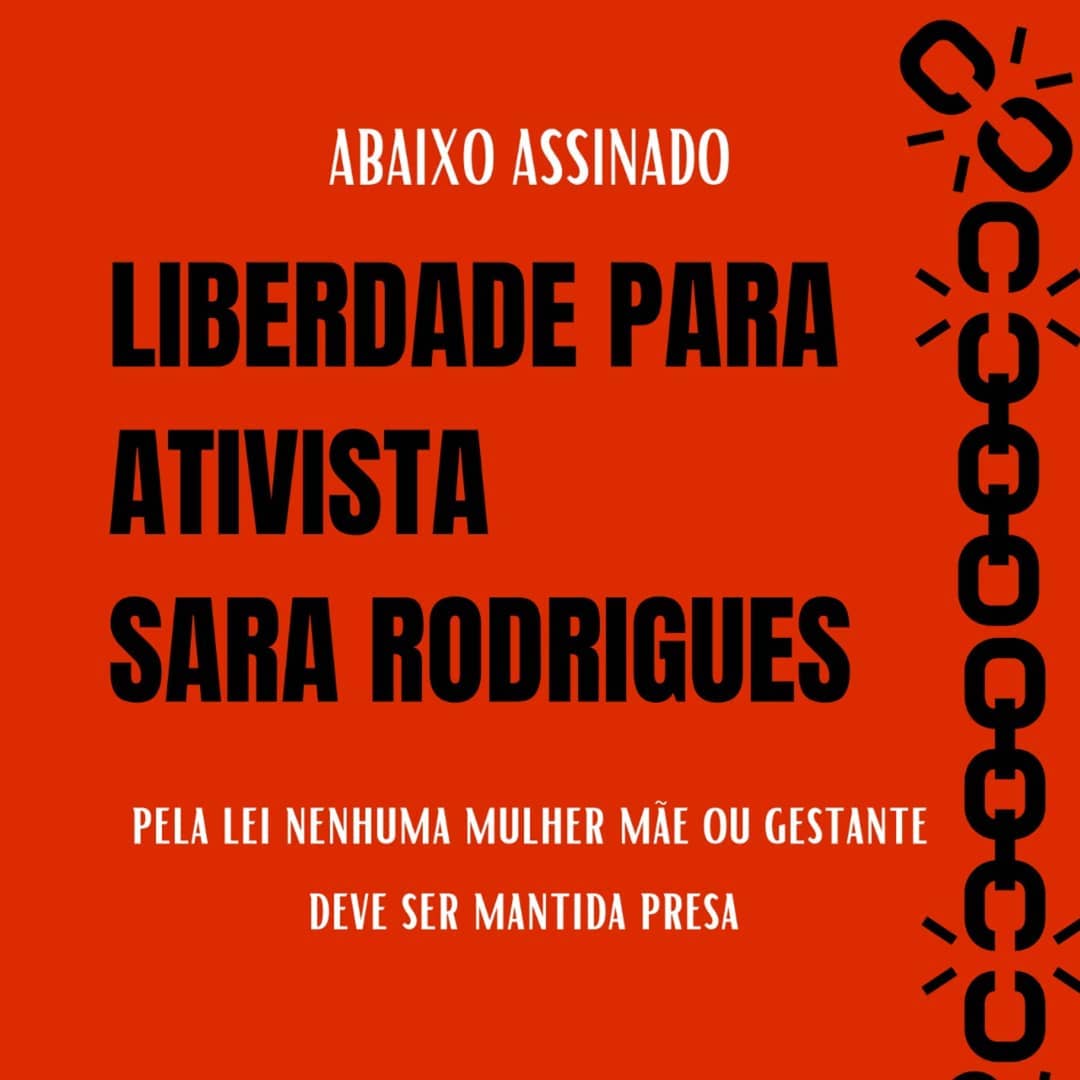
Complementamos aqui, como Coletivo Escola, que a Guerra às Drogas segue fazendo vítimas, principalmente mulheres negras, que, como Sara, estavam atuando diretamente na frente de assistência às pessoas mais atingidas pela crise do covid-19, na sua periferia. Alguém aí se lembra de um certo senhor, em um certo helicóptero, cheio de pó branco? Pois é, esse senhor segue em liberdade. Afinal, de que guerra estamos falando?
Não é possível ficar parada/o diante dessa injustiça.
LIBERTEM SARA RODRIGUES!
Banzeiro: ação e resistência na Amazônia
Um espaço de partilha, debate, articulação e fortalecimentos das lutas – criado colaborativamente com o intuito de promover diálogos entre militantes, ativistas, estudantes, intelectuais, professores. Gente que vive, sente e age em diferentes campos em defesa da Amazônia entre a floresta, o campo e a cidade. Banzeiro é uma onda, não é um ponto de partida, nem de chegada, mas pode ser de virada.
Por uma vida em fricção com a terra
Em conversa online com Luciana Ferreira, durante o Festival AmazôniaS, em abril, Ailton Krenak afirma que a crise pode nos ajudar a limpar os olhos para enxergar melhor o mundo e a vivenciar outros modos de envolvimento com a comunidade e a natureza

Ideias para adiar o fim do mundo, nosso modo de vida e a relação com a natureza
Ficar aqui na aldeia, não só na quarentena, mas ficar aqui na aldeia no resguardo longo, é muito bom porque permite refletir sobre o que já fizemos e não ficar repetindo a mesma coisa. Sobre o livrinho, eu digo [que] aquele livro já foi, eu tô além das proposições daquele livro e das provocações que fiz com relação à ideia de natureza e humanidade: a ideia de uma certa humanidade que recobre o planeta todo, a ideia da super humanidade que são aqueles que ficaram fora do clube da humanidade. Eu não imaginava que nós íamos ser arrochadas pela realidade para ir além desse lugar. Com essa situação agora, o mundo inteiro está sendo convocado a parar. Se o mundo inteiro tá sendo chamado a parar, alguém pode ter também tempo para pensar se aquela correria (que a gente tava fazendo até outro dia), era consciente, se a gente estava indo numa direção consciente ou só fazendo a corrida da boiada.
Tem uma boiada que corre para todo lado. E eu fiquei muito impressionado com a capacidade das pessoas de atender, todas ao mesmo tempo, uma convocatória de “fica em casa”. No mundo inteiro. Em alguns lugares os governos tiveram que fazer uso da força para obrigar as pessoas a fazer esse resguardo; em outros lugares, a grande maioria das pessoas fez isso voluntariamente, conscientes de que estavam fazendo o melhor para si, se resguardando. Curiosamente, o isolamento social pode limpar os nossos olhos para a gente enxergar melhor o que estamos fazendo com as nossas vidas, seja na experiência individual, seja na experiência coletiva. Essa perspectiva de coletivo foi muito ressaltada com a crise; se a gente sentia falta dela, de agora nós estamos aprendendo ela meio que na marra. Se [alguém] tá querendo ir para rua, é obrigado a pensar, porque tem de atender uma outra prioridade que não só a dele, individualista. Que isso nos eduque e que a gente possa aprender um pouco mais sobre os outros – não só sobre o lugar em que nós estamos, mas sobre o lugar em que os outros estão.
Que privilégio para aquelas pessoas que não vivem nesses redutos e que podem, por exemplo, estar no campo, na zona rural, afastados dessas aglomerações e produzindo seu alimento, seu remédio, suas medicinas, suas realidades locais, recorrendo a um repertório de conhecimento de saber e de práticas que alargam o sentido da vida. Daquilo que no livrinho chamei de ampliar as subjetividades, existe uma rica oportunidade de exercício agora. A pessoa que não tá numa rotina de ter que levantar para ir para escola ou trabalho, nenhuma outra rotina muito limitadora, pode fazer um pouco de experiência extraordinária. Se alguém está em um lugar no qual pode mexer na terra, que vá mexer na terra, vai fazer alguma coisa no seu quintal! Se você tá no sítio, faça no sítio. Eu não entendo porque alguém que está em um sítio tem que ficar sozinho dentro de casa, ele não precisa, ele pode ficar junto com toda aquela multidão de maritacas, de sapos, e de tudo que tá na terra – as minhocas, as formigas –, alertando ele que o único sujeito que foi mandado parar foi o humano. De toda a constelação de outros seres que está compartilhando a vida na Terra com a gente, só o humano é que é o vetor da ameaça do vírus. Os outros seres, não.
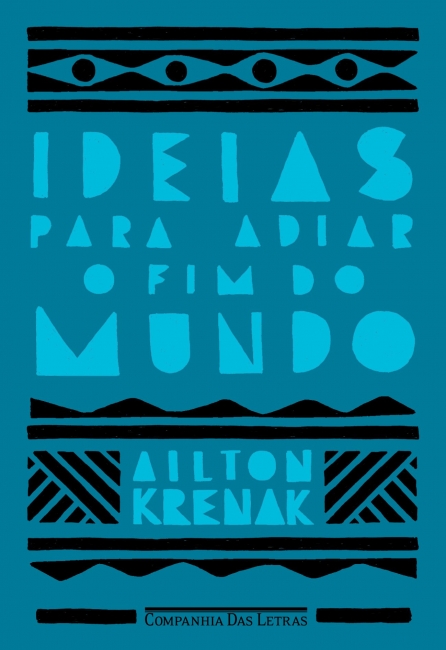
Mais uma vez estamos tendo a oportunidade de aprender, ao invés de ficar só na expectativa de que alguém nos indique alguma ação para adiar o fim do mundo. Nós estamos sendo coletivamente intimados a pensar, a ter ideias. Tomara que as pessoas aceitem essa oportunidade, não como uma coisa para deprimir, adoecer, mas como uma oportunidade para melhorar! E a nossa solidariedade caminha para aqueles que estão passando aperto. Mantenham a calma, a serenidade.
Agora nós estamos convocando quase todo mundo a se aproximar desse mundo virtual. Alguns de nós tínhamos uma crítica sobre o excesso de relação com essa tecnologia, mas agora nós vamos ter que criar uma disciplina pra se relacionar com ela, porque ela está sendo uma plataforma fundamental para nos dar oportunidade de fazer, por exemplo, o Festival [Amazônias]! Como que a gente pode viver essa experiência sem perder o sentido dos nossos encontros, para que os encontros não sejam tão sublimados a ponto de a gente virar personagens sem carne e osso, sem existência, sem a vida que nos atravessa nos nossos cotidianos, né?
Amazônias no plural
O “s” é muito bem vindo no [nome do Festival] Amazônias. Se não fosse aquelas linhas que marcam as fronteiras entre os nossos países, ela seria sempre no plural, “Amazônias”, porque é tão vasta que chega a ser um lugar imaginário pras pessoas no mundo inteiro. Amazônias é uma imagem antes de ser uma realidade. Tem muita gente que lida com as diferentes materialidades dessas “Amazônias”. Tem gente que pensa como um lugar que historicamente foi o Eldorado, que era o lugar de saquear e buscar riqueza, desde a descida dos espanhóis lá de cima pelo rio Negro, atravessando o Amazonas, até os que entraram aqui pelo sul. Todos bateram essa trilha como aventureiros, viajantes, caçadores, coletores de todo tipo. Exploradores. Os povos antigos que viveram nessas diferentes “Amazônias” têm outras Amazônias no pensamento, no coração e nas suas memórias.
No tempo em que nós vivemos, no século 21, há uma multiplicidade de perspectivas dessas Amazônias: a do governo do Estado, dos ministérios ou de um empresário do Sul. Se cada um deles fosse desenhar o que eles estão pensando, ia ser uma infinidade de Amazônias, porque são os lugares onde cada um quer realizar o seu projeto, digamos assim. E tem o campo das pessoas que nos últimos, 20, 30 anos, se engajaram nas políticas públicas e nos movimentos sociais não governamentais para promover a existência desses lugares chamado Amazônias – desde a proteção da vida, o direito à vida das pessoas que sempre estiveram lá, até a vigilância e fiscalização da invasão desses lugares.
Nós vamos achar que são mais bacanas aqueles que querem conservar a floresta, aqueles que querem apoiar e proteger os modos de vida dos povos que vivem na floresta, mas até nessa parte seria bom a gente olhar com um olhar crítico. Tem os inimigos e tem os amigos; tem os caras que querem comer a Amazônia e tem os que querem proteger a Amazônia. Se a gente ficar fazendo uma simplificação dessas, nós não vamos ser capazes de ser honestos com quem está vivendo dentro dessas Amazônias e precisa que ela continue tendo floresta, rios e segurança. Por que que nós todos nos batemos na década de 90 para que existisse uma infraestrutura voltada para a Amazônia com a ideia de desenvolvimento, mesmo que acrescentado do adjetivo sustentável? No fundo, o motor da ideia era o desenvolvimento. E naquela época já tinha gente dizendo: por que, ao invés de desenvolvimento, a gente não busca ter envolvimento?
Escolhas & possibilidades da Amazônia
Ainda sobre a ideia de fronteiras e Amazônia, tanto uma pessoa que nasceu em Parintins quanto alguém que nasceu em Berlim pode se achar relacionada com a ideia das Amazônias com a mesma intensidade. Ou aquela menina fantástica que mobilizou o mundo alguns meses atrás, a Greta. A Greta tem a mesma intensidade de entusiasmo e envolvimento com uma ideia de Amazônia do que uma menina que nasceu em Ji-Paraná ou Oriximiná. Não é porque ela nasceu lá na Europa que você vai dizer para ela que “você não tem nada para dizer sobre esse lugar”, porque esse lugar para ela tem outras representações. Quando um chefe de Estado na Europa vira e fala “a Amazônia é isso, é aquilo”, e alguém fica nervoso com ele e diz “esse gringo não tem que falar nada sobre a Amazônia”, é porque não está sendo capaz de entender de onde é que ele tá falando. A Amazônia tem um sentido para ele, e isso deveria ampliar a nossa percepção do que são as Amazônias. Elas não são um lugar; elas se constituem numa constelação de lugares de representação mítica, cultural, econômica e política.
Antropoceno & adoecimento de um rio
Eu acompanho faz pelo menos 40 anos tudo quanto é empreendimento dos governos regionais e do governo nacional – desde a Transamazônica! É claro que os engenheiros que estavam fazendo o traçado da Transamazônica achavam que estavam abafando. Depois deles, os que faziam as linhas de colonização do INCRA achavam que estavam pirando! Os que fazem os projetos de hidrelétricas, então, achavam que deveriam ganhar um Nobel! Mas todos estão fazendo uma cagada monumental. Estão invadindo um organismo que não conhecem com um aparato que eles não têm capacidade de desligar depois — pois você não desliga a Transamazônica, você não desativa Belo Monte, Tucuruí, e toda essa esquizofrênica constelação de barragens que foi feita no corpo dos rios, mutilando o corpo desses rios, tornando esses organismos vivos mais suscetíveis a pegar uma doença no futuro. Alguém pode falar “ué, mas rio pega doença?” Claro que pega! Vai mergulhar no Tietê se você acha que rio não pega doença. Ele não só pega, como transmite! Ou vem aqui no rio Doce, sobe na ponte lá em cima de Governador Valadares, dá um mergulho nele. Vai no rio São Francisco, bebe a água do São Francisco, em qualquer trecho dele. Se a gente fizesse uma lista, seriam centenas de rios, de bacias hidrográficas que foram adoecidas pela nossa ação ao longo de 40, 50, 100 anos!
A industrialização e o ajuntamento de milhões de pessoas em lugares concentrados nas cidades curiosamente nascem sempre na curva de um rio. Vide Manaus. As cidades nascem encostadas no rio. Vai ser excepcional você encontrar uma cidade que não tá encostada num rio. Só que desprezam a razão de estar nesses lugares. Num assentamento urbano, 50 anos depois as águas estão contaminadas, quando não podres.
Eu já comentei que uma das coisas que eu sempre achei mais estranhas é que as cidades brasileiras nos trópicos, não só no Brasil, as cidades coloniais, nasceram com as privadas viradas para os rios e a porta da sala, para uma viela. Pode olhar todas as nossas cidades, inclusive Ouro Preto e Mariana. Parece que a gente foi para esses lugares para cagar nos rios. Pega as plantas de todas as nossas cidades no Google e olha para onde é que fica virado o esgoto. E para não dizer que eu não falei das flores, antes da Covid-19, o Rio de Janeiro tava abastecendo as torneiras das pessoas com água de esgoto. Jogaram esgoto nos rios, o rio tá devolvendo esgoto nas torneiras. E não é numa vilinha pobre que não tem como fazer uma estação de tratamento de água. É no Rio de Janeiro, que nos últimos anos deve ter gastado bilhões com a recuperação da Baía de Guanabara. É espetacular. Dava pra filtrar com dinheiro toda a água daquele sistema lá.
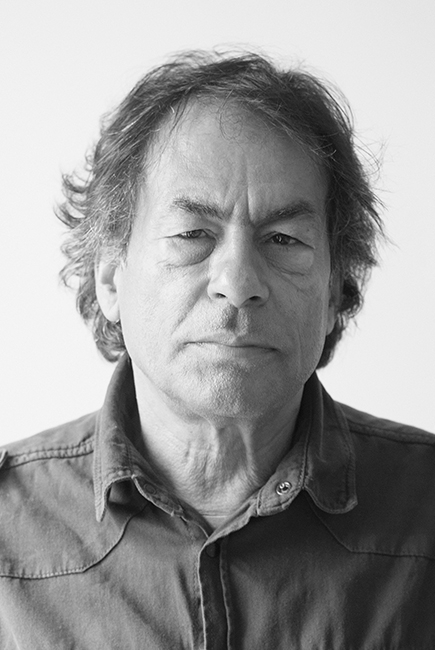
Entre isolamento social, distanciamento & envolvimento com a natureza
Eu tenho pensado nessa possibilidade de a gente ser abduzido da relação com a terra, pelo excesso de uso das tecnologias e por uma ampliada dependência delas. Ligar e pedir uma comida, ligar e pedir um remédio, ligar e conversar com a mãe, com a avó, com o tio. E eu fiz um paralelo com um joguinho que eu achava horroroso, que existiu um tempo atrás e que se chamava “segunda vida” – Second Life. É uma dessas maluquices hollywoodianas. Foi criticado pelos psicólogos, que recomendaram não deixar crianças brincar com aquilo porque podia criar uma ilusão de um mundo paralelo, no qual a criança ficava ganhando prêmios, inventando uma fantasia substituta da experiência de viver, e seria uma tragédia se o mundo caísse nessa armadilha de viver essa experiência artificial e deixar a maravilhosa experiência de viver em conexão com a terra, uma fricção com a terra, a ideia primária de mexer na terra, enfiar a mão na terra, pisar na terra.
Uma pessoa que tem 10 anos, 20 anos de experiência, sabe que restaura a gente pisar no chão, mexer no chão. Então mesmo que as pessoas consigam comer, beber e fazer tudo sem ter que mexer na terra, deveriam fazer isso pra ficarem saudáveis. Se perder essa conexão com a terra nós estamos acabados! Mas, mesmo que seja uma tendência, acredito nós não vamos por esse caminho. Eu tenho uma expectativa de que a gente vá ter tempo para considerar o quanto a vida em fricção com a terra, nesse planeta maravilhoso, é importante para a possibilidade de continuar vivendo aqui na Terra. Essa espécie de tranco que nós estamos levando vai fazer muita gente das cidades botar o pé na estrada, no bom sentido, e enfiar esse pé na terra. Nós vamos ter a necessidade de sair dessa casca, dessa plataforma extremamente dependente de tecnologia e se arriscar na terra. E isso é envolvimento.
Indígenas, Constituição & representação política
A própria ideia de ter uma Constituição comum a todos nós tem sido atacada. Toda hora querem emendar a Constituição, fazer uma medida provisória, inventar alguma coisa. O próprio Capítulo dos índios na Constituição é o tempo inteiro aviltado por gente que nunca aceitou aquela vitória que nós tivemos. Eu não tenho relação com partido político faz muito tempo. Nunca tive e me afastei fantasticamente de qualquer discussão nos termos de política partidária porque acho que é um tremendo furo n’água.
O mundo hoje é governado por CEOs, gerentes. As corporações escolhem gerentes, botam os caras para governar e, quando eles não estão correspondendo, tiram eles numa boa. Assim como a ideia da economia movida por uma perspectiva de progresso e desenvolvimento é uma ideia vencida, velha e vencida, a gente deveria superar também a ideia da representação política nos termos em que foi feita até agora, porque é colonialismo. A gente deveria pensar em envolvimento! O envolvimento das pessoas, das comunidades com os lugares onde vive! E a partir desse envolvimento, produzir novas visões, novas realidades sobre a vida social. Agora que nós estamos vivendo um isolamento, a gente devia pensar em como sair dos sistemas falidos e declaradamente corruptos. A gente deveria pensar como é que a gente faz o religamento das relações.


