Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
Comitê Invisível, uma apresentação
imannens
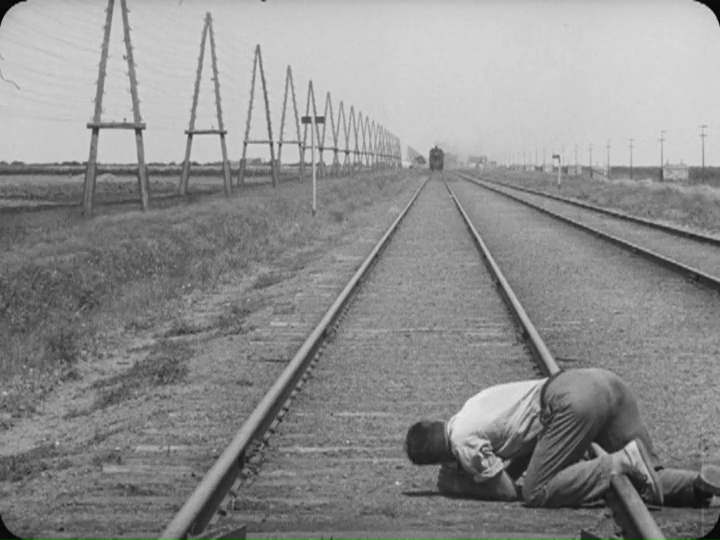
O Comitê Invisível vem publicando textos desde o ano de 2007. Seus livros têm um tom bastante próprio: se algumas vezes lembram um panfleto ou um manifesto, outras tantas se parecem com textos acadêmicos ligados à filosofia e à teoria política. Em alguns momentos, ainda, adquirem o tom de literatura contemporânea, americana ou francesa ou japonesa (imagine-se, aqui, um autor contemporâneo qualquer que questiona o uso que se faz de um aplicativo de sexo em detrimento do sexo – ou algo do tipo).
A invisibilidade dos membros do Comitê talvez não seja tão importante quanto tudo aquilo que seus escritos tornam visível. Ainda assim, qualquer pesquisa simples na internet oferece algumas informações sobre seus membros.
A primeira das informações é aquela que associa o caso que ficou conhecido como “Os nove de Tarnac” ao primeiro livro do Comitê, A insurreição que vem. Em resumo, um grupo de amigos que vivia numa propriedade rural foi acusado de sabotagem. O sistema francês também os acusou de pertencerem ao Comitê Invisível. Nenhuma prova atestou esse vínculo.
A segunda informação diz respeito ao vínculo do Comitê com uma revista que circulou entre 1999 e 2001. Enquanto revista, possuiu dois números. Depois disso, há alguns livros que circulam por aí com a assinatura Tiqqun, com textos que parecem ter nascido nas publicações da revista (Introdução à guerra civil, Uma metafísica crítica…, Isso não é um programa, são títulos já traduzidos para o português, por exemplo).
Houve, também no caso da revista Tiqqun, um conjunto de associações possíveis entre Tiqqun, Comitê Invisível e o caso de Tarnac.[1]
1 Lendo o seguinte artigo será possível encontrar uma boa organização deste histórico:Guerrilha performática: arte-política e terrorismo estatal, de William Osório. Disponível em: http://www.artes.uff.br/uso-improprio/trabalhos-completos/william-osorio.pdf
De todo modo, queremos insistir naquilo que os escritos do Comitê Invisível, associados ou não a Tiqqun, trazem para o campo do visível e que tem enorme importância para o ativismo e a militância de esquerda nos dias que correm.
OS LIVROS E SEUS CONTEXTOS
Além dos números da revista e dos livros que levam a assinatura Tiqqun, o Comitê Invisível publicou três obras que, juntas, vêm compondo os debates travados no campo das lutas contemporâneas, dos meios militantes e ativistas ao âmbito acadêmico.
O primeiro livro, A insurreição que vem, foi publicado originalmente em 2007. Dispomos de uma tradução para o português, impressa pela Edições Baratas, em 2013. [2] É um livro que esteve diretamente associado ao caso dos prisioneiros de Tarnac. Escrevem eles sobre o assunto: “A incriminação por terrorismo de pessoas que foram acusadas não tanto de algumas simples sabotagens (notavelmente contra uma linha do TGV), mas principalmente por terem escrito um livro, evidentemente aumentou o interesse por seu conteúdo, fazendo com que o livro A insurreição que vem não tardasse a se tornar um bestseller e, assim, um tipo de clássico”. [3]
2 Disponível em PDF no site da editora: https://edicoesbaratas.wordpress.com/2013/07/04/a-insurreicao-que-vem/
3 TGV é um sistema de trens de alta velocidade. Tradução livre. Comitê Invisível, 2019. Prefácio da edição italiana. Original disponível em: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/15/comitato-invisibile-il-libro-dei-nemici-numeri-uno-del-macronismo-dalla-rivolta-delle-banlieue-ai-gilet-gialli/5039101/
Aos nossos amigos: crise e insurreição foi publicado em 2014 (no Brasil, em 2018 pela n-1 Edições). Segundo os próprios escritores, o livro resumiu – com base em uma investigação realizada nos vários continentes – a sequência que se abriu com a “crise de 2008”, prolongada com as “primaveras árabes” e, finalmente, fechada pelos diferentes “movimentos das praças”. [4]
4 Idem.
O último livro, Motim e destituição agora, publicado em 2017 e traduzido no Brasil pela n-1 Edições, tem como canteiro de obras as lutas contra a lei trabalhista francesa desencadeadas em 2016. É com este ponto de partida que o Comitê quis “sondar o pano de fundo desta era” – a nossa. [5]
5 Idem.
Embora seja reconhecível um “tom” que marque a autoria de cada livro, há pelo menos uma nota dissonante em cada uma das obras.
O conjunto de escritos emA insurreição que vem está mais focado em uma espécie de diagnóstico da catástrofe que se anuncia ao término da primeira década dos anos 2000. O sufocamento de nossos modos de viver, de amar, de trabalhar, de fazer trocas – ele prenuncia um caminho. Este caminho é o da insurreição que vem.
Assim, o primeiro livro faz uma grande cartografia negativa do mundo que habitamos. Ou seja, para além de disputar o mundo tal como ele nos aparece, é necessário sair dele, de suas organizações, de suas instituições e criar novas formas de habitá-lo.
Aos nossos amigos parte de um novo pano de fundo: as insurreições chegaram. Os escritores afirmam terem se espalhado mundo afora para cobrir as diferentes formas com que a insurreição se apresenta. Há claramente uma mudança no tom do texto, que passa a ser muito mais agressivo, declarando guerra àqueles que não são seus amigos.
Sobretudo, nesta segunda obra são enunciados com maior nitidez os contornos daquilo que o Comitê Invisível entende como frentes de batalha: não se trata em absoluto de fazer lutas para disputar o que aí está (as instituições, por exemplo), mas sim de bater em retirada, de criar um funcionamento outro que possa nos fazer prescindir do modo como o mundo está organizado.
Em Motim e destituição agora, cujo título original é apenas Agora, há um tom menos belicoso. O canteiro de obras está mais enxuto, por assim dizer. A principal fonte de pensamento é a análise tática e estratégica que toma as lutas contra a reforma trabalhista francesa de 2016, o que parece ajudar o Comitê a sair da excitação do livro anterior. Diminuem também os ataques nominais aos outros pensadores que se põem a analisar a mesma constelação de outro ponto de vista, com outra rede conceitual.
Torna-se mais nítida ali uma dada forma de ler e de pensar o mundo. O Comitê coloca para funcionar em seu texto um conjunto de conceitos, tais como o de poder destituinte, formas-de-vida, comunismo, potência, experiência; propõe tomar de volta para si o que hoje se organiza na forma da política, da economia, das organizações, das instituições. A citação de um “amigo” parece resumir esse processo: “A solução para o problema que você vê na vida, é uma forma de viver que faça desaparecer o problema”.
REDE CONCEITUAL: POTÊNCIA DESTITUINTE, PODER CONSTITUINTE
Nessa rede conceitual mobilizada pelo Comitê, vale destacar a mútua implicação que se nota com a obra de um intelectual italiano cujas análises tiveram muito impacto nas ciências sociais brasileiras nas últimas duas ou três décadas. Trata-se de Giorgio Agamben.
Será fácil encontrar na literatura acadêmica crítica do período referências a diversos conceitos produzidos por Agamben no conjunto de sua longa pesquisa: estado de exceção, vida nua, profanação, potência, singularidade qualquer. Mas é especialmente no âmbito do que podemos chamar de “potência destituinte” que há uma imbricação praticamente indistinta entre as análises conduzidas pelo Comitê e a obra deste filósofo.
Na conferência Elements for a theoryofdestituintpower, Agamben cita o Tiqqun da Introdução à guerra civil em sua exposição sobre o conceito de “forma-de-vida”: “Tiqqun desenvolveu esta definição em três teses, afirmando que: 1) A unidade humana elementar não é o corpo – o indivíduo –, mas a forma-de-vida, que 2) Cada corpo é afetado por sua forma-de-vida como por um clinâmen, uma atração, um gosto; e que 3) Minha forma-de-vida não se relaciona ao que eu sou, mas a como eu sou aquilo que sou.” [6]
6 Tradução livre. Original disponível em: https://livingtogetherintheheartofthedesert.files.wordpress.com/2014/02/agamben-elements-for-a-theory-of-destituent-power-1.pdf
O conceito central, ao que tudo indica, é mesmo o de potência destituinte. “Desapareçamos”, “Destituamos o mundo” são títulos de capítulos presentes nos livros do Comitê. “O comunismo é o movimento real que destitui o estado de coisas existentes”, conclui um capítulo.
Aventa-se, assim, desativar as grandes formas constituídas que operam sobre nossas vidas: economia, religião, linguagem, política. Não seria uma recusa, mas uma “destituição constituinte”, que somente as formas-de-vida poderiam colocar em funcionamento. Que Agamben faça todo um estudo sobre as formas-de-vida entre frades e mosteiros parece bastante sintomático de onde e de como este tipo de situação poderia ser instaurada…
No polo oposto, e francamente destacado como inimigo, estaria o poder constituinte e um outro filósofo italiano também muito presente na literatura insurgente brasileira: Antonio Negri. O que é possível rastrear aqui e ali nos textos de Tiqqun, do Comitê Invisível e do próprio Agamben é que a treta é antiga, remontando ao próprio movimento da autonomia operária italiana.
Em seu último texto com Michael Hardt,Assembly, podemos ler esse debate bastante vivo. Às críticas que pretendem invalidar a ideia de poder constituinte – como estas de Agamben e companhia –, Hardt e Negri opõem a possibilidade de rearticular o conceito “acompanhando o modo como está sendo reinscrito na prática” e considerando “a materialidade e a pluralidade dos processos revolucionários”. [7]
7 Michael Hardt e Antonio Negri. Assembly: a organização multitudinária do comum. Tradução de Lucas Carpinelli, Jefferson Viel. Editora Filosófica Politéia, 2018, p. 49.
É claro que todos os pressupostos são outros e, consequentemente, é outra a disputa pelos mundos que podem ser criados a partir dos levantes da segunda década do século XXI. Negri entende que, ao invés de abandonar as instituições, é necessário inventar um outro tipo de instituição. Ao invés de entender os processos na chave da exceção, Negri os entende na chave do excesso, ou seja, de um transbordamento da potência afirmativa da cooperação.
LINHAS FORTES, LINHAS FRACAS
O conjunto dos textos do Comitê Invisível torna visível ao menos quatro linhas distintas de percepção do estado de coisas e das lutas por sua transformação: i) a análise de conjuntura; ii) a análise tática e estratégica; iii) a crítica à esquerda; iv) a análise dos modos de vida.
O vigor e a potência de seus textos não deixam de apresentar problemas diversos: a arrogância de suas críticas; a concentração em lutas de caráter metropolitano; a ausência de explicações consistentes sobre como se vai destituir tudo; o eurocentrismo de seus conceitos e métodos; a adoção de uma única perspectiva para interpretar e alimentar as lutas.
Os fragmentos agrupados nas páginas que se seguem, no artigo Amigos e amigas dialogam com um comitê invisível, dificilmente dão conta dessas tantas linhas possíveis de leitura deste conjunto de análises, genealogias, insultos, frases de efeito, influências de teorias e da disputa das ruas.
Mas desejam instaurar um debate inescapável ao ativismo contemporâneo: “para o que segue o mundo”.
Amigos e amigas dialogam com um comitê invisível

NOTA INTRODUTÓRIA
Tuíra preparou uma seleção de trechos dos dois livros do coletivo anônimo denominado Comitê Invisível publicados no Brasil: Aos nossos amigos: crise e insurreição(2016) e Motim e destituição agora (2017), ambos da n-1 Edições.
Os diferentes trechos foram organizados de acordo com um critério de proximidade temática, sem obedecer à ordem das publicações. Em seguida, foram enviados a um conjunto de pessoas que se mostraram dispostas a ler e comentar a seleção feita.
O conjunto de comentários, publicados a seguir, dá uma resposta à disposição do Comitê de dialogar com seus amigos e amigasespalhados pelo mundo e se pretende um momento desse diálogo.
O resultado de tal processo apresenta uma espécie de muro grafitado a muitas mãos, com inscrições que dão a pensar um amplo conjunto de temas ligados às lutas, à teoria e aos modos de vida contemporâneos.
Legenda das referências bibliográficas dos trechos citados
ANACI – Aos nossos amigos: crise e insurreição. São Paulo, n-1 edições, 2016.
MDA –Motim e destituição agora. São Paulo, n-1 edições, 2017.
+++
MARGEM DE AÇÃO
O estado de exceção no qual vivemos não deve ser denunciado, deve ser virado contra o próprio poder. E eis-nos libertos, da nossa parte, de qualquer consideração em relação à lei (…). Temos o campo completamente livre para qualquer tipo de decisão, qualquer iniciativa, (…). Para nós não há mais do que um campo de batalha histórico e as forças que aí se movem. A nossa margem de ação é infinita. A vida histórica nos estende a mão. (ANACI, 45)

Comentários
A luta política, “realista”, tende quase sempre a ser condicionada ora pelo contexto – que exige de nós algumas ações e não outras –, ora pela natureza da causa – que estabelece a priori seus fins e suas condições –, ora pelo próprio quadro de referência ideológico que nos diz o que é luta, o que vem a ser ou não política, o que se deve ou não se deve fazer, quem é ou não é o sujeito histórico. A noção de uma “margem de ação infinita” muda o jogo. Menos talvez pelo fato de estender a perder de vista o horizonte da ação (o que, de todo modo, aguça e estimula a imaginação), e certamente porque estabelece que o horizonte que está posto é limitado demais e que é possível e desejável ultrapassá-lo.
Para o ativismo, essa noção amplia o campo estratégico e renova as opções táticas. Altera o escopo da ação e também a própria autodefinição dos agentes da luta, suas capacidades e seus propósitos. É surpreendente que nós, ativistas, ainda nos mantenhamos facilmente circunscritos a esferas específicas de ação (o ambientalismo, a reforma agrária, o feminismo, a cidade, a floresta, a tecnologia, etc.), observando de forma respeitosa os limites de cada campo, e que ousemos tão pouco embaralhar ou desconstruir tais esferas, muito menos criar outras.
Todo campo é inventado. Uma vez que só a ação pode inventar um campo, que a ação política, portanto, faça existir aquilo que ainda não existe.
++
Repetir repetir – até ficar diferente, escreveu o poeta pantaneiro. Em certa medida, assim o fizeram alguns filósofos. Há uma espécie de repetição estéril no campo das lutas que cria muitos movimentos simultâneos, mas que essencialmente são constituídos de: eliminar aquilo que não é espelho. Bagunçar as fronteiras poderia ser uma forma possível de expandir a potência de todas e cada uma das lutas? Às vezes, sim. Mas quase sempre recuando a essa forma primeira de reduzir o campo infinito de possibilidades a uma repetição que não promove diferença.
+++
O QUE FAZER
Quando o centro da cidade de Atenas estava de novo em chamas, atingiu-se, nessa noite, um paroxismo de júbilo e de esgotamento: o movimento vislumbrou toda a sua potência, mas também compreendeu que não sabia o que fazer com ela. (ANACI, 162)
Vencer a polícia, arrasar os bancos e derrotar temporariamente um Governo ainda não é destituí-lo. O que o caso grego nos ensina é que, sem uma ideia concreta do que seria uma vitória, só podemos ser derrotados. A determinação insurrecional não basta por si só; nossa confusão ainda é demasiado espessa. Que o estudo das nossas derrotas nos sirva, pelo menos, para a dissipar um pouco. (ANACI, 163)
Comentários
Há, em pelo menos um aspecto, enorme diferença entre os agentes da esquerda hierárquica tradicional (marxista-leninista, de corte disciplinador e autoritário) e a constelação dos agentes da multidão que lutam por um “outro mundo”: os primeiros têm um modelo de sociedade e um modelo de governo, e procuram implantá-los. Têm uma formulação do que é a “vitória”. Do outro lado, sem modelo, sem governo, o que temos é “confusão espessa”, como afirma o Comitê.
É provável que, diante da pergunta “O que é vitória para nós?”, decorra um sem fim de platitudes (“justiça social”, “igualdade”, “liberdade”, “diversidade” etc) e de imagens idílicas de mundo que acabam por não dizer nada e por se perder na vala comum das boas intenções.
A pergunta pode estar mal formulada. Ou pode ser que a pergunta exija ser bem respondida. Se eu não tenho resposta para ela, isso dirá mais de mim do que da pergunta. De todo modo, parece que precisamos mesmo é de coragem para encará-la, nem que seja para dizer, ao final, que a questão não nos serve mais. Se for para invalidar a pergunta, que seja por uma boa resposta – ou por uma pergunta melhor.
++
Há uma pista para o enfrentamento do problema do que fazer no tópico “Inteligência da situação”.
++
Um plano de estudos para as derrotas. Somos todos derrotados. E é isto que nos faz outros em relação a todos os vitoriosos.
A convocação da imagem de uma vitória é um flerte, sim, com os formulários ou cartilhas da militância que, sem pestanejar, se aliam ao tucanato para decretar guerra à multidão!!! Mas a multidão não para de se recompor. Vinte centavos foi uma vitória? Para o problema então colocado, sim. Para os problemas que se colocam logo depois, não. Qual o problema? Qual a vitória?
+++
REVOLUÇÃO
Uma insurreição pode estourar a qualquer momento, por qualquer motivo, em qualquer país; e levar não importa aonde. (…) As insurreições chegaram, mas não a revolução. (…) Mas por maior que seja a desordem sob os céus, a revolução parece sempre se asfixiar na fase de motim. Nesse ponto, é preciso admitir, nós, os revolucionários, fomos derrotados. Não porque não perseguimos a “revolução” enquanto objetivoapós 2008, mas porque fomos privados, continuamente, da revolução enquantoprocesso. (ANACI, 11-13)
Comentário
Viver o processo: é isso a revolução!
Se nossa guerra, ou nossa luta, não é contra a teleologia, não deixamos de buscar viver a revolução enquanto processo, e o processo enquanto revolução. O que isso muda nas coisas mesmas? Lembremos Foucault que, sempre para nosso estranhamento, comenta Kant:
“Por outro lado, o que faz sentido e o que vai constituir o signo do progresso é que, em torno da revolução, diz Kant, há ‘uma simpatia de aspiração que beira o entusiasmo’. O que é importante na revolução, não é a revolução em si, mas o que se passa na cabeça dos que não a fazem ou, em todo caso, que não são os atores principais; é a relação que eles mantêm com essa revolução da qual eles não são agentes ativos.” (Michel Foucault, O que é o Iluminismo?)
+++
TRAIÇÃO
Se as revoluções são sistematicamente traídas, talvez isso seja obra da fatalidade; mas talvez seja o sinal de que há, na nossa ideia de revolução, alguns vícios escondidos que a condenam a esse destino. Um desses vícios reside no fato de ainda pensarmos (…) a revolução como uma dialética entre o constituinte e o constituído. Ainda acreditamos na fábula de que todo o poder constituído se enraíza num poder constituinte, de que o Estado emana da nação, como o monarca absoluto de Deus, de que existe permanentemente sob a Constituição em vigor uma outra Constituição, uma ordem ao mesmo tempo subjacente e transcendente (…). Essa ficção do poder constituinte serve apenas, na verdade, para mascarar a origem propriamente política, fortuita, o golpe de força pelo qual todo poder se institui. Aqueles que tomam o poder retroprojetam a fonte de sua autoridade sobre a totalidade social que, a partir de então, controlam e, dessa forma, fazem-na calar em seu próprio nomede maneira legítima. Assim se realiza, em intervalos regulares, a façanha de disparar sobre o povo em nome do povo. (ANACI, 86-87)
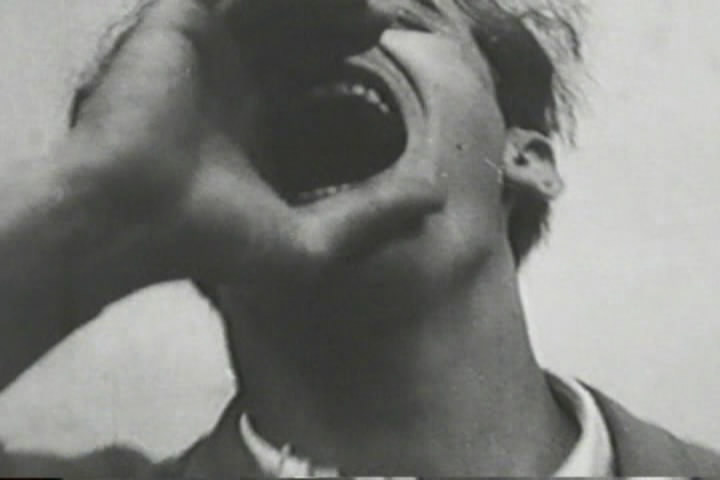
Comentários
Se a revolução é entendida, numa perspectiva totalizadora, como aquilo que muda tudo ou a situação em que tudo mudou (ou será mudado), então não há como não haver traição da revolução, seja num sentido contrarrevolucionário, seja numa perspectiva ainda revolucionária que segue seu curso, incansavelmente. Isso porque não é possível, nem desejável, mudar tudo. Esse projeto totalitário é preciso trair.
A ideia de insurreição parece menos suspeita, pois há algo nela que a limita: é o seu fim. Uma espécie de revolução que se contém – e se contenta por isso. Pode querer muito, mas não tudo. E, pelo fato de muito às vezes ser muito pouco, haverá muito a ser feito, sempre.
++
Fortuita: aqui me parece mesmo haver um certo apelo a um misticismo. Que as revoluções fracassem tão logo o povo descubra que toda revolução é particular, compreendemos. Mas qual a explicação material para o processo que chegamos a chamar de revolucionário? Qual força conjura o golpe e formata o governo revolucionário? Aqui, há uma sensação de questões conceituais, narrativas, que pouco têm que ver com o sangue derramado, o gás inalado. A ver…
+++
POTÊNCIA
Uma força revolucionária deste tempo deve zelar sobretudo pelo crescimento paciente de sua potência. Essa questão foi reprimida durante muito tempo por trás do tema obsoleto da tomada do poder. (ANACI, 292)
“O que é a felicidade? O sentimento de que a potência aumenta”. (ANACI, 284)
Comentários
Nota mental: tomar o “aumento de potência” como critério para a adoção de estratégia ou tática; da mesma forma, usar o “aumento de potência” como indicador na análise dos fenômenos, das situações e das ações políticas.
++
Em Espinosa: não desejo algo porque é bom; mas porque o desejo é que ele se torna bom. Mas o que seria o crescimento da potência de uma força revolucionária? Força revolucionária: um agrupamento? De que tipo? Potência desta força: o que a torna mais forte, com maior condição de ação? Tudo isso em relação a quê?
++
Potência é abandonar algo da vida que a obstrui!
+++
GUERRA
No fundo, a rejeição da guerra só exprime uma recusa infantil ou senil em admitir a existência da alteridade. A guerra não é a matança, mas sim a lógica que regula o contato de potências heterogêneas. Se há uma multiplicidade de mundos, se há uma irredutível pluralidade de formas de vida, então a guerra é a lei de coexistência nesta terra. (ANACI, 167)
A paz não é possível nem desejável. O conflito é a própria matéria daquilo que se é. Resta adquirir uma arte de como conduzir isso, que é uma arte de viver situacionalmente, e que supõe delicadeza e mobilidade existencial mais do que vontade de esmagar aquilo que não somos. (ANACI, 168)

Comentários
É inspirado em Michel Foucault o conceito de guerra (ou guerra civil) que CI põe em circulação aqui – e que também se encontra em Tiqqun (Contribuição para a guerra em curso, n-1, 2019). Diz o filósofo francês em A sociedade punitiva (citado em ANACI, 179): “A guerra civil é a matriz de todas as lutas pelo poder, de todas as estratégias do poder e, por conseguinte, também a matriz de todas as lutas a propósito do poder e contra ele”, um “processo através do qual e pelo qual se constituem diversas coletividades novas, que não tinham vindo à tona até então”.
Em Tiqqun, a formulação é quase idêntica ao trecho do CI reproduzido acima: “A guerra civil é o livre jogo das formas-de-vida, o princípio de sua coexistência” (p. 25). Lá temos uma breve, mas precisa, explicação sobre o uso do termo: “Guerra, porque, em cada jogo singular entre formas-de-vida, a eventualidade do confronto bruto, do recurso à violência, jamais pode ser anulada” (p.26).
Nesses trechos todos, talvez seja preciso compreender, como alerta CI, que “a guerra não é a matança”, mas a lógica do encontro, do “jogo” entre potências diferentes. É por isso que, do outro lado do espelho, a paz não seja possível. Guerra e paz jogam aqui o seu jogo de antinomias.
Curiosa a escolha pela guerra e a recusa da paz. Ora, seria possível afirmar, também com o intuito de ressignificar um conceito, que a paz não é a harmonia, o bem estar indiscriminado que supõe o fim de todos os conflitos, mas, sim, considerando que “o conflito é a própria matéria daquilo que se é”, ela é justamente “a arte de viver situacionalmente, e que supõe delicadeza e mobilidade existencial mais do que vontade de esmagar aquilo que não somos”. Delicadeza e mobilidade existencial parecem ser, em política, talvez o que mais se aproxima de um sentido ativo e potencializador de “paz”.
Antes de ser qualquer recusa, em qualquer condição etária, da alteridade, rejeitar a guerra, isso que comumente se entende por guerra – esta expressão do poder que se manifesta em matança (individual ou coletiva, velada ou escancarada, no estrangeiro ou em território nacional), genocídio, carnificina, massacre, chacina, assassinato (qualquer nome que se dê a isso) –, ao contrário, pode ser a melhor ou a maior afirmação da alteridade que se possa fazer neste mundo. E a isso se segue, como decorrência necessária, a recusa da recuperação ou retomada do conceito de guerra como potência da criação das coletividades novas; simplesmente a recusa em dourar a pílula da ideia de guerra, uma forte rejeição da guerra (e da violência) inclusive como metáfora da potência da vida.
++
Há um pressuposto que orientou ou orienta a vida social: “o homem é o lobo do homem”, a vida é a “guerra perpétua de todos contra todos”. Isto se traduz em um problema para a paz e, principalmente, para a liberdade: “a minha liberdade acaba quando interfere na do outro”.
Ora, o esforço é para ampliar as esferas de liberdade: a liberdade de um aumenta junto com a dos demais. Mas não há ponto pacífico nesta formulação. Na mesma medida em que diferentes interesses se chocam é que aparecem os conflitos. Sua resolução implica algo que pode ser diverso da sua pacificação e aproximar-se da sustentação do conflito enquanto sustentação da vida em si mesma e de todas as formas de vida que lhe acompanham.
Quanto de guerra, no sentido mais frequentemente usado do termo, não se fez em nome da “paz”?
++
“Se quer guerra terá! Se quer paz, quero em dobro!” (Vida Loka, parte 1 – Racionais Mc’s)
A paz não é algo presente nos corpos daqueles que vivem na guerra. Falo daqueles e daquelas que nascem, vivem e morrem nela e com ela se constituem. Falo de gente da pele escura que ao nascer lhe é declarada guerra! São mortos por ela, são potentes a partir dela. Arrasados pelos seus destroços, multiplicados pela herança, pela história dos que não estão mais para contar. Se a paz prometida vier pelo decreto, que a guerra se faça em dobro!
++
Para alguns povos indígenas a guerra não visa acabar com os inimigos. Ela é apenas uma forma de comunicação – incluir em si um traço do inimigo e assim ampliar o repertório, tornar-se mais forte. A aposta é de que o conflito alimentará a cultura e o conhecimento. A guerra como tática de afirmação da vida.
+++
DESTITUIÇÃO
Repensar a ideia de revolução como pura destituição. (ANACI, 88)
Para destituir o poder não basta portanto vencê-lo na rua, desmantelar seus aparelhos, incendiar seus símbolos. Destituir o poder é privá-lo de seu fundamento. É isso o que justamente uma insurreição faz. (…) Destituir o poder é privá-lo de legitimidade, é conduzi-lo a assumir sua arbitrariedade, a revelar sua dimensão contingente. (…) Na insurreição, o poder vigente é mais uma força entre outras forças sobre um plano de luta comum, e não mais essa metaforça que rege, ordena ou condena todas as potências. (…) Destituir o poder é mandá-lo por terra. (ANACI, 89-90)
Quebrar o círculo que faz de sua contestação o alimento daquele que domina, marcar uma ruptura na fatalidade que condena as revoluções a reproduzir aquilo que elas perseguem, tal é a vocação da destituição. A noção de destituição é necessária para liberar o imaginário revolucionário de todos os velhos fantasmas constituintes que a entravam, de toda herança enganadora da Revolução Francesa. Ela é necessária para fazer um corte no seio da lógica revolucionária, para operar uma partilha no próprio interior da ideia de insurreição. Pois há as insurreições instituintes, aquelas que acabam como acabaram todas as revoluções até hoje: retornando a seu contrário, aquelas que se fazem “em nome de…” – em nome de quem? do povo, da classe operária, de Deus, pouco importa. E há as insurreições destituintes, como foram as de maio de 1968, o maio desenfreado italiano e tantas comunas insurrecionais. (MDA, 91)
Comentários
Negri, citado e atacado pelo CI, advoga em prol de uma releitura do conceito a partir da materialidade das lutas que emergem a partir de 2011, contra uma leitura estritamente jurídica e moderna dos mesmos. Em seu último livro com Hardt, ambos defendem a invenção de instituições não-soberanas, construídas sobre as bases das redes de cooperação. Afirmam a importância da tomada de poder, mas não a permanência das instituições como formas jurídicas em si mesmas.
++
As revoluções até hoje não deram conta de realizar uma ruptura drástica no sentido de propriedade. Não basta destituir o sentido de propriedade, deslocá-la de um polo a outro. A propriedade precisa ser destruída!
Nenhuma instituição pode ser capaz de governar a vida das pessoas, ponto.
+++
SAIR
Destituere significa, em latim: colocar em pé à parte, erigir isoladamente; abandonar; pôr de lado, deixar cair, suprimir; decepcionar, enganar. Enquanto a lógica constituinte choca-se contra o aparelho de poder sobre o qual ela pensa ter controle, uma potência destituinte se preocupa muito mais em dele escapar, em retirar desse aparelho qualquer controle sobre si, na medida em que agarra o mundo que forma à margem. Seu gesto próprio é a saída, enquanto o gesto constituinte é a tomada de assalto. Em uma lógica destituinte, a luta contra o Estado e o capital vale sobretudo por uma saída da normalidade capitalista, na qual se vive, por uma deserção das relações de merda consigo, com os outros e com o mundo que, na normalidade capitalista, se experimenta. (MDA, 94-95).
Comentário
Não se está falando apenas em tomar ou não tomar o poder, mas em esvaziamento das instituições, num movimento em que a coletividade passa a assumir seu papel, realizar suas funções, sufocar as instituições pela positividade de suas ações. Se Syriza e Podemos, ao tentarem ocupar o poder, foram por ele ocupados (citação que o CI faz de um militante do próprio Podemos ao referir-se ao mesmo), isto nos alerta para o fato mesmo de que a estrutura que sustenta esse mundo de pé está falida. Romper a normalidade capitalista é romper a dependência institucional?
Experiências vividas por nós vêem que as lutas se dão simultaneamente, não uma em detrimento da outra (como um território quilombola que tem condições de viver autonomamente em relação às instituições, mas não abre mão das mesmas – seja a eletricidade do Luz Para Todos, seja a construção da escola estadual ou da unidade de saúde).
+++
CONSTRUIR, ATACAR
O gesto revolucionário, portanto, não consiste mais em uma simples apropriação violenta deste mundo, ele se desdobra. De um lado, há mundos por fazer, formas de vida que devem crescer distantes do que impera, aqui compreendido o que pode ser recuperado do atual estado de coisas, e, por outro, é preciso atacar, é preciso destruir o mundo do capital. (MDA, 104)
Só uma afirmação tem a potência de cumprir a obra da destruição. O gesto destituinte é assim deserção e ataque, elaboração e saque, e isso em um mesmo gesto. Ele desafia, ao mesmo tempo, as lógicas admitidas da alternativa e do ativismo. O que se joga nele é uma junção entre o tempo longo da construção e aquele mais intermitente da intervenção, entre a disposição em gozar de nosso pedaço de mundo e a disposição para colocá-lo em jogo. (MDA, 106)
Comentário
O esvaziamento dos poderes constituídos, das instituições, pela afirmação de formas de vida que podem interromper a normalidade da vida atravessada pelo capitalismo: interromper e destruir.
Construção, intervenção. Destruir para recriar?
Na base da criação está a destruição.
+++
SECESSÃO
Vamos (…) assumir a secessão que o capital já pratica, mas ao nosso modo.Fazer secessão não é cortar uma parte do território do conjunto nacional, não é se isolar, cortar as comunicações com todo o resto – isso é a morte certa. Fazer secessão não é constituir, a partir do refugo deste mundo,contraclusters em que comunidades alternativas se comprazeriam em sua autonomia imaginária relativa à metrópole (…). Fazer secessão é habitar um território, assumir nossa configuração situada no mundo, nossa forma de aí permanecer, a forma de vida e as verdades que nos conduzem e, a partir daí, entrar em conflito ou em cumplicidade. É, portanto, criar laços de maneira estratégica com outras zonas de dissidência, intensificar as circulações com as regiões amigas, ignorando as fronteiras. Fazer secessão é romper não com o território nacional, mas com a própria geografia existente. É desenhar uma outra geografia, descontínua, em arquipélago, intensiva – e então partir ao encontro dos lugares e dos territórios que nos são próximos, mesmo se for necessário percorrer dez mil quilômetros. (ANACI, 220-221)
Comentário
Não se trata, então, de algo tipo “walden” [1] ou qualquer remissão a comunidades hippies. A menção a Deligny [2] e seu grande trabalho com as pessoas com autismo talvez possa dar uma materialidade. Ou talvez o que os zapatistas construíram até aqui. Ou talvez, de novo, a terra quilombola, que não abdica de seu direito ao título que lhes amplia direitos, mas não se entrega a um modo de vida da economia capitalista, mantendo muito de sua forma de vida tributária há três séculos de existência.
1 Walden ou a vida nos bosques é uma obra de Henry David Thoreau, publicada nos EUA em 1854.
2 Fernand Deligny (1913-1996), educador francês.
+++
ORGANIZAÇÃO
Se organizar nunca quis dizer se filiar a uma mesma organização. Se organizar é agir segundo uma percepção comum, em qualquer nível que seja. Ora, o que faz falta à situação não é a “cólera das pessoas” ou a penúria, não é a boa vontade dos militantes nem a difusão de consciência crítica, nem mesmo a multiplicação do gesto anarquista. O que nos falta é a percepção partilhada da situação. Sem essa ligatura, os gestos se apagam no nada e sem deixar vestígios, as vidas têm a textura dos sonhos, e os levantes terminam nos livros escolares. (ANACI, 18-19)
Como construir uma força que não seja uma organização? (ANACI, 277)
É preciso sair de nossa casa, ir ao encontro, tomar o caminho, trabalhar a ligação conflitiva, prudente e feliz, entre os fragmentos de mundo. É preciso se organizar. Organizar-se verdadeiramente nunca foi outra coisa do que se amar. (MDA, 57-58)
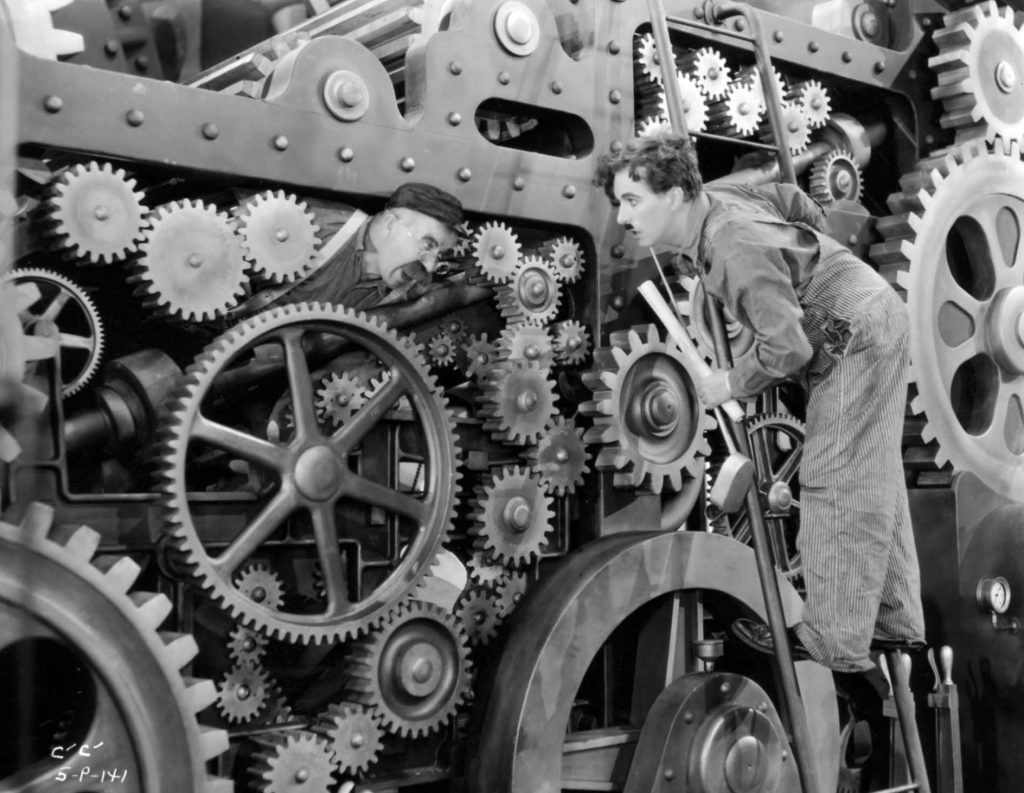
Comentários
Que bom seria se a nossa percepção partilhada da situação partisse, então, da organização verdadeira chamada amor. Isso se o que organiza não for o papel, mas o valor e o sentimento. Eu poderia me basear na ideia de que a única coisa mais forte do que o medo é a esperança e partilharia, então, a esperança de que um mundo melhor é realmente possível. Quem sabe, daí, se organizaria uma revolução.
++
Uma primeira ideia, para ser elaborada: qualquer tentativa de organização contra-hegemônica precisaria assumir-se, antes de mais nada, como não-hegemônica, ou não hegemonista.
E isso é o contrário do que querem e do que fazem nossos amigos e amigas da “esquerda”, de seus partidos, movimentos associados e aparelhos. Qualquer pessoa ciente de sua liberdade e de sua independência irá dizer Não a tais pretensões de subordinação mascaradas de “frente ampla”. A história da fagocitação política das múltiplas potências pelas organizações de massa centralizadas e hegemonistas já é velha conhecida.
Dizer “Não!” aos hegemonistas não resolve muita coisa do problema da “organização” – só exige que pensemos em outros pontos de partida.
+++
MODA
Quem quer que comece a freqüentar os meios radicais se admira de início com o hiato que reina entre seus discursos e suas práticas, entre suas ambições e seu isolamento. Eles parecem como que condenados a uma espécie de autodestruição permanente. Não demora muito tempo para perceber que eles não estão ocupados em construir uma força revolucionária real, mas em alimentar uma corrida de radicalidade que satisfaz a si própria – e que se desenrola indiferentemente no terreno da ação direta, do feminismo ou da ecologia. O pequeno terror que aí reina e que torna o mundo tão duro não é o do partido bolchevique. É antes o da moda, esse terror que ninguém exerce pessoalmente, mas que se aplica a todos. Teme-se, nesses meios, deixar de ser radical, como do outro lado se teme deixar de estar na moda, de ser cool ou hipster. Precisa-se de pouco para manchar uma reputação. Evita-se ir à raiz das coisas em proveito de um consumo superficial de teorias, de manifestações e de relações. A competição feroz entre grupos, como também entre si, determina uma implosão periódica. Há sempre carne fresca, jovem e iludida para compensar a partida dos esgotados, dos traumatizados, dos enojados, dos esvaziados. (ANACI, 172-173)
Comentários
Antigamente (é preciso usar este advérbio com muita ênfase), antigamente o militante preocupado com o povo, envolvido com a classe trabalhadora, queria fazer desaparecer sua identidade burguesa, sua consciência culpada, e, assim, se dissolvia ele mesmo num devir-operário. Seu horror era parecer diferente do povo. Queria se misturar ao povo, pertencer ao sujeito coletivo, dispor de si para se amalgamar na figura sem rosto da classe revolucionária que faria tudo mudar.
Contemporaneamente, o ativista é, antes de qualquer coisa, um ser distinto – incomum, diferente. Tudo isso em nome da premissa da singularidade, aquilo que é mais próprio da vida e da liberdade, o mais radical exercício do viver: ser único, sem igual. Pior é que nem é tanto assim. Uma vez que essas e esses singulares todes acabam no final tão parecides.
++
Então, numa consideração com viés menos sarcástico, é preciso reconhecer que o ativismo está inscrito, em suas formas contemporâneas, no âmbito maior das modas culturais juvenis, e que se expressa com base em pressupostos conceituais e atitudinais delas, sendo indissociável do curso desses fenômenos mais abrangentes. Então, é preciso reconhecer no ativismo suas influências hippies, góticas, punks, cristãs, leninistas, guevaristas, gandhianas, rastafáris… No mínimo, isso nos abre novas abordagens sobre os desafios da mobilização e da interlocução com a “sociedade” – este conjunto dos que habitam conosco e estão ao nosso redor e aquilo que, de uma forma ou de outra, todo ativismo pretende transformar.
Na verdade, talvez caiba reconhecer o ativismo ele próprio como uma moda cultural, um “estilo de vida”, com seus códigos, seus discursos, suas manifestações estéticas, seu visual e suas roupas. Quando um estereótipo se constitui, ele o faz a partir de uma base original empírica; o estereótipo é falso, no mínimo, enganoso, mas pode dar boas pistas para abordar um fenômeno. Se alguém usa o qualificativo “ativista” – como em pessoa ativista, atitude ativista, revista ativista – é porque há uma forma cultural de características definidas que se instituiu. Qual forma é essa, e quais são suas características? Isso dá uma boa pesquisa.
++
Se os “meios radicais” são ambiente de moda, como insinua este trecho do CI, os radicais tem de lidar com isso, seja 1) superando e ultrapassando essa condição, seja 2) assumindo um perfil e um estilo correspondente à sua moda, seja 3) abolindo sua própria radicalidade, aquilo que os distingue e caracteriza. É o momento em que o ativista pode ou não negar o seu ativismo sem negar sua luta.
++
Me parece que está também em jogo o sentido e a possibilidade de um devir ativista. Não no sentido de vir a ser isso ou aquilo, na maneira utópica de ser e estar em uma sociedade que se deseja, mas de assumir a radicalidade de não se enclausurar em uma identidade fixa, em uma causa sublime e única. Permitir transformar-se em qualquer coisa que a luta exigir. Ser floresta, ser terra, ser água, ser sem terra, sem teto, refugiado, trans, estudante, o que for preciso. E antes de tudo: não se deixar capturar pela moda.
+++
ATIVISMO PERFORMÁTICO
Ao se definir como produtor de ações e de discursos radicais, o radical acabou de forjar uma ideia puramente quantitativa de revolução – como uma espécie de crise de superprodução de atos de revolta individual. “Não percamos de vista”, escrevia Émile Henry, “que a revolução será a resultante de todas essas revoltas particulares”. A história está aí para desmentir essa tese: seja a revolução francesa, russa ou tunisiana, todas as vezes a revolução é resultante do choque entre a situação geral e um ato particular – a invasão de uma prisão, uma derrota militar, o suicídio de um vendedor ambulante de fruta –, e não a soma aritmética de atos de revolta separados. Essa definição absurda de revolução está provocando os danos previsíveis: esgotamo-nos num ativismo que não se enraíza em nada, entregamo-nos ao culto mortífero da performance, no qual se trata de atualizar a todo momento, aqui e agora, a identidade radical – seja nas manifestações, no amor ou no discurso. Isso dura um tempo – o tempo de burnout, de depressão ou de repressão. Sem que ninguém tenha mudado nada. (ANACI, 174-175)

Comentários
CI faz uma crítica ao modelo greenpeace de ativismo espetacular. Mesmo que a organização ambientalista mundial possa fazer mais do que executar foto-oportunidades e cenas telegênicas para delícia da mídia, não resta dúvida que produziu um estilo de ativismo midiático, copiado e reproduzido por muitas.
Esse “culto mortífero da performance” é fácil de ser verificado entre nós, ativistas do Brasil, especialmente no ambiente das grandes cidades. Trata-se de uma espécie de ativismo de atos, um “atismo”, doença juvenil da luta, contemporânea dos likes e das selfies, dos vlogs e influencers digitais. Eis um tema controverso, pois o espetáculo pode/deve ser uma arma, dirão algumas; e o espetáculo precisa ser derrotado, dirão outras.
CI sugere a alternativa de um ativismo que se enraíze.
Em outra chave, a gente poderia dizer: no mínimo, um ativismo que não seja banal. Eis um critério muito simples, de fácil uso, como nesta pergunta singela: Este ato (marcha, ação criativa, ocupação etc) que iremos fazer é um ato banal?
++
Se essa revolução que se faz montar como um quebra cabeça, uma soma extenuante entre partes “particulares” – se ela é absurda, podemos dizer que a estratégia é também um instrumento absurdo de revolução. A estratégia fatia a luta em partes, apostando que será também uma “crise de superprodução” de táticas certeiras que levarão a um resultado – que, francamente, é desconhecido.
O radical nunca encontrará as raízes de nada. Não pode se orgulhar de muito mais do que fingir decifrar o indecifrável. Não é a toa que a destituição proposta pelo Comitê quer “mandar o poder por terra” (ANACI, 90), tombá-lo de uma vez como uma estátua milenar.
Paremos de tentar encontrar, talvez, aquilo de que a revolução é resultante.
+++
POLÍTICA
Eis a grande mentira e o grande desastre da política: colocar a política de um lado e de outro da vida: de um lado, o que se diz, mas que não é real e, do outro, o que é vivido, mas não se pode dizer. (MDA, 71-72)
“Política” jamais deveria ter se convertido em um nome. Deveria ter continuado um adjetivo. Um atributo e não uma substância. (MDA, 73)
Comentário
“Ativismo” jamais deveria ter se desdobrado em adjetivos ou nomes que caracterizam sujeitos (“ativista”). Deveria ter continuado a ser tratado como um fenômeno, designado sempre a posteriori, isto é, que só pode ser percebido depois que acontece. Como a paixão, ou o amor.
+++
AGIR
Um movimento que exige está sempre por baixo de uma força queage. (ANACI, 86)
O velho mito da greve geral [deve] ser colocado na seção dos acessórios inúteis.(MDA, 24)
Mostrou-se evidente, para todo manifestantevivo, que os desfiles em marcha lenta exibiam a pacificação pelo protesto. (MDA, 35)
Os amadores desses cortejos fúnebres nomeados “manifestações”, todos estes que, tomando um vinho tinto, apreciam o gozo amargo de ser sempre derrotados, todos estes que soltam um flatulento “Isso vai dar merda!”, antes de sabiamente entrarem em seus carros. (MDA, 14)
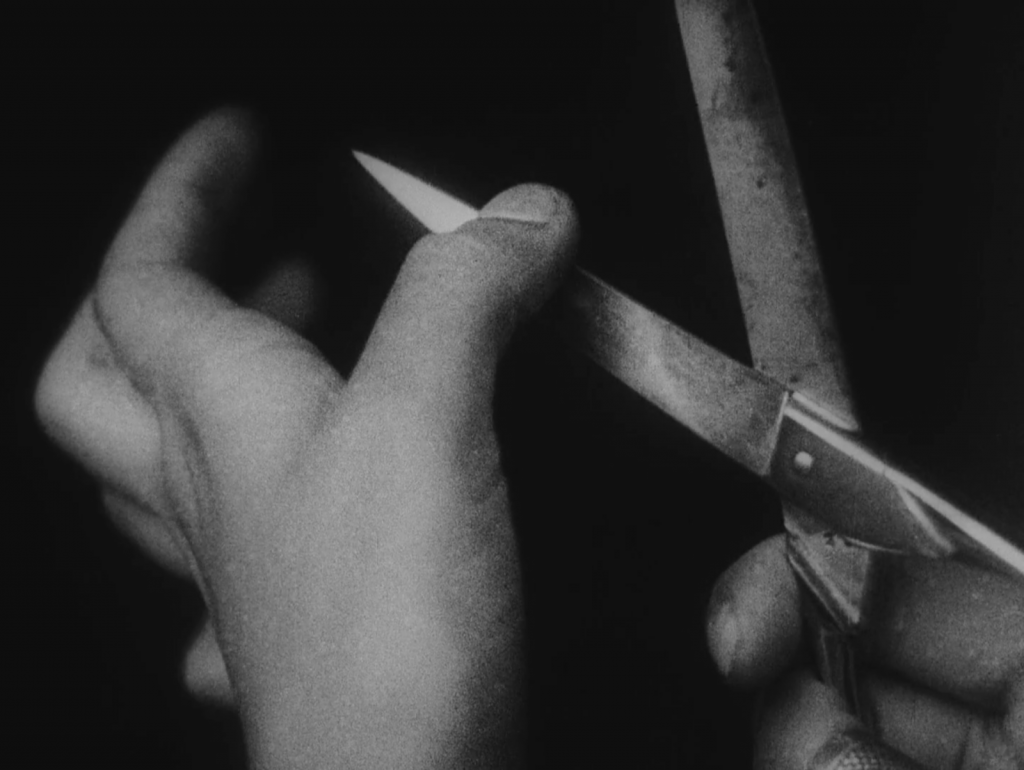
Comentários
Pode-se falar de uma crise do ativismo? A primeira frase reproduzida acima, retirada de um livro do Comitê Invisível, e que poderia constar de qualquer coletânea de citações vendidas baratinho num saldão de livros usados, diz quase tudo sobre essa crise. Uma grande parcela do ativismo brasileiro das manifestações e atos criativos na Paulista ou na Esplanada dos Ministérios parece nitidamente estar por baixo, pois a única coisa que faz é “exigir”. E ir-para-a-rua é a fórmula caduca de seu modusoperandi que só trai a sua impotência.
Primeiro, ir-para-a-rua é, quase sempre, reação – e não ação. E, quase sempre, reação tímida e fraca, diante de uma ação ostensiva e forte do adversário (o Estado, as corporações, o Poder).
Segundo, ir-para-a-rua é, quase sempre, iniciativa descolada de uma estratégia de força, de oposição e luta, que prevê escaladas, avanços súbitos ou retiradas táticas, confrontação radical. Em geral, os atos de rua se esgotam neles mesmos – são fins em si mesmos. Por isso, inócuos, quase sempre.
Terceiro, os atos de rua, em geral, com seus cartazes e palavras de ordem, são menos situações de força que extravasam para o espaço público e mais uma espécie de modo espetacular de transmitir nossa mensagem para a televisão. Quase sempre, nesse sentido, são uma forma de mídia – e nada mais que isso. Num mundo midiatizado, rodeado de imagens por todos os lados, esses atos desaparecem instantes depois que vêm à luz, desmancham no ar depois de seus 15 segundos de fútil fama.
Quarto, as mensagens dos atos de rua quase sempre interpelam os agentes do poder fortalecendo sua posição de poder: exigem que o Estado cumpra a lei; que os deputados votem ou deixem de votar; que as autoridades ajam ao ordenar algo ou ao retirar uma ordem; que as empresas deixem de fazer ou façam alguma coisa para o bem. Reivindicação é, no fundo, isso: pedir. “Parem as motosserras!”. Quem irá pará-las?
Quinto, ir-para-a-rua é item típico de uma cartilha de táticas na categoria “Formas básicas de luta”, algo como um “abaixo-assinado” das vias públicas (enquanto no abaixo-assinado os signatários reivindicantes colocam seus nomes, os aqui-presentes das passeatas colocam seus corpos – não à toa os resultados de ambas as táticas costumam ser parecidos). É uma forma codificada demais, já sabida, de fácil combate e anulação. Então, por que insistimos tanto nela?
Para além do argumento da demonstração de forças (reunir gente na rua é prova de nossa determinação) e de servir como indicador de mobilização das causas, os atos públicos que só fazem reivindicar parecem evidenciar, no fundo, a incapacidade do ativismo de ir além do discurso e de dar conta de uma luta política verdadeiramente conseqüente – isto é, com conseqüências, quaisquer que sejam elas. Por isso, esses clichês táticos de certo ativismo são sinais de crise – crise de responsabilidade, crise de visão, crise da própria potência.
++
Perguntas orientadoras:
O que seria um agir distinto de um exigir? Como sair da reivindicação pura e simples para a ação que não pede, faz?
Como podemos substituir o ato midiático de rua por alternativas táticas mais conseqüentes? Se a ideia é não ir para a rua (pelo menos, não no modo automático), iremos para onde? E para fazer o quê?
Se a rua é o lugar onde a polícia certamente estará, onde a polícia não vai estar?
Você já tomou a dianteira hoje?
+++
TÁTICA
Ocupar praças bem no centro das cidades e aí montar barracas, e aí montar barricadas, refeitórios ou tendas, e aí reunir assembleias, tudo isso em breve se tornará um reflexo político básico, como ontem foi a greve. (ANACI,12)
O motim, o bloqueio e a ocupação formam a gramática políticaelementarda época. (MDA, 38)
Comentário
Uma gramática elementar não tem de ser baseada em táticas elementares, mas num modo de agenciar processos e formas de luta capazes de incidência e efeito. Uma gramática sem formas prontas, isto é, que sugira apenas modos de produzir formas, nunca a reprodução do que um dia foi feito. Sem cases, sem melhores práticas – apenas uma linguagem da ação.
+++
NUNCA
Numa de suas publicações, os opositores à construção da linha-férrea Lyon-Turim escreveram; “O que significa serno-TAV? É partir de um enunciado simples; ‘o trem de grande velocidade nunca passará pelo Vale de Susa’ e organizar sua vida para que esse enunciado seja confirmado.” (ANACI, 221)
Comentários
Faço coro: Nunca!
Acredito que sem essa dimensão de determinação, os trabalhos, mesmos estes realizados no híbrido campo das organizações não-governamentais, não têm qualquer sentido. Não lutamos esperando pela derrota. Lutamos porque sabemos que nunca vai acontecer o mal que está prestes a nos acometer.
++
Nunca um Não ganhou tanta força como este Nunca.
Passar a usar mais este Nunca.
Por exemplo, na recusa e no combate às obras de infraestrutura que só nos vem arrasar e destruir.
Por exemplo, no caso do Porto Sul, em Ilhéus: “Nunca um porto para exportar minério será construído no sul da Bahia”.
Por exemplo, no Mato Grosso: “Nunca hidrelétrica de qualquer porte tomará o rio Juruena”.
Por exemplo, naquele estado montanhoso das Gerais: “Nunca mais se implantará aqui uma barragem de rejeito de minério”.
Em tantos lugares: “Nunca quem quer que seja fará qualquer coisa à nossa revelia”, “Nunca um direito a menos”, “Nunca terei ou serei eu mesmo/a chefe”… A lista é extensa.
Nunca houve palavra mais radical.
+++
TOMAR A DIANTEIRA
É preciso ler as doutrinas contrainsurrecionais, então, como teorias de guerra dirigidas contra nós, e que tecem, entre outras coisas, nossa situação comum nesta época. (…) Se as doutrinas de guerra contrarrevolucionária se modelaram a partir de sucessivas doutrinas revolucionárias, não podemos deduzir negativamente, contudo, uma teoria da insurreição a partir de teorias contrainsurrecionais. Eis a armadilha lógica. Não basta que mantenhamos uma guerra latente, que ataquemos de surpresa, que derrubemos todos os alvos do adversário. Até essa assimetria foi reabsorvida. Em matéria de guerra, como de estratégia, não basta recuperar o atraso: é necessário tomar a dianteira. Precisamos de um plano que vise não o adversário, mas a sua estratégia, que a volte contra ele. De tal maneira que, quanto mais acredita estar vencendo, mais rápido ele está caminhando para sua derrota. (ANACI, 186-187)
Comentário
Imagine um certo cenário sombrio num certo país distópico da América Latina, no qual as forças de resistência encontram-se atarantadas e confusas. As formulações do final do texto acima podem ajudar.
Ler novamente as três frases finais.
Ler em voz alta e bem devagar.
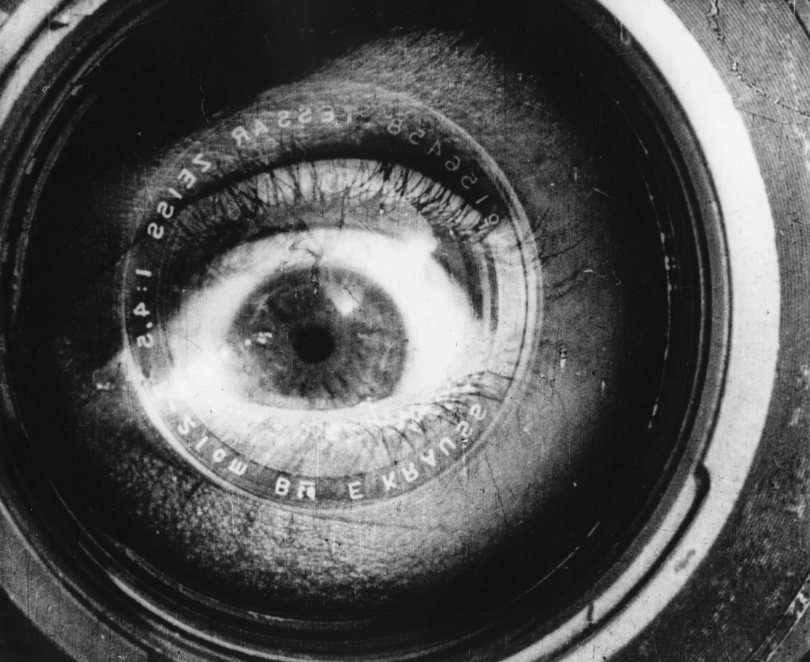
38 é muito: os jovens ativistas que derrubaram o ditador de Angola
Laurinda Gouvea

Introdução
No continente africano, o século 21 tem sido tempo de levantes. Não só: emergiram lá mais levantes do que em qualquer outra parte do mundo, em particular os movimentos de massa não violentos.[1] Em alguns países, como Tunísia e, mais recentemente, Sudão e Argélia, o poder popular desalojou chefes de Estado que há décadas se recusavam a sair. Em outros, como Uganda, Zimbábue e Quênia, as ações diretas, campanhas e mobilizações comunitárias têm ganhado um sopro de criatividade e tenacidade.
1 Erica Chenoweth, Zoe Marks e Jide Okeke. People Power Is Rising in Africa: How Protest Movements Are Succeeding Where Even Global Arrest Warrants Can’t. Foreign Affairs, 25 de abril de 2019. Na última década, a África liderou a emergência movimentos de massa não violentos (25), seguida pela Ásia (16).
Angola, com a qual compartilhamos o passado de colonização portuguesa, também viu o curso de sua história mudar pela força do ativismo. Após viver em primeira mão a insurgência contra o ex-ditador José Eduardo dos Santos – e sofrer no corpo a represália à luta – a ativista Laurinda Gouveia, hoje com 29 anos, relata a jornada dos jovens “revús”.[2]
2 Nome pelo qual ficaram conhecidos os jovens ativistas angolanos que se empenharam na luta contra o regime.
Angola está situada na parte austral ocidental de África. É um dos países mais ricos do continente devido aos seus recursos minerais e naturais. Em 1482, Angola foi colonizada pelos portugueses. Sofreu tortura e escravatura. Eles entraram de forma fria e dominaram todo o território. Acabaram por ter sua posse da terra confirmada na partilha da Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Apesar de termos lutado pela independência com catanas [3] dos colonos deixarem fisicamente Angola, espiritualmente o colono ficou e domina ainda a nossa terra. Os três partidos, MPLA, Unita e FNLA, [4] proclamaram a independência no dia 11 de novembro de 1975, mas logo depois instauraram a guerra por ganância e ambição do poder, apoiados pelo ocidente. Muitos filhos de Angola perderam a vida [5] no conflito, que teve fim com a morte de Jonas Savimbi, em 2002.
3 Facões.
4 MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), Unita (União Nacional Para a Independência Total de Angola) e FNLA (Frente Nacional de Libertação do Leste) foram os três principais movimentos a se engajarem na luta anticolonial em Angola nos anos 1960-70. Posteriormente, entraram em guerra civil pelo poder – em boa parte, um conflito “por procuração” que envolvia China, União Soviética, Cuba, EUA e África do Sul. Com a proclamação da independência em 1975, o MPLA passou a controlar o aparato estatal, sendo militar e politicamente desafiado pela Unita até 2002. A FNLA entrou em declínio militar nos anos 1970. Hoje, os três movimentos operam como partidos em Angola, embora o MPLA permaneça hegemônico.
5 As estimativas do número de mortos na Guerra Civil de Angola variam muito, indo de 500 mil a 2 milhões.
O feito da guerra foi tão forte que até hoje continuamos a vivenciá-la: o MPLA agarra-se com ganância ao poder desde então e mantém o povo refém da sua ditadura, sendo autor de vários massacres que ceifaram a vida de milhares de angolanos e angolanas. O mais marcante deles foi em 27 de maio de 1977 [6]. Levantaram-se, nessa data, pessoas que não aceitavam a forma como o MPLA estava a conduzir o país. Foram perseguidas, sequestradas e mortas pelo partido, que simulou um golpe de estado. Até hoje o governo não se responsabiliza nem entrega os cadáveres aos familiares. Cada um de nós tem um familiar ou conhecido que passou por esse facto [7] histórico. Esse massacre marcou as nossas histórias e mentes enquanto jovens e hoje representa momento de reflexão e protesto. Por outro lado, ele inibe os nossos familiares e amigos que viveram direta ou indiretamente aquele momento e temem que o mesmo venha a acontecer connosco.
6 Um dos episódios mais polêmicos, controversos e violentos da história angolana recente.
7 O leitor e a leitora encontrarão neste texto a grafia do português angolano. Angola não aderiu ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa ratificado em 1990 por Portugal, Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. No entanto, em 2019, o país inaugurou uma Comissão Multissetorial que discute a possibilidade de adesão pelos próximos cinco anos.
O activismo em Angola surge da situação adversa que o país enfrentou e enfrenta em quase todos os níveis – social, político, económico e de direitos humanos – por culpa de um grupo que tomou a hegemonia no país, como coisa privada e particular, que não se responsabiliza pelo estrago que vem causando nos 45 anos desde a independência. Perdemos a nossa história, nossas línguas, passamos a adorar o vazio, ficamos presos às tradições alheias, continuamos escravos sem direito a opinião. Não produzimos, vivemos presos aos estrangeiros, o nosso governo não aposta no cidadão e a mulher não tem voz, sem capacidade de encontrar a verdadeira liberdade. O povo continua sob o martírio da pobreza extrema, vivendo diariamente à custa de um dólar. Sofremos com a falta de respeito aos direitos dos cidadãos e cidadãs, enquanto o Estado e as políticas governamentais fecham os olhos de estrangeiros que não vivem a realidade deste triste país. Nepotismo, corrupção, impunidade, eleições fraudulentas, perseguição e morte de quem pensa diferente. Perfume de neocolonialismo, fantasma de guerra e regresso ao partido único.
O RENASCER DO ACTIVISMO EM ANGOLA
O nosso activismo emergiu neste contexto, com todas as lutas que alguns mais velhos começaram. Exigíamos saúde de qualidade, liberdade de expressão, educação e igualdade de tratamento. Mas o desafio maior que nos propusemos era remover José Eduardo dos Santos do poder, onde estava havia mais de 32 anos.

Não éramos os primeiros a confrontá-lo diretamente. Já existiam na sociedade civil personalidades como Makuta Konde, William Nome, Rafael Marques, o deputado Mfulupimga Nlando Victor e o jornalista Ricardo de Melo, os dois últimos mortos por falarem a verdade acerca de como estava a ser conduzido de forma errada o país. Nós próprios acreditávamos que não estaríamos vivos nos próximos 10 anos devido às mensagens que nossos familiares recebiam para impedir nossa luta pela liberdade. Mas, para nós, havia coisas mais importantes do que a vida: a nossa nação, a mudança. Uma Angola com hospitais, escolas, água e luz eficiente para todos os cidadãos, como direito e não esmola do governo.
Com ajuda das redes sociais e a coragem da juventude, começamos em 2011 uma campanha: “32 é muito. Fora, Zédu”. [8] A campanha era fortemente impulsionada por um “fantasma” com o nome Jonas Roberto, que até hoje não sabemos quem é além de alguém do Facebook. Alguns activistas, tempos depois, fizeram-se passar por ele, mas foram desmontados pela falsa argumentação. Ainda assim, os discursos de Jonas Roberto possuíam uma sustentabilidade e convicção de alguém que conhecia bem o sistema apodrecido em que estávamos inseridos.
8 Em alusão ao número de anos em que José Eduardo dos Santos estava, à época, no poder em Angola.
Eu apercebi-me da campanha em um show de hip hop em fevereiro de 2011, em que os músicos Ikonoclasta (Luaty Beirão) e Edu ZP a anunciaram. Antes disso, eu não sabia o que era uma manifestação de rua propriamente dita. Somente via manifestações religiosas e dos partidos políticos, algumas em apoio ao ditador José Eduardo dos Santos. Por outro lado, também estavam a acontecer manifestações em outras partes de África, como Egito e Líbia, e estes acontecimentos nos motivavam. As ditaduras que estavam a ser derrubadas não eram diferentes da de Angola.
No dia 7 de março de 2011, a uma hora da madrugada, aconteceu o primeiro protesto no Largo Primeiro de Maio. Os que apareceram, incluindo o próprio Luaty Beirão, acabaram por ser presos. A televisão pública dizia que os jovens estavam presos porque estavam a se fazer passar por manifestantes religiosos. Só depois acabei por confirmar que aquela informação era falsa, e que os manifestantes reivindicavam a destituição do presidente. Ainda não havia como tal um grupo organizado. Os que lá estiveram ouviram e aceitaram o apelo do Jonas Roberto. Mas, depois daquela primeira manifestação, constituiu-se automaticamente um coletivo que tratava das propagandas e actividades do então “movimento revolucionário”, nome dado pela mídia. Eu passei a fazer parte do grupo organizativo em 2013.
Os protestos aconteciam no mesmo local. Cada um aparecia com um sentido patriótico muito forte. Queríamos uma Angola melhor, sem José Eduardo. As manifestações eram divulgadas nas redes sociais ou nos eventos de hip hop que aconteciam na periferia. A internet foi a nossa mídia e única ferramenta, uma vez que a televisão pública não transmitia nada contra o presidente. Fazíamos vídeos, fotos e anúncios das nossas actividades para cativar as pessoas para aparecerem em massa. Usar a imagem do presidente de forma ridicularizada como protesto contra a má governação era uma coisa nova por parte da juventude. Sua imagem era usada nas igrejas e em marchas para adoração do “Santos”, mas nós, a juventude, decidimos mostrar seu verdadeiro rosto: o diabo que alimentava o inferno em Angola.
BARREIRAS: AS MANOBRAS DE JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS
“Quem são os jovens manifestantes em Angola? São uns 300 jovens frustrados, que não tiveram sucesso escolar, que dizem estar descontentes com a minha governação”, disse José Eduardo dos Santos em grande entrevista na rede portuguesa SIC (Sociedade Independente de Comunicação) em 2012. A má propaganda pela parte do governo fazia com que o povo pensasse que nós éramos pessoas do mal. O MPLA controlava os canais públicos e nós não tínhamos os canais de televisão, nem as rádios nacionais, nem as igrejas como nossos aliados; todos eram usados como propaganda política para o partido que tinha o poder de controlar tudo no país. Outra dificuldade era que nem todos tinham acesso à internet, onde fazíamos a nossa propaganda e cidadania, na qual incentivávamos o povo a agir contra o mal do país através de manifestações pacíficas.
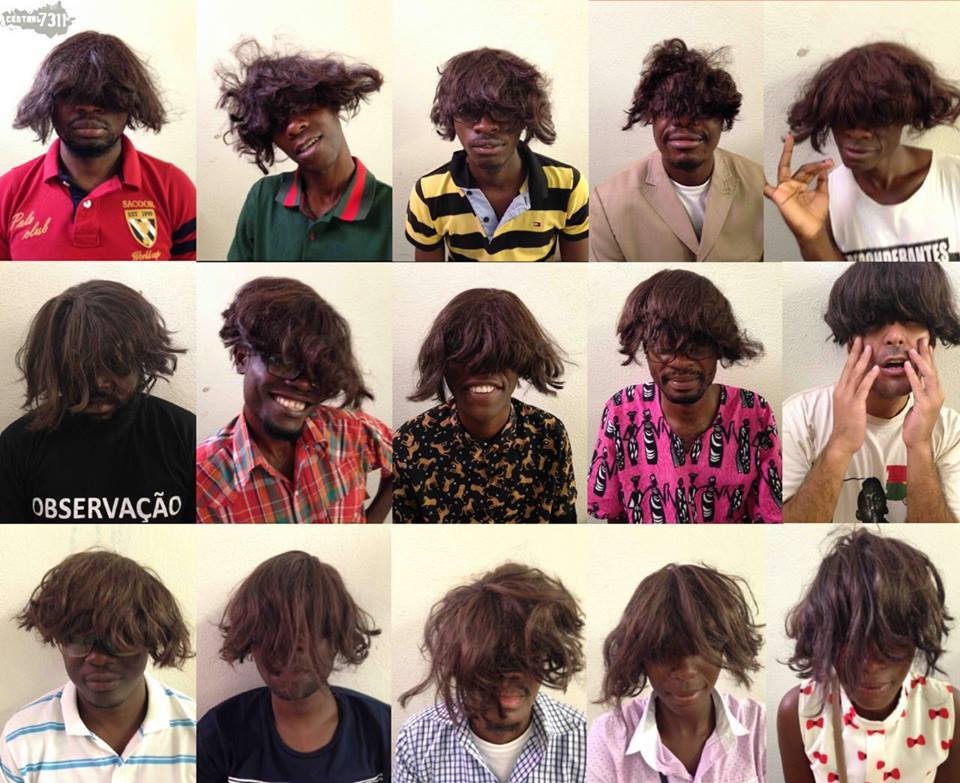
O partido tinha como aliados também os policiais nacionais, a quem usavam para nos ameaçar e meter medo em nossas famílias. Uma das vítimas da represália foi Kalupeteka, um jovem e carismático pastor que liderava a seita Luz do Mundo. Após recusarem-se a fazer propaganda política para o presidente, Kalupeteka e seus seguidores foram vítimas de uma emboscada pela polícia, que cometeu um massacre que matou mais de 100 velhos, jovens, mulheres e crianças. Os que conseguiram ali escapar foram perseguidos. A prisão e tortura do líder e, pouco depois, a sua condenação a 28 anos – uma pena que sequer consta no código penal, e maior do que o tempo máximo permitido por lei – tiveram repercussão na mídia tradicional e nas redes sociais. A lei angolana tem dono, e esse dono é o partido político do momento que está no poder para sempre.
Em 2011 e 2012 houve nas manifestações muitas torturas, espancamentos e perseguição. É o caso de Filomeno Vieira Lopes, espancado pela milícia de Bento Kangamba, marido da sobrinha de José Eduardo dos Santos, empresário da juventude e representante do MPLA. A Luaty Beirão lhe quebraram o braço de tanta surra na manifestação do dia 10 de março de 2012, no marco histórico do Cazenga, exigindo melhores condições básicas para aquele município. Já Mbanza Hamza, Carbono Casimiro e Manuel Gaspar foram surpreendidos por agentes da bófia [9] na casa de um dos activistas aonde estavam reunidos para arquitetar actividades posteriores. As prisões eram intensas e consecutivas. O governo fazia de tudo para que os activistas desistissem da sua luta por um melhor país.
9 Nome pejorativo para a polícia e seus agentes.
O ponto mais relevante destes dois anos foi a morte de dois activistas, Isaías Cassule e Alves Camulingue, que eram funcionários da Guarda Civil. O presidente da República, por um despacho, decidiu despedir mais de 1000 pessoas. Cassule e Camulingue lideravam o grupo de funcionários desmobilizados. Reivindicavam apenas os seus salários, subsídios e indemnização. Isto foi suficiente para serem mortos da forma mais cruel: foram raptados e levados a um local incerto quando estavam a preparar uma manifestação, e a ideia que se tem é que os mesmos foram esquartejados e os seus corpos atirados aos jacarés. Até então os seus familiares não tiveram a possibilidade de fazer um funeral condigno uma vez que os corpos não aparecem. Em 2013 é morto o jovem Manuel Hilberto Ganga, militante da Casa-CE, [10] enquanto estava a colar panfletos nas mediações do palácio um dia antes da megamanifestação organizada pelo partido Unita – justamente no intuito de exigir ao governo que se explicasse e mostrasse os ossos de Cassule e Kamulingue. Atirou a queima-roupa um dos guardas do Presidente da República.
10 Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral, um coligação formada por partidos e detentora de 16 assentos no Congresso angolano.
Os familiares queriam obrigar-nos a não nos envolvermos, temendo as armaduras do regime. Alguns decidiram mesmo desistir e mudaram de rumo; não queriam saber mais do ser activista ou cidadão consciente. Uns preferiram exilar-se e outros foram estudar no estrangeiro. Muitos desistiam da causa por medo do que poderia acontecer aos seus familiares. Outros, porque eram ameaçados de ficarem sem os seus empregos. Sempre pensei que sair ou desistir da luta não seria a solução, porque a realidade em si não compensa. Sabia que poderia morrer, mas seria para mim uma morte digna porque era por uma causa justa – uma Angola melhor para os angolanos e angolanas.
Época de grande baixa do activismo foi em 2013 a 2014, devido às perseguições e morte daqueles que se manifestavam. Alguns foram subordinados e receberam dinheiro para instaurar o caos no grupo. Com a baixa presença nas ruas, mudamos de estratégia. Como não havia meios do partido no poder controlar o Facebook, passamos a usar as redes sociais para relatar as situações graves que nos aconteciam, como as prisões ilegais e injustas feitas por parte da Polícia Nacional. Entre nós havia repórteres, fotógrafos e editores que recolhiam as peças. Os acontecimentos eram lançados aos 2.000 seguidores da nossa página, Central Angola 3711, e depois partilhados entre todos.
Também usávamos as redes sociais para educar a juventude a serem bons cidadãos e terem força para querer um país melhor, mostrando grandes figuras da revolução mundial que nos inspiravam por sua força, bravura, audácia e coragem, como Martin Luther King, Steven Biko, Nelson Mandela, Malcolm X e Jesus Cristo. Usávamos o chat para estudar e criar ideias. Foram as redes sociais que nos ajudaram ir em frente com a nossa luta. A juventude, apesar de na rua não querer contacto com os activistas, nas redes sociais era nossa seguidora e nos apoiava.
A ajuda de pessoas e organizações que estavam no exterior também nos tornava mais seguros para continuar. Tivemos o apoio de organizações internacionais como Amnistia Internacional e Human Rights Watch, que davam visibilidade para as violências que os manifestantes sofriam no exercício dos seus direitos constitucionais. Havia também cidadãos da diáspora que apoiavam as manifestações como um exercício de cidadania.
Já em Angola, tínhamos como apoiadores muitos agentes do governo que não podiam ir efetivamente contra o sistema político: estavam infelizes com a forma como o ditador estava a levar o país, mas nada poderiam falar nem dizer, sob pena de serem mortos ou perderem seu sustento.
Uma vez que toda manifestação era sabotada pelo governo ao receber o aviso prévio, optamos pelas manifestações-surpresa, ou espontâneas. Não avisávamos as autoridades para não lhes dar oportunidade de se prepararem. Chegávamos no local com 15 a 30 minutos de antecedência, enviávamos uma foto na Central Angola 7311 e, caso a policia aparecesse, a imagem já havia circulado. Caso acontecesse algo, todo mundo já sabia quem te fez mal e por qual motivo.
O DITADOR TENTA SILENCIAR NOSSA GERAÇÃO
Foi no final de 2014 que o regime ditatorial quis me matar. Fui raptada e torturada em 23 de novembro, quando pretendíamos nos manifestar pelo segundo dia seguido, exigindo a destituição do José Eduardo dos Santos do cargo de presidente. Nesse dia eu estava como repórter cívica, com a responsabilidade de reportar a manifestação e toda anomalia que pudesse ocorrer por parte da polícia. Quando reportava uma agressão que os meus colegas estavam a passar, fui surpreendida por um agente da bófia, que me esbofeteava, e de repente aproximaram-se quatro agentes da Polícia Nacional cuja patente dava a entender que eram comandantes. Pegaram-me pelos cabelos e arrastaram-me pelo asfalto para me meter no carro. Estando no carro, disseram que estavam a me levar para a esquadra. Mas isso não aconteceu. Levaram-me para um lugar sem movimento de pessoas onde, com porretes eléctricos, paus e ferros, submeteram-me a tortura durante quatro horas. Enquanto espancavam-me, estavam a filmar e perguntar quem era o líder do grupo, e porque eu, enquanto mulher, não me preocupo com casamento, ter um bom marido, filhos e emprego ao invés de estar a fazer confusão. Fizeram promessa de morte caso eu voltasse a me manifestar. Fui encontrada pelos meus companheiros semi-morta.
Dada a repercussão, quase toda Angola se apercebeu do que me tinha acontecido. A minha família decidiu me expulsar de casa, porque eu não quis recuar nos meus posicionamentos e abandonar o activismo. Alegaram que, estando a protestar, poderia meter a vida dos que vivem em casa em perigo, tal como morreram muitos familiares nossos, porque a minha imagem tinha corrido o mundo. A igreja decidiu me afastar do coral em que fazia parte. As minhas amigas temiam estar comigo. Eu era perseguida na escola e outros locais aonde ia. Fotografavam as pessoas que se juntavam a mim. Foi o momento mais revoltante da minha vida, não pela causa, mas pelas pessoas terem cedido às represálias e perseguições. Mas não parei. Sabia que era forma de me silenciar e silenciar a minha geração.
PRISÃO E LIBERDADE
Depois de ter usado toda a força, meios e homens para opressão e repressão dos jovens, em 20 de junho de 2015, José Eduardo dos Santos mandou-nos prender, alegando que estávamos a arquitetar um golpe de Estado contra ele.
Domingos da Cruz, jornalista e professor universitário, havia nos contactado junto a Nuno Dala – este último, amigo seu que havia lido o livro de Gene Sharp, Da Ditadura à Democracia, e decidido interpretá-lo de acordo com a realidade de Angola. O título ficou Ferramentas para destruir o ditador e evitar nova ditadura: Filosofia política para a libertação total de Angola.Fizemos três encontros em um sítio para debater o livro. Era uma forma de repensar o nosso activismo. O autor, Gene Sharp, apresenta 198 formas de luta pacífica em que nós, jovens da sociedade angolana, nos víamos, porque nossa luta era pacífica. No terceiro encontro, percebi que eu estava a ser perseguida quando me dirigia ao local pelo “meu bófia”, o jovem que estava sempre a seguir-me. Já era normal. No quarto encontro, acontece a detenção. Nesse dia não estive, porque minha irmã seria pedida para o casamento. Quando o relógio tocou às 17h30, os outros companheiros que tinham faltado ligaram para mim para confirmar se eu estava no grupo que havia sido preso. Estavam nesse grupo Albano Bingobingo, Inocêncio de Brito, Fernando Tomás, Luaty Beirão, Mbanza Hamza, Hitler Samussuku, José Hata, Nuno Dala e Dito Dali. Este último tinha aparecido pela primeira vez na actividade.
Não conseguíamos descobrir aonde tinham sido levados os jovens e temíamos que aconteceria mais uma execução. Contudo, alguns companheiros que estavam no dia do rapto detinham telefones que permitiam acessar internet e fizeram uma rede de informação. Em menos de 30 minutos, a notícia sobre o rapto estava a circular nas redes sociais, o que motivou as forças policiais e militares do país a desistirem da ideia de matar os jovens activistas e defensores dos direitos humanos. Já não podia se repetir o aquilo a que o Estado do MPLA estava acostumado.
Domingos da Cruz e Osvaldo Caholo foram presos fora do sítio. Domingos foi apanhado na fronteira, no dia seguinte da prisão dos restantes; já Osvaldo, activista e militar que havia participado uma única vez nos encontros, foi preso em casa depois de quatro dias do anúncio público do procurador de que os jovens estavam a ser acusados de atentado de rebelião e golpe de estado. Decidiram ir prendê-lo pois não havia outros vestígios de envolvimento militar no grupo. Eu e Rosa Conde fomos arroladas ao processo um mês depois. Não nos mandaram para a cadeia, na altura, porque isso levantaria mais problemas, uma vez que não conseguiam fundamentar o crime do qual nos acusavam. Como 17 jovens poderiam dar um golpe em um presidente que investe a maior parte do orçamento na defesa?
Comecei a ser julgada em consonância como os meus colegas em 2015, tendo recebido em 2016 a sentença de quatro anos e seis meses, O processo ficou conhecido pelo nome de 15+duas devido às duas senhoras, eu e Rosa Conde.
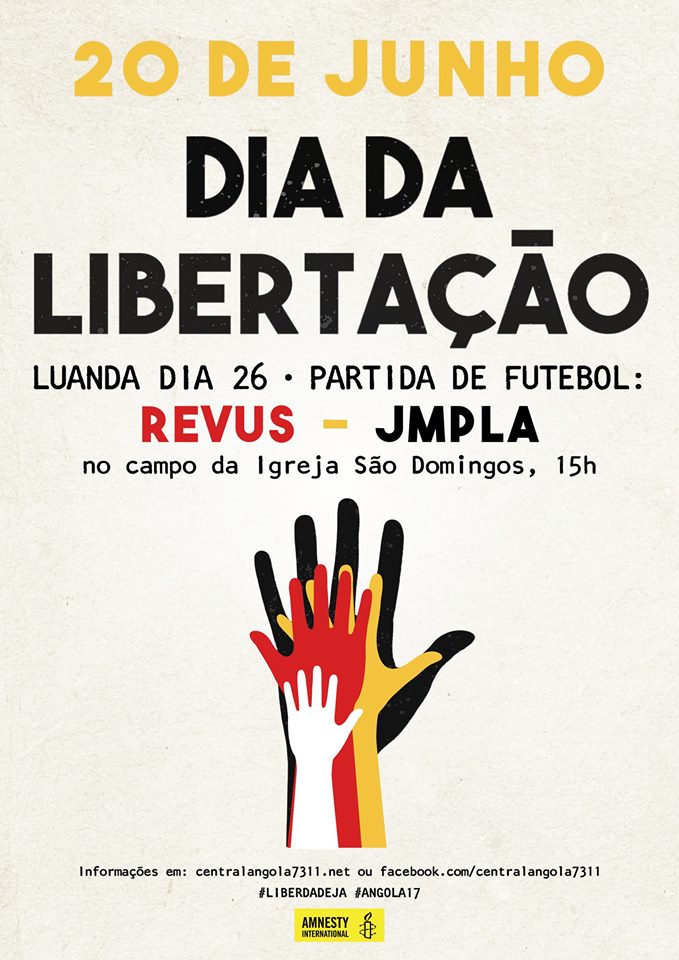
Houve greves de fome na prisão, em que a mais durável foi do meu companheiro Luaty Beirão, de 36 dias, que simbolizava os 36 anos em que José Eduardo estava no poder à época. Luaty desejava pressionar o sistema judicial que estava muito moroso. Havia passado a época da prisão preventiva, e ainda assim não tinham um crime formal. Eles estavam a ser submetidos a condições desumanas em celas dos altamente perigosos, sem direito a visita, sem apanharem sol. O nosso companheiro Nuno Dala também fez a greve de fome e, depois, uma greve de nudez, devido aos maus-tratos que estava a sofrer na cadeia. Eu e Rosa Conde fizemos greve de nudez e de silêncio absoluto, que durou 13 dias. O objetivo era vermos os nossos direitos respeitados enquanto presas políticas e chamar atenção dos angolanos e da comunidade internacional que estávamos a pagar uma pena injusta.
Com as greves, os tribunais começaram a acelerar o processo judicial. Foi criada a Lei da prisão domiciliária e fomos os primeiros a nos beneficiar deste processo, presos em casa, sob controlo da Polícia Nacional.
Fizemos também protesto em que usamos perucas no momento do julgamento, para simbolizar a representante do ministério público, que durante do julgamento manteve o rosto coberto pela tissagem, [11] por temer que fosse identificada pela mídia e pelos que estavam revoltados com o caso. Vestimos camisetas com as nossas caras representadas como palhaços, para simbolizar o julgamento, que era uma palhaçada. Pessoas presas por lerem um livro.
11 Extensão capilar
O dia 28 de julho de 2016 foi o dia da libertação. Fomos soltos e soltas provisoriamente, por documento do tribunal constitucional. Dois meses depois, entrou em vigor uma Lei criada a nosso propósito, para desfazerem o que tinha feito: Lei da Amnistia dos crimes ocorridos de 2015 para cima. Acabamos por ser amnistiados de um crime que não cometemos.
Meses depois, José Eduardo anuncia que não voltaria a se candidatar para a presidência da República. Realizamos o objetivo que tanto esperávamos. Penso eu que com o nosso processo havíamos desgastado a sua imagem a nível nacional e internacional. José estava, assim, a ceder à pressão das formigas. Que éramos nós. Os ditos frustrados que ele acusou publicamente numa entrevista em televisão internacional. Para nós foi momento de muita alegria, apesar de nosso sofrimento não ter terminado com sua saída.
É necessário fazer mais.
SE TIVESSE QUE NASCER DE NOVO
Não escolhi ser activista, o activismo é que me escolheu para fazer dos meus actos os actos de uma pessoa que sonha com uma Angola digna para todos. É um prazer ser activista apesar de todas as dificuldades. O importante é ir refletindo a cada etapa para não se deixar cair pelos entraves. Não me canso, e me renovo nas gerações vindouras que devem encontrar um país onde eles se orgulhem de serem chamados de cidadãos. Se eu tivesse que nascer de novo, pediria ao mundo que me escolhesse como activista política e feminista angolana. Não parei de lutar desde 2011 e tive que desafiar as estruturas da família e sociedade. Continuamos firmes.
Marchas longas: movimento, percurso e destino
O deslocamento das pessoas pelo espaço, numa jornada de longa duração, produz forte impacto político e simbólico, como demonstra a história dos movimentos civis e das lutas não-violentas
Cássio Martinho e Mikael Peric

Atravessar um território tem sido, desde sempre, uma ação tão potencialmente revolucionária quanto ocupar um território. A história está repleta de exemplos de êxodos, diásporas, cruzadas, marchas – de fuga ou enfrentamento, de ataque ou defesa – de povos, grupos ou agentes em conflito. Muitas vezes atravessar o território se dá em razão de uma ocupação (uma expedição de conquista ou uma fuga em massa, por exemplo), quando o próprio território é o objeto da disputa; outras vezes ocorre em função de motivos econômicos e sociais, como no fenômeno da imigração; ou sob a orientação de uma ideia ou propósito (religioso, social ou político), como nas peregrinações, romarias e manifestações. Com frequência, diferentes motivações se combinam para produzir esses deslocamentos.
Atravessar o território constitui também uma tática política. Caravanas (ou expedições) e longas marchas são os casos mais ilustrativos. Ambas têm como características estruturais a travessia do espaço geográfico e a decorrente longa duração da ação. Como o deslocamento no território é físico e implica, mesmo, romper as distâncias com o uso do corpo, o seu tempo de duração pode ser bastante longo. Nas caravanas e grandes marchas, o percurso demorado também é feito de paradas (pequenas ocupações ad hoc) – onde há descanso, ação e interação – e, por isso, o espaço não é só um recurso, uma utilidade ou ferramenta para a tática, mas a condição de sua existência política. Caravanas e grandes marchas são ambas táticas do espaço e para o espaço.[1]
1 As manifestações de rua são outro exemplo da travessia política dos espaços, embora ocorram em geral no ambiente restrito das áreas centrais das cidades e, por isso, não se encaixem bem nessa categoria analítica.
Embora grandes deslocamentos ou êxodos [2] devam ser tratados sempre como fenômenos políticos, aqui caravanas e longas marchas são entendidas como táticas políticas na medida em que se constituem desde a origem com esse duplo caráter explícito: são políticas porque têm fins políticos; são táticas porque sãomeios para esses fins. Tais são os casos da Marcha do Sal, na Índia de 1930, que tem Mohandas K. Gandhi como idealizador; a caminhada de Selma a Montgomery, nos EUA, que marca uma inflexão no movimento pelos direitos civis de afrodescendentes nos EUA na década de 60; as marchas zapatistas no México em 2001 e 2012; as marchas nacionais do MST no Brasil; entre outras iniciativas em todo o mundo.
2 Os casos são abundantes: desde os percursos bíblicos à Terra Prometida até as colunas de imigrantes percorrendo a Europa ou a América Central no século 21, passando pela diáspora africana e um sem-número de fugas e migrações forçadas.
As marchas longas são manifestações especialmente emblemáticas desse atravessamento político dos espaços. Enquanto as caravanas podem manter sua constituição inalterada durante a jornada (com o mesmo grupo de pessoas, por exemplo, se deslocando sem ganhar necessariamente novos integrantes), as grandes marchas vão se encorpando e tornando-se mais volumosas à medida em que percorrem um território. Elas se nutrem da passagem pelos lugares, alteram profundamente a paisagem social ao convocar os habitantes a seguir junto e, assim, transformam os lugares enquanto são transformadas por eles.
As marchas longas são, ainda, uma plataforma de táticas; elas incorporam todo um conjunto de métodos de ação em seu percurso. Merecem, portanto, um exame mais minucioso.
APROXIMANDO O OLHAR
Como em todo ato demonstrativo, o efeito simbólico é componente essencial da tática da marcha longa. Ela tanto será mais efetiva quanto mais inteligível, forte e compartilhável for a mensagem da qual é portadora, e tanto mais transformadora quanto mais conseguir exprimir essa mensagem por meio de sua própria forma. Nesse sentido, as marchas longas possuem uma alta capacidade discursiva, que é potencializada pelo seu caráter espetacular e extraordinário.
São pelo menos cinco os principais elementos estruturais ou técnicos da tática, que ostentam forte estatuto simbólico, a saber: o ponto de partida, o contingente de pessoas que se move, a distância a ser vencida, o percurso e, finalmente, o destino ou ponto de chegada. A eles, se junta outro componente de caráter político: a causa que a marcha defende e os objetivos ou metas almejados. Esse mix de fatores compõe o discurso político da tática.
PARTIDA E DESTINO
Nesse conjunto, o destino parece ser o componente mais expressivo. Ele manifesta, na sua condição de fim da marcha, especificamente, os fins do ato. Muitas vezes o ponto de chegada, em marchas de protesto, é o lugar onde se decide o futuro da luta, o lugar do poder, isto é, o lugar a partir do qual pode se desenhar a mudança. Desse modo, a Marcha Nacional dos Sem-Terra, [3] de 1997, tinha como destino a capital do país, Brasília, sede do governo central, arena da deliberação política sobre a reforma agrária. No caso da gandhiana Marcha do Sal, que se constituía também como um exercício de ação direta, era preciso chegar ao mar (seu destino) para ocupar as salinas, assumir a manufatura do sal e se apropriar da riqueza pretendida.
3 A Marcha Nacional dos Sem-Terra por Emprego, Justiça e Reforma Agrária, do MST, foi iniciada no dia 17 de fevereiro de 1997, com o objetivo de chegar em Brasília no dia 17 de abril, quando se completou um ano do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. Cerca de 1.500 sem-terra partiram de três pontos diferentes do país – São Paulo (SP), Governador Valadares (MG) e Rondonópolis (MT). Cada coluna percorreu aproximadamente mil quilômetros, atravessando diferentes cidades e vilas, em um percurso que durou dois meses. Cerca de 100 mil pessoas aguardaram em Brasília a chegada da Marcha, que exigia o debate sobre a reforma agrária e a punição dos responsáveis pelo massacre de Eldorado dos Carajás. A data passou daquele ano em diante a celebrar o Dia Internacional de Luta Camponesa.
Pontos de partida também são simbolicamente importantes nas marchas longas. A escolha de Selma para o início da célebre marcha dos direitos civis, [4] por exemplo, expressa uma situação e uma aspiração política que contribui para o entendimento completo da ação realizada. Os pontos de partida podem ter papel semelhante ao dos destinos especialmente em determinados casos, quando, depois de atingido o final do percurso, o contingente que se move retorna. Nesse momento, a marcha põe em cena uma dialética da partida e da chegada que reconstrói o significado dos lugares. É aí, de novo, que a tática encontra o seu sentido. O exemplo dos sem-terra e dos zapatistas é emblemático dessa dialética: eles percorrem longas distâncias até a capital do país, para em seguida regressar aos lugares que são (ou pretendem) seus. O movimento Ekta Parishad, da Índia, também constrói suas marchas nesta dialética. Todo o exercício do percurso é uma afirmação do seu pertencimento a um lugar, logo, uma afirmação do lugar. Eles vão para dizer que ficam.
4 Marcha de Selma até Montgomery, no Alabama, foi conduzida por Martin Luther King Jr. e outros líderes da época. Em março de 1965, os manifestantes levaram cinco dias até à entrada de Montgomery, Por fim, ao menos 25 mil manifestantes caminharam juntos até o Capitólio, sede do governo estadual. A Marcha tornou-se um ícone do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e no mundo.
Chegar ao destino, contudo, não é fundamentalmente o elemento definidor da tática. A marcha é uma saga, uma história contada ao longo de um percurso. É um processo vivo, atraente, que desperta a curiosidade enquanto gera, sustenta e amplia uma expectativa. Seu clímax e desfecho imprevisíveis vão dar peso ao caminhar. A marcha pode estar envolvida em suspense, em tensão, em drama, na incerteza de seu desenrolar. Uma vez que a dúvida quanto ao sucesso da jornada pode potencialmente engajar e mobilizar, a marcha mexe com a esperança de quem a acompanha.

No caso da Marcha do Sal, [5] o elemento decisivo consistia na ação de desobediência civil – pegar e fazer o sal era um ato contrário ao SaltAct, a lei do império britânico de 1882 –, enquanto que a marcha de Selma para Montgomery era ela mesma o seu o próprio fim. A questão central desta última consistia justamente em verificar se ela aconteceria ou não. Qualquer ato final passou a ser menos relevante do que o simples fato de a marcha existir. A permissão dada ao movimento por direitos civis de seguir em caminhada prefigurava a construção de um país plural. Ao se dar espaço para o movimento negro ocupar a rodovia, dava-se espaço, também, para toda a população negra ocupar sua cidadania e sua nação. Por sua vez, na Índia, a Marcha do Sal consistiu num mecanismo magnético do ponto de vista físico, uma vez que esta crescia no percurso, tensionava a atmosfera política ao mesmo tempo que mantinha presa a atenção dos espectadores, curiosos pelo seu desfecho. Será que eles vão conseguir? Será que serão presos antes? Será que é possível desafiar o império a este ponto? Neste sentido, tudo indica que a maior potência da tática da marcha longa, portanto, se realiza no próprio percurso, como se verá adiante.
5 A Marcha do Sal, também conhecida como Marcha para Dandi, ou SaltSatyagraha, talvez seja a marcha longa mais famosa da história. Começou com cerca de oitenta pessoas, percorreu quase 400 km, passou por quatro distritos e 48 vilas e culminou em seu grande ato, 24 dias depois do seu início, sob o apoio presencial de dezenas de milhares de pessoas. Tendo partido no dia 12 de março de 1930 de Sabarmati Ashram, onde vivia Gandhi, a marcha chegou a Dandi no dia 5 de abril. No dia seguinte aconteceu, então, o ato de desobediência civil. Às 6h30, Gandhi, acompanhado de seus seguidores, desobedeceu as leis britânicas de controle e monopólio de produção do sal. Ele chegou ao mar, escavou com as mãos um pedaço de lama e a levou para as águas ferventes onde faria seu próprio sal. A repercussão deste ato simbólico testemunhado por milhares de indianos e correspondentes internacionais disparou inúmeros protestos não violentos por todo o país, transformando para sempre a conjuntura política da Índia.
AQUELES QUE SE MOVEM
Não é à toa que se usa a palavra “movimento” para designar o próprio fenômeno da luta social. A luta social movimenta quem dela participa, movimenta quem com ela se relaciona e movimenta, também, a causa que nela se realiza. Assim, a marcha longa pode ser a metáfora paradigmática desta luta. Os atores que promovem e executam a marcha, eles próprios estão em movimento.
O contingente que se move constitui a matéria prima para que o efeito político da tática se realize e seus objetivos sejam alcançados. Neste particular, é preciso que haja multidão. Marchas minguadas, com fileiras esparsas de poucos participantes, não dão conta de sua pretensão. Uma marcha longa é, sem dúvida, por suas características, uma demonstração de força.
A distância (a ser) percorrida e o que ela subentende de esforço e organização conferem a grandeza que o efeito político da tática exige. Realizar uma marcha longa é realizar um grande feito. Caminha-se muito, debaixo de sol e de chuva, o que demonstra um profundo compromisso com uma causa ou questão específica. O poder da entrega a uma façanha árdua e desgastante é algo que atrai a atenção e potencialmente pode mobilizar e engajar outras pessoas cujos interesses estejam envolvidos com a ação de quem caminha.
Como disse Rajagopal Puthan Veetil durante a marcha Jan Satyagraha [6] de 2012: “Quando suamos sob o sol, quando a terra e o céu estão queimando, quando nós caminhamos, suando sob o calor do sol, isto é sacrifício. Quando dormimos nas ruas, isto é sacrifício. Quando comemos uma vez só ao dia, isto é sacrifício”. Conclui ele: “Então, porque nós estamos fazendo este sacrifício? Para que possamos derreter o coração deles”. [7]
6 Promovida pelo movimento Ekta Parishad, um dos herdeiros do pensamento e da prática gandhiana, a marcha Jan Satyagraha, (“marcha por justiça” ou “compromisso com a verdade”), foi parte de uma campanha pelo direito e acesso à terra e aconteceu em outubro de 2012. Tendo como distância prevista os cerca de 350 quilômetros entre as cidades de Gwalior e Delhi, capital da Índia, a marcha teria duração de 27 dias. Com um trabalho prévio de mobilização e preparo, um conjunto de demandas foi apresentado e discutido com o Ministro do Desenvolvimento Rural da Índia pelo menos seis meses antes do início da caminhada. No dia 2 de outubro, aniversário de Gandhi, a marcha teve início, Pouco mais de uma semana depois, caminhando cerca de 12 quilômetros por dia, a marcha chegou em Agra, onde então foi anunciado um acordo com o governo, garantindo a formulação da Política Nacional de Reforma Agrária, a implementação de leis relativas ao direito à terra e a imediata instauração de uma Força Tarefa para implementação da agenda acordada.
7 Tradução livre. Esta fala foi feita durante a marcha e está registrada no filme MillionscanWalk, de Christoph Schaub e Kamal Musale, produzido na Suíça em 2013.
Ao se colocarem em condição tão exigente e difícil, aqueles que marcham apresentam para o mundo a importância da sua luta, o tamanho da sua necessidade, da sua implicação e, também, da sua exclusão; o tamanho da negligência de quem está no poder. A disponibilidade de se colocar sob tais condições é um elemento que traz força para as marchas e, conforme os dias passam, conforme avançam os passos, maior o sacrifício e, assim, maior a força intrínseca da tática, maior o seu momentum.
A pesquisadora Christine de Alencar Chaves, em um estudo sobre o MST, afirmava que a marcha realizada pelos sem-terra em 1997 “percorreu mais que estradas: atravessou um solo moral”. [8] Para além disso, pode-se dizer que a marcha – e reside justamente aí seu poder simbólico e político –, ao se estender pelo território, crioupropriamente esse “solo moral”. A marcha, quando passa, deixa como rastro esse sentido novo para o território, que pode se tornar lendário e receber peregrinações de outros caminhantes mais tarde. [9]
8 Christine de Alencar Chaves. A Marcha Nacional dos Sem-terra: estudo de um ritual político. Publicado em: O dito e o feito – Ensaios de antropologia dos rituais. Relume Dumará, 2001, p. 135.
9 Tanto a rota de Selma a Montgomery, no Alabama, como o trajeto entre Sabarmati Ashram e Dandi, na Índia, receberam reconhecimentos formais. Esses percursos costumam ser refeitos por turistas e ativistas que buscam ver de perto a história da luta não violenta no mundo. Livros já foram escritos sobre esses caminhos. Espaços por onde algumas dessas grandes marchas passaram foram ressignificados completamente, tornando-se símbolos de resistência e transformação.
O longo percurso produz ainda grande efeito sobre quem se move. Aqueles que caminham assumem uma tarefa de grande esforço físico que envolve dificuldades de resistência e cuidado com o próprio corpo. Esse esforço pode se tornar um profundo exercício de auto-conhecimento, de teste dos próprios limites, de convicções e de entrega por algo maior do que o próprio indivíduo. As marchas acabam também por se tornar um intervalo de tempo ocupado pela reflexão sobre a vida em geral, a relação com a família, com o próximo, com o espaço e com as suas próprias necessidades. A marcha se torna, assim, uma experiência profundamente transformadora para quem a experimenta e nela vive a própria vida de maneira simples, colaborativa, integrada. A troca de experiências e de vivências com outros caminhantes, bem como as populações dos lugares por onde se passa, acabam sendo oportunidades únicas de se aprender sobre a situação das pessoas e suas formas de resistir. A criação de vínculos de afeto, de apoio e de cuidado, além de essencial para a manutenção da marcha, fortalece valores e altera comportamentos e práticas individuais.
PERCURSO
A conhecida máxima de um poeta que afirma que o caminho se faz ao caminhar se aplica, com precisão, à tática das marchas longas. No percurso, os ativistas acionam outras táticas de luta – passeatas, atos públicos, rodas de conversa e debates, apropriação simbólica dos muros e das paredes, ações diretas – e, assim, criam um processo vivo e dinâmico de participação coletiva.
A marcha longa cria um ambiente propício para o diálogo e para a atração de novos participantes e apoiadores. Por onde se passa é possível conversar diretamente com o público, explicar o que se está fazendo e o que se pretende. É assim que muitas marchas longas ampliam seu tamanho no caminho e, desta maneira, aumentam também a pressão sobre seus oponentes.
Para aqueles que, por diferentes razões, optam por não se juntar à massa que percorre cidades e vilas, existe ainda um conjunto de tarefas de organização e logística que são essenciais para o sucesso da tática. Não é incomum ver a solidariedade aos manifestantes se transformar em apoio logístico, com o vem e vai de pessoas que trazem alimentos, água, remédios, roupas e itens de higiene pessoal. A rede que se forma entre as populações locais e a marcha auxilia na manutenção desta, ao mesmo tempo em que reforça e deixa mais poderosa a mobilização em torno da causa.
Gandhi, quando realizou a Marcha do Sal, mandava à sua frente, para que chegassem antes às vilas e cidades, batedores que preparavam o território e as populações para a passagem da marcha, concebendo e realizando espaços de diálogo e troca entre o líder religioso e a população indiana interessada.
A Marcha Nacional dos Sem-Terra por Reforma Agrária, Emprego e Justiça, realizada pelo MST em 1997, recorreu a um planejamento semelhante, que incluía três elementos básicos: a entrada das fileiras da marcha, a realização de atos públicos e a montagem de acampamento provisório. “Em cada vilarejo ou cidade que os caminhantes atravessaram, na passagem das fileiras da Marcha pelas vias públicas e no ato principal, quando se pretendia reunir população e marchantes, a razão de ser da peregrinação era exposta através de palavras de ordem, hinos, representações teatrais e discursos inflamados. Junto com as manifestações públicas, reuniões eram feitas em escolas, faculdades, câmaras municipais, sindicatos e igrejas com a finalidade de dar ressonância à passagem da Marcha Nacional e à mensagem que ela pretendia veicular.” [10] Aqui, também, chama a atenção o paralelo entre os acampamentos provisórios da marcha e a tática dos acampamentos tipicamente realizada pelo MST em suas ocupações, um exemplo de ato demonstrativo didático do que vem a ser o dia-a-dia de luta do próprio movimento.
10 Christine de Alencar Chaves, 2001, p. 13.
Impressiona igualmente o grau de organização coletiva e disciplina presente nas marchas dos zapatistas no México. A performance dos integrantes da Marcha Silenciosa zapatista de 2012 [11] – e seu decorrente impacto midiático – é a demonstração do poder simbólico e político de um movimento organizado. Representantes dos diversos povos de Chiapas – tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales, mames e zoques – percorreram vigorosamente as ruas de vilarejos e cidades, todos igualmente cobertos por pasa-montañasidentificados conforme o local de origem e, todos, em um silêncio completo e perturbador. As colunas e fileiras performam claramente uma tomada do espaço– os zapatistas, apesar do caráter temporário do ato, ocupam de fatoas cidades, e demonstram, por meio da cena construída e da experiência vivida, a força política de um exercício concreto de contrapoder. Os registros em vídeo da Marcha falam por si.[12]
11 Em 21 de dezembro de 2012, 20 mil zapatistas marcharam até o centro de San Cristóbal de las Casas; 8 mil fizeram o mesmo em Palenque; 8 mil em Las Margaritas; mais de 6 mil em Ocosingo; e 5 mil em Altamirano, todas no estado mexicano de Chiapas. A Marcha Silenciosa é considerada a maior feita pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) até hoje. Mais informações: https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-diagonal/la-marcha-zapatista-mas-grande-de-la-historia-del-ezln#
12 https://www.youtube.com/watch?v=3HtyX1ATmsw
PREFIGURAÇÃO
Como uma tática de vivência, isto é, durante a qual os sujeitos realizam diretamente com os corpos uma experiência de viver e conviver na ação, as marchas longas agenciam, seja nas localidades por onde passam, seja no seu próprio deslocamento pelas estradas, uma ambiência social alterada, de ordem nova e singular. É o que torna também as marchas longas um campo fértil para a invenção de outras sociabilidades.
Esse fenômeno de produção de “uma esfera específica no curso da vida social” é o que faz Christine Chaves considerar as marchas um tipo de “ritual de longa duração”. [13] A suspensão provisória dos usos e práticas regulares, a emergência de uma outra temporalidade, o surgimento de novas maneiras e de outras formas de relacionamento entre os agentes (mesmo entre pessoas conhecidas, que, agora, reinventam seu jeito de lidar umas com as outras), em suma, o surgimento de uma convivência simbolizada (ritualizada) de outro modo permite afirmar que as marchas longas constituem também aquilo que Hakim Bey denominou de “zona autônoma temporária” – uma situação singular, especial, fora do Estado, na qual a vida é reinventada.
13 Christine de Alencar Chaves, 2001, p. 15. No caso das marchas indianas, tanto Gandhi como Rajagopal Puthan Veetil, no lugar do termo “marcha”, usam yatra, termo também empregado em peregrinações religiosas. No hinduísmo, assim como em outras religiões indianas, yatra significa peregrinação a locais sagrados.
Nesse sentido, a marcha longa constitui uma tática prefigurativa por excelência. Ao vivenciar internamente à marcha a realidade do mundo que se deseja alcançar – plural, igualitário, justo e comum; um mundo em que todos desempenhem seus papéis em favor do grupo, de todos e da melhoria das condições de vida –, os espaços de experimentação autônomos inerentes a esta prática acabam por ser, também, uma experiência revolucionária e transformadora para quem dela participa.
Durante o percurso, as pessoas se banham, se alimentam e dormem nas vias públicas. Elas são responsáveis por cuidarem umas das outras, acompanhando idosos, grávidas, cuidando também de enfermidades e, também, possíveis desavenças ou conflitos interpessoais. Toda a gestão desta enormidade de pessoas que atravessa as fronteiras internas do seu país é feita ali mesmo, pelas mesmas pessoas que caminham.
Um exemplo pode ser encontrado em relatos sobre a marcha da campanha Jan Satyagraha, realizada em 2012 pelo Ekta Parishad. Como relata Jilll Carr-Harris, o movimento teve grande impacto sobre as mulheres. Na marcha, os papéis assumidos por elas foram por vezes muito diferentes daqueles em suas comunidades e vilas. Na marcha, as mulheres não eram dependentes e mantinham-se em nível de igualdade com os homens, assumindo inclusive tarefas não convencionais como, por exemplo, a segurança e a vigília durante as noites. Também ali as mulheres assumiram protagonismos, por exemplo, ao liderarem as marchas, colocando-se à frente das dezenas de milhares de caminhantes. [14]
14 A reflexão de Carr-Harris foi retirada deste vídeo do Ekta Parishad: https://youtu.be/KpxJQeQsakY

O caráter prefigurativo das marchas é notadamente impressionante no caso da marcha de Selma até Montgomery, no Alabama. Selma já se tornara palco da luta pelo direito ao voto da população negra nos EUA com mobilizações pontuais e pequenas ações de tentativa de cadastro da população negra nos cartórios eleitorais, quando a morte do ativista Jimmie Lee Jackson motivou os diferentes grupos e movimentos negros a decidir pela marcha. Na luta por fazer valer os seus direitos civis, os movimentos negros tentaram por duas vezes percorrer os 80 quilômetros que separavam a cidade de Selma da capital do Alabama, Montgomery. E por duas vezes foram impedidos. Na primeira vez, a brutalidade da polícia foi tanta que a data ficou eternizada como o “Domingo Sangrento”. Dezenas de pessoas foram parar nos hospitais da cidade. Os relatos de mulheres desmaiadas enquanto eram espancadas atravessaram os oceanos. A segunda tentativa frustrada de marchar até Montgomery foi parada por força da lei, por meio da decisão de um juíz federal que expediu uma ordem contrária ao direito de manifestação e de livre circulação das pessoas.
Neste sentido, realizar a marcha, como aconteceu na terceira tentativa, entre os dias 21 e 25 de março de 1965, demonstrou para toda a população negra daquele país que era, sim, possível ter os seus direitos garantidos e assegurados. Quando Martin Luther King, John Lewis, o Rabino Abraham Joshua Herschel e demais irromperam na capital do estado, com o apoio das forças armadas, destacadas para garantir a segurança física dos manifestantes, irrompia com eles, na sociedade, uma mudança que mais tarde viria a ser oficializada com o VotingRightsAct (a lei de direito ao voto). [15]
15 O direito ao voto para pessoas negras nos Estados Unidos foi garantido em 1870, quase cem anos após o final da Guerra Civil, formalizado na aprovação da 15ª Emenda à Constituição do país. Porém, já em 1876 a Suprema Corte e alguns juízes de estado passaram a limitar o escopo da Emenda, tornando muito difícil o registro de eleitores negros. Mesmo com a aprovação do Civil RightsAct em 1964, a discriminação e o racismo seguiram criando barreiras que impossibilitaram, especialmente no sul do país, o acesso ao voto. Desta maneira, fez-se necessário ao movimento pelos direitos civis concentrar esforços na luta pelo direito ao voto, o que foi feito através de mobilizações populares e da articulação entre Martin Luther King Jr. e o presidente dos Estados Unidos Lyndon Johnson, que apresentou ao Senado a lei que se tornou, em 1965, o chamado VotingRightsAct.
MECANISMO DE PRESSÃO
Pelo fato de a marcha estar associada a algo que poderíamos chamar de clímax (ou desfecho), no sentido da chegada ao destino e da realização do que se pretende nesse local, ela acaba se tornando uma espécie de alerta de uma colisão. A cada dia que se passa, a cada passo dado e a cada quilômetro avançado, o oponente é colocado mais próximo da ação que se desenrolará. Se nada for feito, uma multidão irá irromper na porta da cidade e a força deste feito poderá abalar as estruturas de poder. O melhor resultado para a marcha é, talvez, não precisar ocorrer, mas sim ter as suas demandas atendidas. Foi assim com Gandhi, com Luther King e muitos outros. Nos casos estudados aqui, os agentes que promoveram e lideraram as marchas comunicaram a seus oponentes da possibilidade de não colocarem os pés na estrada caso suas demandas fossem atendidas. No caso da Jan Satyagraha de 2012, na Índia, por exemplo, a marcha ainda tinha muitos dias, quase semanas, para alcançar o seu destino, quando o governo então cedeu e atendeu aos manifestantes.
Assim, o custo político de se acatar os pedidos de um movimento popular, mesmo que parcialmente, pode ser menor do que deixá-lo seguir ou forçá-lo a se dispersar. Tudo dependerá de um conjunto de fatores como a capacidade do movimento de se comunicar, de mobilizar e engajar e, ainda, de seu desenho estratégico quanto ao que motiva a marcha, quais as suas demandas e para onde se dirige.

DILEMA DO OPONENTE
As marchas carregam consigo um elemento chave para toda ação não violenta que se pretende estratégica: elas posicionam seu oponente em um dilema. Ao se colocar um ator em um dilema, este, em tese, terá um conjunto limitado de possíveis movimentos a fazer, como quando se coloca um rei em xeque em um jogo de xadrez. E, para os ativistas, tanto a ação como a inação de seu oponente anunciam resultados positivos.
O oponente poderá tanto tentar impedir a marcha de acontecer, como poderá optar por deixar que esta siga seu percurso e realize o que pretende. Deixá-la seguir pode significar um avanço ainda maior para a causa defendida e, consequentemente o enfraquecimento de seus oponentes. Por outro lado, se a escolha do oponente é a de impedir a marcha, duas opções pelo menos são possíveis. Pode-se acatar as demandas do movimento ou, então, fazer uso da força. O uso da força poderá dar notoriedade àqueles que marcham, uma vez que quando forem vítimas da violência, poderão expor o caráter antidemocrático do opressor. O uso da violência contra uma demonstração não violenta costuma gerar bons resultados políticos para os ativistas, que podem ganhar mais atenção, visibilidade e apoio. E, ainda, impedir a realização de um direito – o direito de ir e vir – pode ser ruim para a imagem de quem tenta barrar a marcha.
COMUNICAÇÃO
Martin Luther King Jr. saiu de Selma em 1965, com alguns milhares de pessoas, mas foi proibido por lei de atravessar a rodovia até Montgomery com mais do que 300 pessoas. Os manifestantes não poderiam caminhar os 80 quilômetros entre as duas cidades sob a justificativa de terem de deixar livre uma das faixas da via. Ademais, não havia povoados no caminho, não havia com quem dialogar durante o percurso e, tampouco, a possibilidade de se mobilizar mais gente uma vez que, se isso acontecesse, o limite de 300 pessoas seria excedido. Todas as condições inerentes à marcha apontavam para um baixíssimo potencial de expansão do contingente de caminhantes.
Ainda assim, quando a pequena marcha chegou ao seu destino, ela foi recebida por dezenas de milhares de pessoas que seguiram unidas até o Capitólio da cidade. O trabalho de mobilização e engajamento não podia ser feito fisicamente, mas foi realizado por outros meios, com a participação da mídia, de celebridades e de diferentes grupos e movimentos da sociedade civil que estavam diretamente implicados e interessados na conquista dos direitos civis da população negra dos Estados Unidos.
Isso significa que a mobilização e o engajamento não precisam acontecer apenas in loco, por onde a marcha passa, embora este seja seu grande trunfo. A mobilização e o engajamento de apoiadores e manifestantes dependem, em última instância, da capacidade de o movimento transmitir sua pauta e de sua determinação em atingir um público interessado. Além de pressionar seus oponentes durante todo o percurso, marchas longas contam e escrevem a história. Assim, a comunicação é fundamental.
Quando o Ekta Parishad iniciou em 2012 a Jan Satyagraha, sua segunda grande marcha na Índia, com cerca de 50 mil pessoas, todo o governo já estava ciente do que ali se passava. No primeiro dia, antes que a marcha tivesse decretado o seu início oficial, diversas lideranças populares se reuniram na presença do Ministro do Desenvolvimento Rural e das dezenas de milhares de pessoas que iriam marchar, tornando este um grande evento no país. A comunicação começara meses antes da marcha sair e seguiu ativa a cada passo dado.
Outubro de 2019 é a data em que partiu de Nova Delhi, na Índia, outra marcha longa promovida pelo Ekta Parishad, com o nome de JaiJagat (“uma vitória pelo mundo”). Seu objetivo: alcançar a cidade de Genebra, na Suíça, doze meses depois. Muito antes de seu início físico, a marcha já existia. Ela começou a mobilizar e engajar seu público antes mesmo de ser dado o primeiro passo. Da mesma forma, seu destino já foi informado, bem como todo o seu percurso. Todos os envolvidos já sabem o que os espera meses antes de acontecer. A comunicação faz o trabalho de antecipar seu efeito no tempo e de fazê-la perdurar depois que ela termina.
FAZ-SE CAMINHO AO ANDAR
Marchas longas são táticas complexas que dependem de planejamento, estrutura, sacrifício. São conjuntos dinâmicos dos quais emergem transformações em nível individual e, também, coletivo. Elas transformam quem dela participa, transformam o contexto político, transformam a história e a forma com que se entende a luta popular. Quem caminha transpõe fronteiras, geográficas e psicológicas. Rompem-se crenças e fortalecem-se valores. Aqueles que caminham serão para sempre transformados pela experiência da construção de seu futuro a partir dos próprios pés, optando pelo sacrifício e pela entrega à causa. Aquele e aquela que marcham podem construir pluralidade, fraternidade e igualdade. Marchar questiona as fronteiras, ocupa os territórios e demonstra força, enquanto constrói o próprio movimento.
CAMINHAR E TRANSFORMAR
Uma lista de pontos para o uso estratégico da tática da marcha longa
LOGÍSTICA_ Para se percorrer longas distâncias com grande número de pessoas deve-se dar atenção redobrada a alguns aspectos. São eles: alimentação, repouso e descanso, higiene, segurança e saúde. O preparo para manter o grupo com energia e saúde durante a marcha é essencial, então lembre-se de pensar em estruturas de apoio, veículos, mochilas distribuídas entre os caminhantes, comida, água, barracas, remédios e material para primeiros socorros, entre outros. Planeje bem o percurso e saiba onde a marcha poderá parar, montar acampamento, descansar. Pense em grupos e horários para preparar a comida. Pense também em como estocá-la.
ORGANIZAÇÃO_ Para se manter grande número de pessoas de maneira organizada e segura durante um percurso, a organização, tanto do uso do espaço como do fluxo de informações, faz toda a diferença. Pode-se subdividir a marcha, por exemplo, num grupo que vai à frente com faixas e palavras de ordem, um grupo ao final que garante que ninguém fique para trás, um grupo responsável pela música (baterias, bandas, caixas de som, carros de som), outro responsável pela segurança etc. Definir responsáveis e coordenadores pode facilitar para se saber com quem falar em caso de necessidade. Considere formar um grupo organizador que tomará decisões, acessará recursos, dialogará com autoridades e assim por diante.
ESTRATÉGIA_Lembre-se que uma marcha que não tem repercussão não produz o impacto e o efeito necessários. Uma dica é comunicar às autoridades e ao(s) oponente(s) que a marcha será realizada e por onde ela passará, bem como o conjunto de demandas do seu movimento. Leve em consideração quais comunidades estarão no seu percurso, quem você pode mobilizar, de quem pode receber ajuda e apoio. Pense em como encerrar a marcha, o que fazer quando chegar ao destino e como esta ação deixará o seu movimento mais próximo dos seus objetivos. A marcha deve fazer parte da estratégia do movimento e não o contrário.
COMUNICAÇÃO_ Comunique-se, ganhe apoio e visibilidade. A comunicação é chave para a mobilização e crescimento da marcha. Converse com a população que está nas cidades e vilas por onde o percurso passa. Converse com o público mais amplo através da mídia tradicional e das mídias sociais. Explique porque estão marchando, para onde vão e o que pretendem. Explique a injustiça que motiva o caminhar, amplie as vozes pela sua causa, abra espaço para que diferentes caminhantes possam ter suas vozes escutadas. Cada passo dado, cada quilômetro vencido é notícia. Quanto mais perto se chega do destino, maior a importância de dialogar com a sociedade.
DESTINO_O local para onde se dirige a marcha é o ponto primordial e estruturante de toda a sua estratégia. Ele deve ser tanto simbólico como prático no sentido de que as pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão sobre a causa devem estar no destino também, sendo que é lá que a marcha pode alavancar ou alcançar a mudança pretendida . O local em que você vai chegar com uma multidão é o local onde a pressão atingirá o seu ápice. Use isto a seu favor.
MOBILIZAÇÃO_Comece a mobilizar pessoas e movimentos com suficiente antecedência para que todos possam se preparar para participar desde o primeiro dia de caminhada. Busque iniciar a sua marcha com um número expressivo, se possível, e prepare-se para que ela possa crescer ao longo do caminho. Para tal, conquiste apoio no percurso, receba caminhantes de outras regiões, atraia apoiadores nas cidades e vilas por onde passar. Uma marcha que cresce no caminho ganha mais força e assim pode fazer mais pressão para alcançar suas demandas.
TÁTICAS ASSOCIADAS_ É possível associar uma série de outras táticas à marcha, como ações diretas, assembleias, teatros, ações de desobediência civil e, também, advocacy. Isso pode definir o potencial de sucesso do seu movimento. Construir uma relação de diálogo com tomadores de decisão que possam se articular paralelamente ao andamento da marcha amplia os seus canais de pressão e de negociação. Marchas são espaços vivos, autônomos, transformadores. Nelas existe enorme potência de ação política. Use isto a seu favor.
DILEMA_Táticas não-violentas frequentemente colocam seus oponentes em posições difíceis. No caso da marcha, force seu/sua oponente a tomar uma atitude, seja ela a de tentar desmobilizar a marcha, seja até mesmo optar por não fazer nada. Lembre-se que chegar ao destino e ocupar o local com suas demandas é uma vitória para a marcha. Essa possibilidade de vitória é o que deixa seu oponente em um dilema, uma vez que seu oponente não quer que você avance com sua pauta e movimento. Uma eventual ação ou a inação do(a) oponente será positiva para a marcha.
Uma narrativa sobre o recente êxodo de Honduras
Sofía Marcía
tradução: Yadira Ansoar e Paola Amaris
Levas de migrantes percorrem todos os anos os países da América Central em direção às fronteiras do norte. A ativista hondurenha analisa as condições que fundamentam o fenômeno e se pergunta como é possível impedir a expulsão das pessoas de seus territórios.
Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón.
Mi casa es un barril de pólvora,
y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa,
a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso,
que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto,
que navegues por los océanos. [1]
[1] Eu quero ir para casa, mas minha casa é a boca de um tubarão.
Minha casa é um barril de pólvora,
e ninguém deixaria sua casa a menos que sua casa lhe perseguisse até a costa,
a menos que tua casa te tenha dito que apertes o passo,
que deixes tuas roupas, que te arrastes pelo deserto,
que navegues pelos oceanos.
Fragmento de Hogar, de Warsan Shire
Um êxodo em massa de hondurenhos e hondurenhas surpreendeu o mundo em outubro de 2018. Vimos mulheres, homens, jovens, meninos e meninas, famílias inteiras se juntando à chamada Caravana de Migrantes, para chegar aos Estados Unidos.
Antes desse outubro, nós nos acostumamos com a partida de algum parente, um amigo de infância, algum colega de trabalho, vizinho ou conhecido. Até celebramos ao saber que estavam indo bem; em outros casos, tivemos que receber de volta o primo que não conseguiu chegar e não quis tentar novamente.
Mas desde outubro as imagens de cerca de 13 mil centro-americanos, na sua maioria hondurenhos e hondurenhas que se juntaram à caravana, foram dolorosas. Lembraram-nos quem somos, gritaram-nos com força que esta realidade nos ultrapassou. O que motivou essas pessoas a sair de maneira massiva? O que acontece em seus lares e comunidades? Por que eles decidem arriscar tudo para fugir? É possível impedir a expulsão daqueles que amamos? Quem são os responsáveis por sua partida?
Este texto é uma tentativa de explicar o contexto de Honduras e sua ligação com a caravana de migrantes – um reflexo daquilo que poderíamos ser, qualquer um de nós em qualquer lugar, se nossa casa-território parecer esgotar-se, se a pobreza e a violência nos alcançarem, se a desesperança se tornar a vida diária.

A CARAVANA DE MIGRANTES, UMA EXPRESSÃO POLÍTICA DO DESCONTENTAMENTO SOCIAL
Esse enorme movimento migratório, conhecido como a caravana de migrantes, mas que poderia ser melhor chamado pelo nome de êxodo em massa de centro-americanos e haitianos (mas principalmente de hondurenhos e hondurenhas), tem origens diferentes se o olharmos desde este pequeno país no centro da América.
O estopim desse grande movimento migratório em outubro de 2018 tem a ver com uma soma de fatores, principalmente os políticos e econômicos, que afetaram uma população que não tinha nada a perder porque já perdeu tudo aqui, até a esperança. Um destes fatores é pelo enorme descontentamento social que se acumulou na população hondurenha empobrecida e que teve seu auge após as eleições presidenciais de novembro de 2017. Essas eleições foram cheias de fraudes desde o início, com a candidatura de um então presidente que, segundo a Constituição da República, não tinha possibilidade de reeleição, nem mesmo de participação nas eleições. Mas, além de quebrar qualquer ordem constitucional explícita, Juan Orlando Hernández (chamado pelo pseudônimo de JOH pelas pessoas que lutam nas ruas desde o dia em que se impôs como presidente) é apenas a face de uma ditadura consolidada desde o golpe de Estado que ocorreu em Honduras em 2009, que tem deixado como consequência a negligência em relação aos direitos políticos, sociais e econômicos da população; um Estado inexistente; e uma falsa democracia, da qual participam majoritariamente aqueles que zelam por seu próprio capital econômico, com o apoio e a bênção do governo dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem usado as vidas dos migrantes em um discurso que favorece sua candidatura por meio da xenofobia, do racismo, do terror e do ódio contra os latino-americanos, mesmo os nascidos nos EUA em famílias latinas.
ANTES E DURANTE A CARAVANA
Em outubro de 2018, começamos a ouvir falar sobre um êxodo em massa de hondurenhos e hondurenhas que viajavam para os Estados Unidos. Este êxodo começou a tomar forma no departamento de Cortés, no terminal de ônibus da cidade de San Pedro Sula, uma das cidades mais violentas do mundo, no dia 12 de outubro – paradoxalmente, o dia em que se celebra oficialmente os indígenas, mas que na verdade é uma data de resistência desses povos.
Cerca de 1.200 pessoas de todo o país se reuniram no terminal de ônibus. Muitas delas foram convocadas principalmente por redes sociais, e outras souberam quando viram na televisão que uma caravana de migrantes havia sido planejada. No dia 13 de outubro, a caravana partiu para a fronteira com a Guatemala. Passaram a noite na cidade de Santa Rosa de Copán, no ginásio de uma escola e onde mais conseguiram ficar. Muito mais pessoas começaram a se juntar e a cobertura da mídia se tornou cada vez maior. Foi então que nós, que moramos na capital, percebemos a magnitude da caravana de migrantes.
No momento em que chegaram à fronteira entre Honduras e Guatemala, estimou-se que havia cerca de 3 mil pessoas e um grande cerco de militares guatemaltecos esperava por eles do outro lado. Havia muitas incertezas nesse momento e tudo indicava que eles não os deixariam passar. No entanto, as pessoas começaram a pressionar e organizações de direitos humanos já estavam acompanhando esse momento; não houve maneira, assim, de conter essa enorme quantidade de migrantes. Naquela noite, eles dormiram em abrigos temporários. Nos dias seguintes, a solidariedade de muitas pessoas na Guatemala foi avassaladora e, ao mesmo tempo, contrastou com o discurso de ódio que começava a tomar forma por parte do presidente de Trump. Houve até quem sugerisse que as pessoas recebiam dinheiro dos adversários de Trump para se juntarem à caravana, reduzindo a simples fantoches um sujeito político com força e coragem, mas sobretudo com razões suficientes para continuar migrando.
Enquanto a primeira caravana percorria a Guatemala, outras caravanas saíram de Honduras. Apesar da tentativa de fechar as fronteiras, também houve grupos que se juntaram na Guatemala, em El Salvador e na Nicarágua; parecia que a primeira havia inspirado as outras.
A HISTÓRIA APAGADA DOS MIGRANTES LATINO-AMERICANOS
Muitos se perguntaram quem organizou a caravana, quem idealizou esse movimento migratório que aparentemente atenta contra a estabilidade econômica dos países da América Central, México e Estados Unidos, conforme as constantes ameaças de Donald Trump. Deve-se dizer que a população vem migrando há anos e que não é a primeira caravana que se organiza; houve outras em menor magnitude ao longo de 2017 e, na realidade, parte das economias da América Central se sustenta graças às remessas enviadas pelos migrantes para seus parentes (apenas em Honduras, representam 18% do PIB).
Os países da América Central têm uma história muito semelhante, apesar dos governos que passaram da esquerda ou da direita. Na Guatemala, registra-se 59,3% dos habitantes em situação de pobreza e extrema pobreza, o que afeta principalmente a população indígena-rural.
Assim como Honduras, o país recuou nos últimos dez anos não apenas em questões econômicas, mas também em direitos humanos, apesar dos acordos de paz assinados há mais de 20 anos, depois do genocídio de populações principalmente indígenas que caracterizou o conflito político e militar dos anos 80.
No ano 2015, foi exigida a renúncia do presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, envolvido em um caso de corrupção junto a vários de seus funcionários do governo, principalmente a vice-presidente. Ambos lideravam uma cadeia de corrupção na alfândega. As pessoas nas ruas conseguiram que a justiça determinasse a prisão preventiva dos corruptos. Meses depois, é eleito um presidente daqueles que não são os de sempre na política partidária, um comediante, apresentador de televisão, Jimmy Morales, que era pior em questões de corrupção e impunidade. Seu governo rompeu com o Estado de direito e age com impunidade, protegido pelo discurso de ter sido colocado ali pelas maiorias.
Em San Salvador, onde em outubro de 2018 reuniu-se um grupo de cerca de 500 pessoas no famoso monumento El Salvador del Mundo para se juntar à caravana, a violência se abate sobre a população. De acordo com uma enquete realizada pela Universidade Jesuita Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), mais de 235.700 pessoas foram forçadas a se mudar somente em 2018 devido às gangues ou maras. As condições de desigualdade, pobreza e violência que continuam expulsando essas famílias não mudaram depois do conflito político dos anos 80 entre os guerrilheiros e o exército, que perpetuou massacres como o de Mozote, onde pelo menos 765 pessoas foram mortas em um único dia, na maioria meninas e meninos. Só até o ano 2012, o governo de San Salvador o reconheceu, sem que até hoje tenha sido processado um único oficial militar do exército ou que se tenha apontado o papel dos Estados Unidos, que rotulou de propaganda comunista a notícia do massacre e apoiou o exército e o governo com mais recursos econômicos e militares.
Na Nicarágua, um conflito que ninguém esperava eclodiu a partir de uma crise política. O detonador foi uma reforma da Previdência Social, mas o descontentamento já tinha se acumulado há muito tempo com o governo “sandinista e esquerdista” de Daniel Ortega. Este governo por mais de uma década se dedicou a criar uma espécie de dinastia que favorecia seus familiares e parentes juntamente com a empresa privada, às custas de interesses sociais e sob a proteção do império americano (que tinha sido seu inimigo durante os anos 1980, quando se dá o triunfo da Revolução Sandinista). A violência que gerou a resposta das forças armadas e militares na Nicarágua ao protesto social de abril de 2018 deixou mais de 350 mortos, segundo a Associação Nicaraguense dos Direitos Humanos (ANDPH), dezenas de prisioneiros e presos políticos (alguns recém postos em liberdade) e mais de 30 mil pessoas que migraram desde o início do conflito político, em abril de 2018, para vários países da região, incluindo os Estados Unidos.
Em Honduras, antes do êxodo em massa, estimou-se, segundo dados do departamento de relações exteriores, que 200 a 250 pessoas migravam por dia. Ou seja, havia um êxodo muito silencioso – o que é conveniente, especialmente quando levamos em conta os dados sobre as remessas que entram nas finanças do país.
Tenta-se apagar toda essa história da América Central. Ela está carregada de pobreza, violência e dor, com feridas que permanecem abertas e que afetam os mais pobres nesses países: os camponeses, os indígenas, os das periferias. Mas são justamente estes que em outubro de 2018 decidiram se tornar visíveis através das caravanas de migrantes para nos lembrar das feridas que carregamos há anos.
A migração tem sido, assim, uma das alternativas de vida digna para a maioria, quando não há outras. Mas migrar sem um visto americano tem um alto custo, não apenas econômico, mas também social. Os chamados coiotes, por exemplo, que são responsáveis por levar pessoas pelas diferentes rotas do México, cobram por pessoa uma média de 5 mil dólares. Na maioria dos casos, essa quantia é paga pelas famílias nos Estados Unidos; outros se endividam; e alguns viajam pela estrada sem um coiote, o que representa um risco muito alto. As caravanas possibilitaram, de alguma forma, viajar com mais segurança e a um custo econômico mais baixo, embora não possamos assegurar que isso fosse inteiramente um fato, quando se sabe do sequestro de alguns migrantes por cartéis de drogas ao longo do caminho.
A JORNADA CONTINUA
Quando os centro-americanos chegaram em Tecún Umán, na fronteira entre a Guatemala e o México, já era incontável o número de pessoas que tinham se juntado à caravana. Enquanto isso acontecia, Trump ameaçava reduzir a ajuda aos países da América Central se os governos não conseguissem conter as caravanas, que segundo suas palavras eram grupos de criminosos que iam até os Estados Unidos. Na realidade, são pessoas sem esperança e em busca de condições de vida melhores do que aquelas causadas nos países da América Central pela mesma política de extermínio e exclusão da intervenção dos Estados Unidos. Assim, apesar das ameaças, as pessoas não deixaram de somar-se cada vez mais, com a esperança de chegar aos Estados Unidos.
Ao chegar à fronteira com o México, houve momentos de grande tensão. Os portões foram fechados e novamente forças militares receberam aos migrantes em um lugar onde dizia: “Bem-vindo ao México”. Os centro-americanos que querem entrar no México devem apresentar um visto dos Estados Unidos, Canadá ou do próprio governo mexicano. É evidente que, depois de vários quilômetros de caminhada e fadiga, aqueles que esperavam entrar certamente não traziam consigo as exigências migratórias – exigências essas que foram impostas como outra maneira de estabelecer muros para impedi-los de entrar naquele país da América do Norte.
Milhares de migrantes estavam localizados em frente aos portões e sobre a ponte que divide a Guatemala e o México. Muitas horas de espera, uma noite toda e com chuva. O desespero se abateu sobre muitos: alguns decidiram pular a ponte e se jogaram no Rio Suchiate para nadar até o outro lado da fronteira, chegando ao México, enquanto outros cruzavam em jangadas de madeira e borracha, apesar das advertências das autoridades. Do outro lado da ponte, aqueles que conseguiam cruzar cantavam o Hino Nacional de Honduras, tentando encorajar os outros a fazer o mesmo. Um helicóptero voa sobre o rio enquanto as pessoas continuam a passar sem parar; outros decidem ficar e depois os portões, não conseguindo contê-los, são derrubados por algumas pessoas. Na frente estavam muitas crianças com pais que, no meio de gás lacrimogêneo, corriam em desespero.

Já no México, foram reportados cerca de 13 mil centro-americanos, principalmente hondurenhos e hondurenhas, que compõem o êxodo de migrantes, incluindo 24 mulheres grávidas, 184 pessoas com deficiência, 31 adolescentes solteiras, 87 pessoas da comunidade LGTBIQ+ e mais de 2 mil meninos e meninas. Era a soma de várias caravanas que chegavam por diferentes pontos fronteiriços a cidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas e outras caravanas que ainda deixavam os países da América Central.
Na Cidade do México, assim como em outras cidades do país, foram preparados albergues onde muitos se reuniram para participar de assembleias, o que lhes permitiu discutir questões como a conveniência de vistos humanitários que o governo mexicano oferecia para as pessoas que solicitassem refúgio. Alguns aceitaram os vistos, embora eles não fossem garantia de condições decentes; apenas garantiam a circulação dentro da fronteira mexicana para o trabalho.
Outro grupo decidiu nomear uma comissão de 19 hondurenhos e hondurenhas representando 17 dos 18 municípios e os hondurenhos que vivem nos Estados Unidos, bem como três de cada país da América Central (El Salvador, Nicarágua, Guatemala). Essa comissão solicitou na cidade do México, que o Comissário da ONU declarasse o êxodo dos migrantes como uma crise humanitária, e aplicasse o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular.
Enquanto as redes sociais serviram para convocar e inspirar milhares de pessoas a se juntarem às caravanas, foi através delas que também Donald Trump promoveu um discurso de ódio contra os migrantes. Mas não o fez em um momento qualquer, e sim antes de 6 de novembro, data em que é renovada uma parte do Congresso estadunidense e os governos estaduais por meio de eleições de meio de mandato. Momento algum seria melhor para promover a xenofobia, passar a responsabilidade dos imigrantes ilegais para o Partido Democrata (o partido da oposição) e buscar mais eleitores, que era o que mais importava nessas eleições.
Em Honduras, o governo se dedicou a culpar os líderes políticos da oposição, inclusive Bartolo Fuentes, ex-deputado do partido Liberdade e Refundação, por ser quem convocou e provocou a caravana de migrantes. Segundo o departamento de relações exteriores e outros políticos, eles levaram as pessoas enganando-as e usando a força. Além dessa acusação ser claramente falsa, colocou a vida de Bartolo em risco.
Da primeira soma de muitos êxodos que saiu em outubro de 2018, soube-se que a maioria conseguiu chegar aos Estados Unidos. Eram grupos diferentes e, embora não tenhamos voltado a ouvir falar de um movimento tão grande quanto o ocorrido naquele outubro, as pessoas não param de migrar a despeito da militarização das fronteiras e da perseguição pelas rotas convencionais. A mudança de perfis e fluxos migratórios continua representando um desafio para as organizações, abrigos e instituições que acompanham a migração segura como um direito.
A migração continua sendo uma expressão da crise democrática e política nesses países, da pobreza e da violência, mas também uma expressão daqueles que buscam condições de vida mais dignas, daqueles que se cansam de viver em desesperança e sabem que é necessário ir além.
UM OLHAR SOBRE O CONTEXTO HONDURENHO PARA ABORDAR O ÊXODO DE MIGRANTES
Para descrever o momento atual vivido em Honduras, imagine por um momento uma panela de pressão que está liberando fumaça, mas encontra-se a ponto de explodir. Dentro, há alguns ingredientes que, ao serem misturados, não demoram muito em surtir efeito: empobrecimento, violência, impunidade, corrupção, narcotráfico, extorsão, desemprego, militarização, crise democrática, concessão de território e resistência social.
Neste país no centro da América, com cerca de 9 milhões de habitantes, sete de cada dez pessoas vivem em condições de pobreza, quatro delas em pobreza extrema. [2] E, segundo o Banco Mundial, Honduras é o terceiro país mais desigual do mundo, o que se traduz em enormes concentrações de riqueza em poucas mãos.
[2] Dados do Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INEH) gerados em 2018.
O desemprego e o subemprego prevalecem na população. Vejamos alguns dados oficiais [3] sobre isso: a taxa de desemprego aberto é de 5,7%; se você é jovem e com um diploma universitário, você terá mais dificuldades para encontrar emprego, ainda mais se for mulher. Se encontrar, pode aspirar a um salário máximo de 13.809 lempiras, cerca de 566 dólares. Já a renda média geral para o total de empregados é de 278 dólares. Ao mesmo tempo, a cesta básica é considerada pelo Banco Mundial como uma das mais caras, avaliada em 540 dólares. Ou seja, a média de hondurenhos e hondurenhas não atinge uma renda para cobrir suas necessidades básicas.
[3] Idem.
À situação alarmante de emprego acrescentaremos as condições de trabalho, que nos últimos 10 anos se tornaram cada vez mais precárias. As conquistas e lutas dos trabalhadores das empresas bananeiras [4] na greve de 1954 que deram uma enorme contribuição ao código de trabalho, com garantias mínimas para ter condições dignas, estão hoje invisibilizadas pelo novo contrato por hora aprovado no ano 2010, que subtrai qualquer benefício dos trabalhadores e trabalhadoras.
[4] Honduras é conhecida como República das Bananas, termo cunhado por O. Henry e que se tornou popular para descrever um país pobre, instável, corrupto e pouco democrático, que se move ao gosto de interesses estrangeiros. Mas, em Honduras isso também tem a ver com a forma como a produção de banana da região recebeu um impulso decisivo no século 20, “graças às operações das grandes empresas americanas de banana, particularmente a United Fruit Company”, como afirma Arturo Wallace nesta reportagem de 22 de maio de 2017 na BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39693332
Nas cidades com maior movimento econômico (San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, Tegucigalpa e La Ceiba), deve ser paga mês a mês a extorsão, ou “imposto de guerra”. É um pagamento que tem que ser feito a diferentes grupos criminosos, comomarasou gangues, para que não te matem.
Honduras é também uma das principais paradas para 90% da cocaína consumida nos Estados Unidos. Sua geografia, a impunidade e a corrupção das instituições estatais o permitem. Os fluxos de cocaína direto para Honduras cresceram significativamente após 2006 e aumentaram drasticamente após do golpe de Estado em 2009, diz um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Segundo o governo dos Estados Unidos, aproximadamente 80% de todos os voos suspeitos de tráfico de drogas que saem da América do Sul desembarcam pela primeira vez em Honduras, transportando 65 das 80 toneladas que chegam por esta rota. [5]
[5] International Narcotics Control Strategy Report, 2016.
Os pontos de trânsito tornaram as cidades de Copan, Atlántida, Yoro e Cortes as mais violentas. As maras e gangues desempenham um papel essencial no controle dos territórios para as drogas, enquanto os cartéis mantêm os territórios em disputa pelas praças e pelo narcomenudeo. [6] Em consequência disso, as pessoas fogem do sequestro de seus filhos e filhas pelas maras, da extorsão e violência generalizada; as comunidades se sentem desprotegidas e incapazes de enfrentar essa violência, e famílias inteiras são forçadas a deslocar-se no nível interno e externo procurando sobreviver.
[6] Pequeno comércio de drogas ilícitas.
E se nos referirmos aos feminicídios, a cada 23 horas uma mulher é morta no país. Os assassinatos ligados à violência sexual ocorrem principalmente na via pública ou em casa, quase sempre por seus parceiros. Em sua maioria, são mulheres jovens com idade entre 19 e 39 anos que pararam de denunciar os casos pela falta de credibilidade das instituições do Estado e que, mesmo quando denunciados, permanecem impunes.

Mesmo com todos os elementos até agora mencionados, os números duros dizem que não estamos mais entre os 10 países mais violentos do mundo. Mas isso não significa que nós, hondurenhos e hondurenhas, nos sentimos mais seguros. Recentemente, o Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) da Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) apresentou os resultados da enquete de Percepção dos Cidadãos sobre Insegurança e Vitimização em Honduras; a maioria percebe a insegurança como o principal problema do país, seguida de questões econômicas, e consideram que nos próximos meses a situação ficará pior.
O descontentamento generalizado na população que vem se acumulando especialmente desde o golpe de Estado de 2009 foi reacendido com os casos de corrupção no Instituto Hondureño de Seguridad Social. O partido político do atual presidente, o Partido Nacional de Honduras, foi acusado de desviar fundos para a campanha política, entre outros casos. E a situação foi agravada pela crise pós-eleitoral gerada em novembro de 2017, quando o atual presidente decidiu mover todo o mecanismo do Estado em seu favor (poder Executivo, Legislativo e Judiciário) para ser reeleito inconstitucionalmente. [7]
[7] Essa foi, inclusive, uma das razões que justificou a derrota de Manuel Zelaya em 2009, que tinha a proximidade com os governos progressistas da América Latina e em consequência com a ALBA (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América): houve uma consulta popular para perguntar se concordavam em realizar um referendo sobre a reeleição. Então, o que antes era considerado ruim para uns, agora acabou se tornando algo bom para outros.
Foram realizadas eleições que já eram ilegais, e que também foram altamente questionadas pela população que saiu para votar, como nunca antes, por uma mudança. As enquetes e a contagem inicial deram como vencedor o líder da aliança contra a ditadura, Salvador Nasrrala, mas depois de várias horas e a queda do sistema, o tribunal eleitoral deu como vencedor Juan Orlando Hernández. Isto levou as pessoas a sair massivamente às ruas para protestar. Os confrontos entre o exército e a população insatisfeita deixaram como saldo inúmeras violações de direitos humanos.
O atual governo continua a aumentar a militarização, que vem sendo notória desde o golpe de estado de 2009, mas que agora se torna mais evidente, especialmente no orçamento do Estado. As dotações foram aumentando para a Segurança, Defesa e o serviço da dívida, ao passo em que foram gradualmente reduzidos os orçamentos para saúde, educação e investimento público. [8] Não temos escolas suficientes, nem universidades, e muito menos hospitais ou remédios, mas temos mais de 24 mil membros das Forças Armadas e um alto investimento em armas militares e inteligência de Estado.
[8] Estudo do Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) que reúne dados oficiais dos orçamentos de 2010 a 2019 em Honduras.
Se olharmos com um pouco mais de detalhe, veremos que as Forças Armadas adquiriram grande relevância desde 2010 e mais ainda no atual governo, ao ponto de as encontrarmos ocupando posições chave nas estruturas governamentais. Não é algo casual: não se trata apenas de pagar favores, mas também de garantir os investimentos econômicos dos grandes empresários e das empresas transnacionais do país.
Há também uma ameaça latente para as populações nos territórios rurais do país, onde encontramos povos indígenas Lencas, Chortis, Pech, a tribo Tolupana, Miskito, negros e negras Garífuna, camponeses e camponesas que estão sendo perseguidos e criminalizados pela defesa de territórios e propriedades comuns.
Grande parte do território de Honduras está cedido para projetos extrativistas. Somente em agosto de 2009, em meio da crise do golpe de Estado, a Lei Geral da Água permitiu a concessão de 47 usinas hidrelétricas em todo o país; também estima-se 302 concessões para mineração. A paralisação da reforma agrária por grandes interesses nos anos 1990, bem como a lei da modernização agrícola, continuam gerando violência e expropriação para as comunidades e organizações camponesas.
Recentemente foram aprofundadas ameaças e perseguições políticas para aqueles que lideram as lutas e a defesa da vida. Nos meses anteriores, foram assassinados Salomon e Juan Samael, pai e filho, que durante anos se opuseram à venda e comercialização da floresta da tribo Tolupan. Eles se juntaram à longa lista de mortes de defensores de recursos naturais e bens comuns, cujos assassinos permanecem impunes. Há também o caso de Berta Cáceres, coordenadora do Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Indígenas de Honduras (COPINH), que foi assassinada pela empresa hidrelétrica DESA com a cumplicidade do Estado. Apesar do diretor executivo e de segurança da empresa estar preso, assim como os assassinos que dispararam as balas, os autores materiais e intelectuais ainda não foram chamados a julgamento.
Líderes que acompanham a luta da comunidade Guapinol pela defesa de seu rio e a área central de um Parque Nacional foram recentemente processados por associação ilícita, como se a organização em defesa dos recursos naturais fosse um perigoso cartel. Foram levados para a cadeia e finalmente libertados graças à pressão de toda uma comunidade, o acompanhamento de uma equipe jurídica enormemente comprometida e a pressão de organizações internacionais de direitos humanos.
Sob esse pano de fundo, há aqueles que ainda estão procurando os responsáveis por organizar as caravanas de migrantes e desestabilizar o país. O representante do governo dos EUA em Honduras chegou a fazer ligações públicas para dizer às pessoas que não saíssem, que não se deixassem enganar por sujeitos inescrupulosos, que no seu país os aguarda todo o peso da lei. Donald Trump anunciou recentemente a suspensão da ajuda econômica aos países do chamado triângulo norte e a construção do muro que ele vem apresentando como parte de sua campanha política, bem como o fechamento da fronteira.
E tudo isso impediu que os migrantes parassem de sair de Honduras? Pelo contrário, eles encontraram maneiras de continuar saindo e continuarão a fazê-lo. Enquanto os responsáveis pelas políticas de morte continuarem a deixar as populações sem alternativas, eles poderão construir milhões de muros, mas não conseguirão impedir as pessoas de continuar a lutar por suas vidas e dignidade em meio a esse desastre.
DEPOIS DO ÊXODO QUE VISIBILIZOU A CRISE
Sem dúvida, o êxodo em massa de outubro nos mostrou a força daqueles que a história tentou tornar invisíveis. Aqueles e aquelas a quem naturalizamos que sempre vivessem com a dívida que a democracia deixou aos das periferias: violência, empobrecimento e desesperança. Pessoas oprimidas que sonharam com uma vida com dignidade, e que se atreveram a deixar tudo para trás, ir adiante, levar suas filhas e filhos ou suas famílias inteiras, tentando de novo, e de novo, porque já não há nada mais a perder. Essa é a história dos migrantes que viajaram naquela grande caravana.
Contudo, embora a caravana tenha visibilizado a crise, o que veio depois foi uma tentativa de desacreditar o êxodo e retaliar os migrantes. Em Honduras, pais ou mães que tentaram migrar com seus filhos foram criminalizados. As pessoas passaram a buscar “pontos cegos” – nome dados aos lugares em que se consegue cruzar a fronteira sem ter que mostrar os documentos para a polícia de imigração. Quando as fronteiras entre Guatemala e Honduras foram fechadas, as pessoas passaram por rios, encontraram outras rotas e, continuam até agora. Recentemente vimos uma imagem terrível de um pai e sua filha de 23 meses de idade, Oscar e Angie, que se afogaram no Rio Grande – imagens duras que nos lembraram a criança síria afogada. Algo deve estar errado com a humanidade para que permitamos que essas tragédias passem por nós, sem entender que a migração é um direito e uma expressão da crise em que vivemos.
No México, os grupos migratórios tem sido atingidos por ameaças. Em cidades como Oaxaca e Chiapas, para pegar um ônibus, você deve mostrar documentos comprovando sua nacionalidade mexicana; caso contrário, você correrá o risco de deportação. Os albergues no México relatam um aumento alarmante no número de migrantes e aumentaram sua capacidade em até três vezes. A grande maioria das organizações da sociedade civil viu seu trabalho se tornar bastante complicado, tem sido criminalizada e perseguida pelo mesmo aparato militar e executivo do governo progressista de Andrés Manuel López Obrador.
Essa campanha de terror e medo dirigida aos migrantes e seus aliados, somada à militarização das fronteiras no México e na Guatemala, à disseminação do discurso de ódio de Trump e à imposição do status de país seguro à Guatemala – o que se traduz em mais militarização e detenção –, seria muito fácil pensar que não há mais pessoas tentando chegar aos Estados Unidos. Mas em Honduras, somente neste ano, o Observatório Consular e Migratório (CONMIGHO) relatou 68.909 migrantes deportados principalmente do México e dos Estados Unidos, ao passo em que em todo o ano de 2018 foram um total de 75.279. Assim, o ano ainda não acabou e estamos prestes a atingir os números do ano passado. Em poucas palavras, a crise migratória não cessou, mesmo que agora se fale pouco ou nada sobre o êxodo dos países da América Central.
Os números oficiais já mostram um grande número de famílias e pessoas retornadas, mas além dos números, conhecer os rostos dos migrantes na estação de ônibus quando eles chegam depois de horas de viagem e dias detidos em meio à incerteza, é doloroso. Muitos são jovens e a maioria expressa que, apesar da deportação, tentarão novamente. Há até aqueles que, assim que chegam à estação, retomam novamente uma outra rota de migração.
Enquanto as condições de vida na América Central não mudarem, a crise migratória continuará aumentando. É preciso continuar pensando em alternativas, seguir tecendo pontes que nos juntem e persistir em apagar as fronteiras. Ações isoladas não bastam: uma das lições que essa crise nos deixa é a necessidade e a urgência de nos unirmos, de agirmos com base na solidariedade. Continuaremos assumindo com coragem e rebeldia a tarefa de buscar a esperança, sonhando e lutando para construir algo diferente dessa realidade e, por que não, de outro mundo possível.
Claudia Visoni
Agricultora urbana, codeputada
O que é transformação? Como e quando ela ocorre? Afinal o que queremos transformar? O que nós transformamos e o que transformamos em nós? Na palavra em questão, transformação, pelo menos três palavras atravessam a pessoa ativista: trans, forma, ação. Colocar-se em movimento. Fazer e ser feito. Deixar-se ou não na forma. Longe de dar respostas, as perguntas movimentaram corpo e pensamento de Claudia Visoni, Keila Simpson, Teca, Fabio Paes, João Marcelo, Lula Trindade e Tio Antônio e orientaram o comentário final de Ana Biglione.

Eu me sinto muito bem com a reflexão sobre o que é realmente transformação no ativismo. Me sinto útil e podendo ter a oportunidade de refletir e direcionar energias para o que realmente importa. O ativismo visa a transformação, mas é fácil perdermos isso de vista. A reflexão nos ajuda a lembrar por que estamos aqui.
TORNAR-SE INÚTIL
Tenho a impressão de que os ativismos modernos nascem com o abolicionismo. Não sei se existiu algum outro movimento ativista coordenado ou de grande escala antes disso. São pessoas que resolveram se mobilizar em prol de uma causa, em prol de resolver uma injustiça que, em muitos casos, não as atingia diretamente – e que poderia até beneficiá-las. Conheço pouco sobre o movimento, mas muitos líderes eram pessoas de posse, ricas, que viviam em ambientes onde a escravidão era uma realidade, e uma realidade muito conveniente. São pessoas que resolvem dizer “isso está eticamente errado, é uma injustiça, as pessoas não podem ser compradas e vendidas dessa forma”.
Por que esse preâmbulo? Porque o sonho de todo ativista precisa ser se tornar inútil. Precisamos ter esse desprendimento. Ser vencedor, para o ativista, tem um gosto um pouco amargo. Vou falar do meu ativismo, da agroecologia. Eu estava aqui fazendo um canteiro na minha casa. Faço isso como pessoa, porque acho importante, mas isso é chamado de ativismo. Para a minha bisavó, isso não era ativismo, porque todo mundo plantava no quintal de casa. Não existia “o ativismo” de plantar comida no quintal. O nome disso era sobrevivência! Mas hoje em dia estou aqui, aparecendo em uma revista. A minha bisavó ia achar isso estranhíssimo. Por que entrevistar sobre algo tão banal, que todo mundo faz? No dia em que todos voltarem a fazer o que suas bisavós faziam, não vou mais precisar dar depoimento e ninguém virá filmar a Horta [das Corujas, da qual Claudia faz parte]. Não vai ter mais graça, porque todo mundo faz. Isso tem que ser a meta. Essa fala não é minha, e sim do Claudio Oliver, um ativista de agricultura urbana da Casa da Ribeira, de Curitiba. Ele diz: “as pessoas vêm aqui, nos entrevistam, tiram fotos, mas nós não fazemos nem metade do que nossas avós faziam”.
Mas o que é realmente transformação? É modificação de padrões de comportamento e padrões culturais. Tem uma frase da Margaret Mead que diz: “Não duvide que um grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou”. Transformação é mudar o mundo mudando o parâmetro e o paradigma. É estranho falar isso hoje, mas há 200 anos talvez alguém pudesse vir me dizer: “Nossa, é um absurdo as pessoas serem escravizadas!” e eu poderia responder: “Ora, por que? Está tudo normal: eles são escravos e nós, não.” Isso era aceito socialmente, mas um número de pessoas fez isso mudar. Pode ter gente que pense assim hoje, mas não é socialmente aceito e é contra a lei. Já eu, como permacultora, vejo uma série de paradigmas que precisam se transformar. Um exemplo é as pessoas acharem que inseticida é uma coisa ótima e formiga, uma coisa péssima. Na verdade, a formiga ajuda a recuperar o solo, e o inseticida dá câncer. O sinal está trocado.
PROTOTIPAGEM
Existem vários tipos de ativismo, e eu me identifico com aquele que prototipa a realidade em que quer viver, inspirado pela frase do Gandhi, “Seja a mudança que você quer ver no mundo.” Imagine que louco um lugar público onde você planta comida e qualquer pessoa pode ir lá colher… Bem, isso existe: são as hortas comunitárias, que são uma utopia que já conseguimos realizar em pequena escala. O ativismo em que eu acredito é pegar algo impossível e ir lá fazer. Isso já é uma tranformação em pequena escala. Fiquei muito feliz quando a Horta das Corujas e várias outras passaram a existir e entraram no repertório da cidade de São Paulo. Isso significa que eu não vou morrer sem ter vivido essa utopia. Já vivo ela em oitocentos metros quadrados.
O ativismo tem a característica de ficar observando o sistema e buscar uma fresta para atuar. Vou dar outro exemplo, da época da crise hídrica [do estado de São Paulo]. A situação era muito maior do que nossa possibilidade de resolver. O reservatório estava sem água, e não havia nada que três cidadãos comuns pudessem fazer para trazer chuva ou mudar a maneira como o governo estava lidando com a crise. Diante daquilo tudo, o que podíamos nós? Ensinar as pessoas a fazerem pequenas cisternas de baixo custo em suas casas. A partir de muito planejamento, criamos o movimento Cisterna Já, do qual sou fundadora junto com alguns permacultores. E tem uma liderança do Movimento de Defesa do Favelado, uma senhora chamada Teresinha Rios, que na crise hídrica começou a construir pequenas cisternas para doar, feitas com suas próprias mãos, na sua cozinha. Muita gente pensa que é impossível construir uma cisterna ou dedicar-se a essa causa. Ela foi lá e fez. Acredito muito na prototipagem.
É muito difícil querermos uma coisa que não conseguimos imaginar. Então o ativismo, para mim, tem muito a ver com o repertório da imaginação. Isso já é uma transformação: romper uma barreira mental de achar algo impossível. De repente, essa coisa acontece e passa a existir no mundo real. E, se ela existe, ela é possível – primeiro na mente, depois no discurso, e por fim na ação das pessoas. Graças ao ativismo.
Existe também o ativismo do enfrentamento e da denúncia, que é muito importante, principalmente neste momento do Brasil. Mas ele também pode ser limitante. Na minha opinião, o ativismo precisa ser propositivo. Não sou a detentora da verdade, e cada um tem sua visão, mas, para mim, a mera contestação daquilo que não achamos correto e a reivindicação de coisas que não estão ao nosso alcance não é uma postura muito ativista. Se não está na nossa mão, nós nos tornamos impotentes.
O pensamento e as palavras já são uma transformação, mas incompleta. A transformação completa é a transformação de valores e paradigmas da sociedade. Podemos convencer um governante atual de que uma causa é muito importante e ele precisa dar um apoio. Isso ajuda muito, porque são pessoas em instituições poderosas, mas essas pessoas também são efêmeras. O governo delas vai acabar. Se aquilo não tiver se transformado em um valor na sociedade, as conquistas voltarão atrás. Tempos atrás, a mulher não podia ter propriedade, dirigir ou sair de casa sozinha, e estava sujeita à violência de maridos e familiares. Hoje em dia, tudo isso é contra a lei. A mudança real está alicerçada em um novo padrão de consciência, pensamento e ética.
FASES
A transformação acontece quando um pequeno grupo de pessoas começa a falar algo que parece absurdo, como “Não podemos ter pessoas escravizadas no mundo!”, e em um primeiro momento são ridicularizadas, e depois isso passa a ser o contrato social hegemônico. Gandhi diz que primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam com você, e depois você ganha. Nas causas ativistas, é isso que acontece.
No meu campo, quando comecei a plantar comida na minha casa, muitas pessoas próximas achavam ridículo. Se uma alface custa três reais no supermercado, porque eu gastaria horas aqui, plantando? Depois, brigaram: “Por que você está gastando horas com isso?”. Por fim, o fato de que na minha casa existe uma horta passou a ser uma realidade aceita. Na Horta das Corujas, nem mesmo passamos pela fase de ser ignorados. Tinha uma mulher ali que sempre me chamava de palhaça. Dizia que estávamos destruindo a praça, e que a agricultura na cidade não existe, que era algo só do campo. Depois fui estudar e descobri que horta vem de horto, do latim, que é o quintal no fundo das casas, onde se plantava comida e que era murado para evitar o roubo. Hoje em dia, essa mesma mulher frequenta a horta com o pai e sugere novas coisas para plantarmos. Ela ridicularizou, depois brigou, e agora frequenta. Todo dia ouvimos falar de novas hortas que vão ser instaladas em escolas, condomínios… e toda a imprensa acha bonito. Virou moda.
O meu papel como agricultora urbana ativista em trazer esse assunto à tona está menor a cada dia. Mas como a questão da agroecologia, segurança alimentar e da situação do pequeno agricultor é tão terrível, é só o começo de uma nova fase do jogo. Agora que conquistamos esses espaços na cidade, vamos usá-los a serviços dos valores em que acreditamos. E, nisso, estamos muito longe de ganhar alguma coisa. Ainda estamos saindo da primeira para a segunda fase. As pessoas riam, questionando: “vocês acham que vão alimentar o mundo com agricultura orgânica?”. Agora, enquanto alguns brigam conosco, a ONU [Organização das Nações Unidas] declara que o único jeito de alimentar o mundo é com agricultura orgânica.
CONVERGÊNCIA
Existem muitas armadilhas que impedem que o ativismo seja transformador. Uma delas é o ciúme, ou algo que talvez possamos chamar de apego egóico. “Esta é a minha causa!”: isso é a antítese do que precisamos para transformar o mundo. Não vou dizer que não sinto isso, mas tento ficar muito alerta. O ativista precisa estar sempre buscando conexões, aliados e alianças com outros ativistas de causas irmãs. Essa rede é muito importante. É como um jogo de futebol: cada pessoa tem a sua posição. Não adianta termos um time com 11 goleiros. Precisamos lidar não só com o consenso, mas também com a convergência. Posso não concordar cem por cento com alguém sobre o mundo que desejamos e como queremos chegar lá, mas temos entre nós um espaço de convergência – o mínimo para estarmos juntos nessa causa – e uma intersecção com a qual vamos trabalhar.
E é muito importante o empoderamento de quem está chegando no movimento. Quanto mais horizontal for o ativismo, mais bem sucedido ele será. Quando começamos a cercear o outro, dirigir demais e disputar poder, começam os rachas internos que atrapalham tantas causas. Tenho um pouco de problema com cadeias de comando e controle. Dentro de uma estrutura extremamente hierárquica, quem ali é ativista? Todo mundo, ou só os líderes? O que é o ativismo quando não se tem autonomia? Um ativista que não pode ter ideias e sair executando, como ele se vê?
Antes do meu ativismo começar, entrei em contato com organizações estabelecidas oferecendo ajuda com meu tempo e trabalho e percebi que não era bem vinda. Isso me gerou uma dor muito grande. Por isso, incorporei ao meu ativismo o gesto de trazer as pessoas para dentro, mostrando a todos que são muito bem-vindos. Também faz parte do meu ativismo romper as cadeias de comando e controle e romper a divisão social do trabalho. Vivemos em uma sociedade onde parte das pessoas só planeja, e parte só executa – o que é estúpido, pois quando planejamos as coisas, passamos a executá-las muito melhor, e vice-versa. Vejo muito isso na agricultura: muita gente que escreve propostas nunca pegou em uma enxada. É outra visão.
ESPÉCIE PIONEIRA
O Estado talvez seja uma das forças reacionárias da sociedade, ao menos na minha pauta. Quem ocupa esses espaços de poder são os homens brancos, velhos e ricos. A solução para enchente, para eles, é o piscinão, que já sabemos que não funciona. Eles não conseguem imaginar outra possibilidade, como os jardins de chuva. Hoje em dia tenho acesso ao poder legislativo e percebo que parecemos falar de mundos diferentes. Faço parte de um movimento chamado Bancada Ativista, cujo objetivo é colocar ativistas na política institucional. Vou dar o exemplo da formiga. A formiga é uma espécie pioneira. É o primeiro bicho que consegue habitar um solo seco, duro e degradado, onde a minhoca e outros microorganismos não conseguem viver. Ela coloca umidade, nutriente e ar dentro da terra. Quando vou para o poder legislativo, me sinto uma formiga, carregando minhas pautas.
Temos várias pessoas em posição de comando hoje que estão altamente defasadas em relação à ciência. Há muita gente tentando remendar modelos ultrapassados e tratando quem traz um paradigma mais atual como ignorantes. Precisamos ocupar esses lugares. Recentemente estive em uma reunião com a Cetesb [Companhia Ambiental do Estado de São Paulo] sobre mudanças de normas de compostagem. A Cetesb é um órgão técnico, e eu sou uma pessoa do legislativo dando prioridade política para isso nesse momento. Os técnicos sabem que precisamos avançar na compostagem, e eu, que venho desse mundo, também sei, mas o resto da Assembleia [Legislativa de São Paulo] não sabe. Meu papel é “pinçar” esse tema e levá-lo para a esfera política. Estou ali [na Bancada Ativista] emprestando meu corpo para representar algumas causas socioambientais, principalmente a agroecologia, segurança alimentar, segurança hídrica, gestão de resíduos e também a saúde das pessoas, prejudicada pela poluição na água, ar, solo, alimentos e pelos produtos danosos que usamos cotidianamente. Tento levar essas causas para a política institucional porque estão subrepresentadas.
A jornada é prototipar, transformar em política pública, e depois pegar os comportamentos residuais e mostrar que eles não servem mais. É o que deve acontecer com o agrotóxico, por exemplo. A questão é saber quantas vidas humanas vamos destruir antes disso. Primeiro vêm uns loucos que plantam sem agrotóxico, fazem agrofloresta e agroecologia. Uma série de pesquisas apontam que eles são mais bem sucedidos. Mas, em grande escala, o agrotóxico continua sendo sustentado à base de subsídio e isenção de impostos, deixando o trabalho e a despesa para o produtor orgânico. Quem planta com veneno não precisa de certificação. Quem planta sem veneno tira do bolso três mil reais por ano para a certificação e não consegue financiamento bancário, que só é dado quando o produtor comprova que comprou os insumos – que são adubo químico, agrotóxico e semente transgênica. Se o produtor chega no banco e diz que conseguiu fazer a própria semente e o próprio adubo, e que não precisa de agrotóxico porque tem plantas saudáveis, o financiamento dele é rejeitado. Existe toda uma máquina estatal impulsionando e regulamentando uma coisa tão antiética e perniciosa como o uso de veneno. A fase umdo ativismo é prototipar: pessoas que, contra tudo e todos, conseguem produzir comida sem agrotóxico. Depois, vem a fase da argumentação: mostrar que pesquisas feitas no mundo inteiro apontam que essa forma é mais produtiva, eficiente, e que agrotóxico é cancerígeno; e, ao mesmo tempo, enfrentar toda uma série de pesquisas financiadas por quem produz agrotóxico para tentar mostrar que ele não é um problema. Em seguida, vem a terceira fase: se o cigarro, que dá câncer, tem uma taxação alta, que tal colocar uma taxação crescente no agrotóxico e criar linhas de crédito para financiar a transição agroecológica? O banco pode dizer ao produtor: “Este ano, vamos te dar o financiamento, já que você comprou adubo químico, veneno e semente transgênica. Mas no ano que vem, se você não comprar nada disso, vamos dobrar seu financiamento”. Por fim, os países, como alguns no mundo já fazem, devem acabar proibindo o uso de agrotóxicos.
RECOMEÇO
Como permacultora, tento observar e imitar a natureza. Na natureza, a cobra troca de pele quando deixa de funcionar, e abre espaço para outra pele por baixo. Acredito em ir tirando o foco da estrutura que existe e ir construindo a outra. Economia participativa, outras moedas, outros sistemas de produção e troca que estão fora do mercado. A minha grande utopia é que água e comida não sejam mercadoria. Isso é um direito humano. Porque colocamos um preço e dizemos que quem não tem dinheiro não irá comer hoje? Minha forma de construir essa utopia é produzindo comida que não é mercadoria e não tem preço. Olho para o sistema e vejo que ele vai ruir – inclusive o clima. Nosso papel é ir construindo alternativas para que, quando isso acontecer, tenhamos uma estrutura nova.
Mas não vamos ganhar todas as lutas. E a história não é linear. Há uns trinta anos, veio a questão do “fim da história”, como se estivessem resolvidos os problemas da humanidade em final feliz. Tem muito retrocesso, e aí o ativismo recomeça. A diferença é que o mundo em que minha bisavó vivia englobava a agricultura urbana. Isso era uma atitude normal. Ao mesmo tempo, o mundo dela não contemplava mulheres em espaços de poder. Então hoje ela poderia achar o conteúdo meio ridículo, mas acharia a forma bacana. Ela gostaria de ver que é a sua bisneta que está liderando esse movimento, sendo que no tempo dela eram os homens que lideravam.
Keila Simpson
Travesti e ativista
O que é transformação? Como e quando ela ocorre? Afinal o que queremos transformar? O que nós transformamos e o que transformamos em nós? Na palavra em questão, transformação, pelo menos três palavras atravessam a pessoa ativista: trans, forma, ação. Colocar-se em movimento. Fazer e ser feito. Deixar-se ou não na forma. Longe de dar respostas, as perguntas movimentaram corpo e pensamento de Claudia Visoni, Keila Simpson, Teca, Fabio Paes, João Marcelo, Lula Trindade e Tio Antônio e orientaram o comentário final de Ana Biglione.

TRÍADE
Eu represento um movimento [de pessoas trans e travestis] que está em constante conflito com a sociedade – e não porque faz conflito, mas porque a sociedade traz o conflito para dentro desta comunidade. Precisamos sempre entender que a sociedade lá fora é conservadora e muito violenta. E isso tem um motivo. Por que observamos essas violências chegando de forma tão forte, em particular para a população trans? Porque essa população resolveu não só se transformar, como também ousar. Já é uma ousadia para a sociedade que uma população considerada abjeta na sociedade queira ter voz. Pois elas tiveram voz. E é considerado mais absurdo ainda que ela queira ter vez. E aí essas pessoas tiveram, sim, vez. E, para uma sociedade violenta e discriminatória, é uma ousadia ainda maior que elas cheguem a lugares de poder. E elas chegaram. Obviamente que ainda não alcançamos a potência de que necessitamos, mas nosso percurso por essa tríade – romper um lugar de exclusão, conseguir sobreviver e se resguardar e continuar fazendo a transformação da sociedade – é algo muito difícil de digerir para quem tem a população trans como abjeta.
SEMENTE
Estamos fazendo uma importante transformação na sociedade. Estamos preparando uma sociedade brasileira não para nós que estamos aqui, mas para a geração que virá depois de nós. Quando sairmos deste plano, as pessoas que virão depois da gente irão experienciar a transformação que conseguimos fazer neste país. Até o início dos anos 1990, aqui em Salvador, onde moro, uma travesti que saísse à rua com vestido ou saia era presa somente por estar vestida assim. Hoje, essas pessoas não só podem sair da forma como quiserem, mas também ter o nome e o gênero que quiserem. É óbvio que isso é um grãozinho de areia em meio à transformação que precisamos fazer, mas são avanços que vão continuar. Conseguimos plantar uma semente, contaminar uma sociedade com direitos que foram negados desde sempre. As pessoas que agarraram esse direito, com a gana que tinham, depois de nunca ter tido nada, disseram: “Não vamos voltar atrás. Vamos ter empecilhos, nossa vida vai continuar na berlinda, nossa vida ainda vai ser muito difícil, mas a gente não vai retroceder”. Acho que essa transformção contínua é o que a população trans está reivindicando e é o que ela vai fazer da sua vida o tempo todo.
ÂMAGO DA SOCIEDADE
Não vai passar. Não é uma transformação que tem final. Nunca nos transformamos o suficiente. Se a transformação fosse uma máxima, talvez seria “continuar se transformando”. Não é um projeto de reforma de uma casa, que tem começo, meio e fim. É um movimento contínuo, pois estamos lidando com seres humanos, que são seres cuja dimensão exata não conseguimos compreender. E, cada vez que as pessoas não conseguirem compreender a dimensão humana que as pessoas trans têm, estaremos preparadas para transformar aquela mentalidade, para que a sociedade possa entender que é plural e diversa.
É muito maior que lutar por direitos. Se os direitos, por si só, bastassem… Temos diversas leis no Brasil que resguardam pessoas, órgãos, e nem sempre são respeitadas. O direito garante algumas conquistas, mas a verdadeira transformação só será feita quando a humanidade entender que ela é responsável por essa transformação. É muito mais profundo e amplo. É preciso atingir o que há de humano nas pessoas, para que elas se percebam no mundo como seres humanos e, a partir desse reconhecimento, entendam que a vida do outro é tão valiosa quando a delas. Estamos passando por um momento muito difícil no Brasil, em que se ataca pessoas por divergências partidárias, de credo, de classe, de raça. Que humanidade é essa, de pessoas que conseguem destilar tanto ódio, tanto rancor, tanta violência para com seu semelhante? O fundamental é atingir o âmago da sociedade e do ser humano e poder dizer: “respeite o outro como o outro é”. Se não conseguirmos transformar os seres humanos – a humanidade –, as leis por si só não vão garantir muita coisa.
TAREFA DO MOVIMENTO
E de que forma atingir a humanidade para uma transformação tem interface com conquista de direitos? Um exemplo é a conquista, muito nova, da retificação de nome e gênero de pessoas trans. Como o ganho jurídico que tivemos com essa ADI [Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.275 [1]] ajuda o meu diálogo com a sociedade? Ao chegar no meu trabalho e apresentar o meu documento com nome e gênero retificado, estarei lidando com um outro ser humano. Se eu não tiver a possibilidade de educar aquela pessoa para que ela possa me respeitar segundo o gênero e nome retificados que constam ali, eu não estarei fazendo meu papel. Não estarei mobilizando a humanidade da outra pessoa na minha frente. Muita gente destrata quem tem retificação de nome por desconhecimento ou alguma ortodoxia moral e religiosa, mas não o faz exatamente por maldade. Meu papel é orientar as pessoas que estão ali, na sua labuta, para que elas possam humanizar a pessoa que eu sou, e informá-las de que essa decisão [da ADI], embora para elas não valha nada, para mim vale muita coisa. Ser chamada pelo nome feminino e pela identidade de gênero que represento socialmente faz, para mim, uma grande diferença, ao passo que, se ela me chamar pelo nome masculino de um documento não retificado, vai me causar um grande sofrimento.
[1] Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que pessoas trans podem alterar seu nome e gênero no registro civil sem que se submetam a cirurgia ou tratamento hormonal.
Nossa prática do dia a dia é essa: fazer com que as conquistas legais apareçam, mas seguir apostando também na formação humana do dia a dia, que caminha conjuntamente com essas ações. Temos que dialogar com as pessoas, humanizar mais as relações, fazer mais didaticamente nossa tarefa enquanto movimento. Sei que é difícil estar constantemente formando e informando as pessoas, mas se quisermos mesmo promover a transformação, teremos que passar por esse processo. Nenhuma pessoa do Brasil, talvez nem mesmo um jurista, consegue ler o código penal do país de A a Z. Então, não temos como esperar que uma legislação, principalmente uma que é tão jovem, seja assimilada tão rapidamente por todos.
Certa vez fui procurada por uma moça que havia ido ao posto de saúde. Ela não tinha retificação de nome, só o nome de registro e a carteirinha do SUS [Sistema Único de Saúde] com o nome social. A atendente disse que iria se comunicar com ela pelo nome de registro porque era o que estava na identidade. Ela ficou muito angustiada e constrangida porque, é claro, não conhecia nenhuma forma de lidar com aquela situação. Iam chamar um nome de homem, e ia levantar uma mulher. Ao chegar no posto de saúde, conversei com a atendente, que era uma senhora de meia idade. Peguei os dois documentos da moça e falei “bom dia, tudo bem? Meu nome é Keila e vim conversar um pouco com a senhora. Sou amiga desta moça aqui, que veio fazer uma consulta. Ela tem o documento oficial, onde figura como cidadã, e ela tem esse outro documento de nome social, que é uma conquista nossa no Sistema Único de Saúde. As pessoas sentem constrangimento quando, na sala de espera de qualquer serviço de saúde, chama-se um nome masculino e levanta uma mulher”. Ela ficou um pouco arredia, então emendei: “Não estou aqui para atrapalhar seu trabalho. Quero apenas dialogar um pouco com você. Você gostaria de estar em um ambiente para tratar sua saúde, e ter que atender quando alguém chama um nome masculino?”. Pedi para ela virar o computador para o lado e digitei o número do cartão do SUS da moça que estava comigo. Mostrei como era simples registrar o nome social dela na ficha. A atendente virou para mim e disse: “É, tudo bem. Foi tranquilo”. Imagine se eu tivesse chegado lá gritando, dizendo “você vai ter que me atender de qualquer forma, é meu direito!”…
Desenvolvi essa visão quase que individualmente. Sempre fui muito observadora em todos os meus anos de ativismo e percebi que formas mais enfáticas e impositivas de pedir algo para alguém talvez não sejam muito bem recebidas. Precisamos pensar diferente. Sei que é muito difícil fazer isso, mas sempre chamo a atenção para o fato de que o Brasil tem dimensão continental. As leis têm diferentes interpretações. Temos que fazer nosso trabalho com as pessoas. Fui compreendendo que essa forma mais didática de lidar com as pessoas, de humanizar esse relacionamento, é muito mais simples e proveitosa do que o grito pelo grito. O sistema de saúde, por exemplo, já está tão afetado por violências, e as pessoas que trabalham lá já estão também tão completamente violentas – têm seus problemas em casa, depois chegam lá e têm que enfrentar aquela fila enorme de pessoas… isso não é justificativa, e concordo que os funcionários públicos têm que tratar todo mundo bem, mas eu entendo o lado das pessoas.
Tenho 54 anos. Não quero retificar meu nome, nem meu gênero. Por quê? A cada vez que interagir com alguém e entregar meu documento com meu nome de registro, e a pessoa ver que tenho aparência feminina, fenótipo feminino, ela terá que me respeitar no gênero feminino. Ela terá que respeitar quem está dialogando com ela, e não o documento que está na mão dela. O documento é apenas um pedaço de papel plastificado. E o ser humano que está diante dela sou eu. Ela vai dar mais importância para o quê? Pode ser difícil lidar com o ser humano, mas temos muito mais a ganhar com o diálogo.
INDIVÍDUO E COLETIVO
Algumas pessoas têm impossibilidade de acessar movimentos sociais mas também conseguem fazer uma transformação. Antes de termos cotas de gênero nas universidades, quantas pessoas trans se formaram, mesmo sem fazer parte de algum movimento. As meninas trans que vão para a Europa, por exemplo, e conseguem fazer uma transformação em nível individual, acabam contaminando outras pessoas com essa mesma chama de possibilidade. Com todas as adversidades, essas pessoas conseguiram fazer uma mudança na vida delas, na sua comunidade, na sua individualidade, na sua casa. Elas também podem ser vistas como transformadoras. A transformação da sociedade vem pela coletividade, mas as trajetórias individuais que desempenham um papel nesse processo representam um início que, lá na frente, vai se juntar a essa massa. Aí poderemos dizer: “agora caminhamos, de nome e de fato, juntas”.
Mas acho que quem vai se destacar de fato na transformação futura da humanidade é quem pensa e trabalha coletivamente, como esses coletivos tão diversos que temos no Brasil. A coletividade traz uma força maior de pessoas, pensamentos e até de críticas. Há uma diversidade e divergência de ideias, mas convergência para um bem maior. Cada pauta específica, reivindicada por um coletivo, tem sua importância. O movimento LGBTQI+ no Brasil é muito recente, tem seus 40 a 45 anos, e temos um histórico muito recente de organização e luta. Vivemos, no Brasil, uma conjuntura nacional muito estranha, mas vamos nos coligar com quem caminha coletivamente. Nunca mais poderemos nos referir a esses movimentos como minorias!
Esse é o momento de transversalizar nossas pautas coletivamente. Se não, ficamos muito ao redor do nosso umbigo, atuando para nossa comunidade, e não conseguimos interagir com a diversidade rica que é esse movimento social brasileiro e as organizações da sociedade civil. É muito importante dialogar com as pessoas – elas ouvindo minha voz, e eu a delas.
Existe uma diversidade de corpos aparecendo hoje no Brasil, uma série de novas possibilidades de corpos dissidentes. Hoje temos pessoas se identificado nem como homem, nem como mulher – a população não-binária –, meninos que têm barba e usam saia, meninas que querem usar roupa masculina… Quem vai fazer a verdadeira transformação no universo LGBTQI+ são esses corpos dissidentes. São expressões que começam na individualidade, mas logo encontram lugar coletivo para se juntar. São eles que vão demarcar que mundo queremos, que Brasil veremos daqui 10 anos. É essa diversidade que vai nos dar a exata medida da transformação que queremos fazer.
GERAÇÕES FUTURAS
Precisamos permitir que as gerações que virão depois de nós, transformem o país para outras coisas, e não para isso que estamos transformando agora. Isso [trabalhar para as próximas gerações] não é um sacrifício. É o que me motiva cada vez mais. Quem chegar depois de nós vai experimentar a transformação que estamos promovendo hoje. Vou viver mais 46 anos – serei uma travesti centenária! – e nesses 46 anos, trabalharei todos os dias da minha vida para que as populações que venham depois da gente possam, cada vez mais, ter seus direitos. Quando cheguei nesse plano, não havia nada. As pessoas eram expulsas de casa por serem trans. Agora, vemos mães e pais de pessoas trans defendendo suas filhas e filhos, na rua, na televisão. Me sentirei muito feliz ao sair desse plano, ir para um plano superior e ver que quem virá para esse mundo não será mais presa ao sair com roupas femininas, poderá ter o nome que deseja em seu registro quando e como quiser, terá uma escola mais sensibilizada para acolhê-la, uma família mais sensibilizada que não a expulsa de casa. A conjuntura pode estar em um processo difícil, mas muitas pessoas estão completamente transformadas e engrossam o coro da nossa luta. Hoje, não somos mais uma população sozinha no mundo. Nem quero e preciso ser celebrada no futuro. Não vou estar aqui mesmo para saber! Tudo que fiz nessa vida é por mim também. Só quero que a possibilidade de viver livremente prevaleça. Partirei desse plano muito satisfeita sabendo que, na minha passagem aqui, coloquei um tijolo nessa construção de Brasil que estamos fazendo. Estamos começando a construir um novo horizonte para a população LGBTQI+, em particular para a população trans. Na verdade, estamos agora construindo um Brasil para as pessoas trans.
Maria Tereza Viana de Freitas Corujo (Teca)
Ambientalista
O que é transformação? Como e quando ela ocorre? Afinal o que queremos transformar? O que nós transformamos e o que transformamos em nós? Na palavra em questão, transformação, pelo menos três palavras atravessam a pessoa ativista: trans, forma, ação. Colocar-se em movimento. Fazer e ser feito. Deixar-se ou não na forma. Longe de dar respostas, as perguntas movimentaram corpo e pensamento de Claudia Visoni, Keila Simpson, Teca, Fabio Paes, João Marcelo, Lula Trindade e Tio Antônio e orientaram o comentário final de Ana Biglione.

PERTENCIMENTO
Sou uma ambientalista que atua em defesa de lugares de Minas Gerais que estão ameaçados ou já impactados por mineração. Comecei num movimento, em 2001, o SOS Serra da Piedade, que é onde eu tenho meu pertencimento. Eu vivia no sopé daquela serra, como artesã de brinquedos educativos, uma vida toda alternativa, indo de 15 em 15 dias à cidade, tudo construído na busca de um novo jeito de ser e de viver. Em 2001, numa audiência pública em Caeté (MG), eu, que não tinha a menor noção do que era mineração, cheguei à constatação: “Como assim? Este lugar aqui é tão especial. Como querem minerar esta serra e destruí-la?” Nestes anos todos, minha atuação se dá, além do SOS Serra da Piedade, no Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela e no Movimento pelas Serras e Águas de Minas (Movsam), que é uma articulação de vários grupos. Participo também da Articulação Popular São Francisco Vivo e da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale.
GANDARELA
O Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela tem uma luta árdua, de grande magnitude. Gandarela é a última serra onde a Vale tem um filão de minério e de água gigantesco. Ali a Vale está tentando desde 2007 implantar o projeto da mina Apollo, onde poderia centralizar todo seu staff e suas operações em Minas Gerais, e não desistiu disso. Tem sido uma longa história. Lutamos pela implantação de um parque nacional, e tentaram engavetar. Em 2014, foi criada a unidade de conservação, mas que deixou de fora o lugar em que a Vale quer fazer a mina. Em 2019, vimos o sinal de que a Vale está preparando uma próxima tentativa. Para o abastecimento de Belo Horizonte, com a perda do rio Paraopeba [por conta do crime da Vale em Brumadinho], cada vez mais a Serra do Gandarela adquire um valor fundamental. Trata-se da última grande fonte de água do território. O aquífero gigantesco da Serra do Gandarela, por si só, já era para estar livre de ameaça. Infelizmente, neste cenário atual, os atores que deveriam fazer o que tem de ser feito só continuam atuando em prol da atividade privada da mineração.
SURPRESA
A gente não compartilha estratégias, porque a gente sabe que nossos inimigos estão sempre atentos e adoram ficar mapeando o que a gente faz. Eles devem ficar surpresos em ver como nós conseguimos fazer tanta coisa. Pois as empresas têm tudo na mão: salvo exceções, elas têm prefeituras, câmaras, governos estaduais, governo federal, os sistemas de gestão, o judiciário, a mídia. Para elas, nós devemos ser sempre um ponto de interrogação: como conseguem tanto, se nós dominamos tudo?
SEM CARTILHA
Não existe formato (de atuação] – e isso eu acho maravilhoso. Porque quanto menos houver formato estabelecido, mais difícil fica para que eles possam nos mapear. A gente avalia o momento, vê o que dá para fazer, divide quem pode fazer o quê, como pode, quando pode, da forma que pode etc. Eu vi ao longo desses anos muitas iniciativas se perderem em suas trajetórias porque escolheram formatos mais arrumadinhos. No nosso caso, não há uma cartilha, e as lógicas variam de ações ligadas à visibilidade e à mobilização até ações de caráter jurídico ou técnico. Sempre tem gente técnica nos movimentos, que não têm tempo de ir para a rua, mas que ajuda com a fundamentação.
PERSPECTIVA
Quando se conhece como essa ameaça opera, quais são seus objetivos, onde ela quer chegar, quais são os seus alicerces, a gente vai percebendo que a mineração éinconciliável. Em nenhum momento, até hoje, conheci alguma proposta de mineração conciliável com o desejo de os lugares não serem impactados. Ser “contra” a mineração não é uma bandeira que se adotou por questões ideológicas, no sentido puro. É porque a atividade minerária não tem nada a ver com outras perspectivas de geração de prosperidade e de paz. A idéia de “tempo” para a mineração é o aqui-e-agora, o lucro máximo já, não importa o quê. A nossa perspectiva é a do pertencimento ao ambiente e à paisagem, aos nossos estilos de vida, aos nossos sonhos de futuro.
BEM COMUM
Minerar é tão impactante que deveria ser baseado em outras premissas. Estou indo além da idéia de “soberania nacional”. Para mim, mexer no meio ambiente ou no subsolo com atividade de mineração teria de ocorrer apenas e absolutamente quando fosse necessário para o bem comum. A quantidade e diversidade de impactos no ar, no solo, na água, na paisagem, na saúde é tão alta que se deveria extrair só o estritamente necessário do bem mineral, de maneira que cause o menor impacto, e reaproveitando tudo de modo a que nunca mais seja preciso mexer de novo naquilo. Nada a ver com a economia, mas com o impacto nas pessoas e no ambiente. É o que deveria estar sendo feito.
PARAR TUDO
Agora estamos aí com essa crueldade da questão das barragens. Como é que se pode cogitar, depois do que aconteceu em Mariana e depois do que aconteceu em Brumadinho, que as minerações continuem sendo licenciadas a rodo, quando a primeira coisa que tinha de ser feita, a nosso ver, era parar tudo? Aqui no Quadrilátero Ferrífero [1] há mais de 200 barragens, cuja noção de estabilidade perdeu qualquer sentido, porque as duas últimas que romperam não tinham estabilidade garantida. Parar isso já teria que ter acontecido de imediato. Uma tragédia da proporção desses dois crimes exigiria uma mudança imediata de atitude. Essa é uma transformação para a qual valeria a duras penas batalhar. Não poderia haver mais nenhuma barragem operando, e não só aquelas que estão a montante, qualquer uma. Resumo da ópera: a qualquer momento podem acontecer novas tragédias, e maiores.
[1] Quadrilátero Ferrífero é a região mineral existente no entorno de Belo Horizonte. O território de cerca de 7 mil quilômetros quadrados abrange 27 municípios e concentra a maior parte das jazidas e lavras de minério de ferro de Minas Gerais.
ALTERNATIVAS
Num nível mais profundo, a transformação que nos move é saber que há outras formas [de viver]. Não é verdade que nós precisamos de uma economia baseada em exportação de commodities; não é verdade que estamos melhores, prósperos ou desenvolvidos por causa da mineração. É só olhar à nossa volta, há números e dados. Sabe-se que os municípios que têm sua economia baseada em mineração não são lugares com qualidade de vida, onde as pessoas estão felizes. Ao contrário. Há uma grande falácia, um grande marketing e muita mentira sobre a “importância da mineração”. Esses territórios, onde a mineração diz ter chegado como se antes não houvesse nada, tinham outras perspectivas. Nós temos alternativas mil para, nesses lugares, termos uma divisão de renda mais justa.
DOR
Eu estava em Caeté, e quando meu irmão disse: “Teca, rompeu uma barragem em Mariana”, caí num choro convulsivo. Porque, quando você luta muitos anos sabendo do monstro com que você está lidando e de tudo o que ele pode causar, quando acontece aquilo contra o qual você lutou tanto, você não tem palavras para descrever a sensação – porque não precisava ter acontecido! A gente falou, a gente disse, a gente sabia. Quando você tem esse cenário, a dor é gigantesca. Não é só a dor da perda do rio, do sofrimento, da dor das pessoas. É a dor de se ter a certeza absoluta de que aquilo não era para ter acontecido!
BRUMADINHO
No caso de Brumadinho, já vínhamos acompanhando há anos que a a Vale não cumpria as condicionantes. Nós conhecíamos a verdadeira face daquele complexo, e nesse caso, tentamos tudo o que se podia para evitar aquelas licenças. Nós não sabíamos que a barragem estava com problema, pois o tempo inteiro tanto a Vale como o Estado afirmavam que havia um ótimo controle. Mas nós tínhamos certeza de que ali havia coisas mal resolvidas. Sabíamos que a continuidade daquele complexo teria de ser avaliada de uma forma sistêmica e muito mais embasada. No dia 11 de dezembro de 2018, [2] numa reunião com muita gente da comunidade – do lado de lá, o empreendedor atestando que estava tudo perfeito e incrível, desconstruindo e dando respostas esfarrapadas ao que a gente alegava – , houve votação e foram dadas as três licenças de uma vez. O que fez ficar sem chão a turma de lá, porque era tão surreal que tanta coisa errada fosse licenciada. Quando você sabe tudo o que o prefeito podia ter feito e não fez, tudo o que o Estado podia ter feito e não fez, então se tem a certeza absoluta de que aquelas pessoas não precisavam ter morrido. É muito duro.
[2] Pouco mais de um mês depois, em 25 de janeiro de 2019, a barragem do complexo se rompe em Brumadinho.
CRUELDADE É surreal. É irracional. Existe um sistema incrustado, tipo um câncer maligno. O pessoal de Casa Branca (Brumadinho), anos atrás, cunhou o slogan: “Mineração, um câncer no seio das Gerais”. As raízes desse sistema são tão fortes que nada mudou. Num primeiro momento depois das tragédias, o sistema se recolheu, mas agora já está de novo em ação. A Vale consegue aproveitar até momentos cruéis como este. Agora percebeu que a legislação permite que obras emergenciais sejam feitas sem nenhuma licença, só com a apresentação de aspectos técnicos. É maquiavélico. Enquanto nas minas de Brucutu (Barão de Cocais) e Cauê (Itabira), onde havia liminar para parar as operações na justiça, a Vale usou seu séquito de advogados e laudos para provar que poderia voltar a operar, em Barão de Cocais Sul-Superior e em Macacos (Nova Lima), ao contrário, fez questão de pagar multas altíssimas e descumprir os prazos para manter a situação em ponto de interrogação sobre a estabilidade das barragens. Quando a gente começa a observar isso, dizemos: “tem coisa aí!”. Por que em Gongo Soco (Barão de Cocais) ela está deixando a situação assim, e ela mesma é quem comunica a Agência Nacional de Mineração de que o talude estava se movendo (mentira, ela sabia desde 2012) e concatena tudo, dizendo que a barragem iria romper, definindo inclusive a data de rompimento, e depois entra naqueles dias com uma ação de tutela antecipada para poder fazer uma obra que está arregaçando a vila de André do Mato Dentro (Caeté)? Eu não tenho dúvida de que a Vale planejou tudo, tanto é que ela já tinha contratado o que precisava para fazer a obra e planejou o dia de comunicar que a barragem iria romper – uma coisa de uma crueldade gigantesca.
PPT
Eu tenho uma apresentação de powerpoint feita pela Vale quando quis licenciar uma megabarragem em Nova Lima (na zona de inundação alguns dos moradores tinham apenas 9 segundos para se salvar; mesmo assim a barragem foi licenciada em 2016, um ano depois do rompimento da Samarco em Mariana). Nessa apresentação sobre o programa de emergência em caso de rompimento aparece lá: “Construindo comunidades mais resilientes”. Com esse título. Ora, o que estão fazendo nos territórios por causa das barragens é treinando a população para se tornar mais “resiliente”. O sentido é: “Eu vou continuar operando, vou continuar numa boa, vocês que se acostumem.”
MÁSCARA
Infelizmente essas tragédias podem ser uma mola propulsora, no sentido de mostrar a verdadeira face da mineração. Com esses crimes que aconteceram, mesmo que as pessoas ainda estejam subjugadas, percebe-se que a caixa-preta da mineração está se abrindo. Infelizmente às custas de muita crueldade, está caindo a máscara de uma atividade econômica que sempre ocultou a mentira do que significava.
LUTA CONTÍNUA
Aí eu pergunto; puxa vida, esta luta nunca termina? A gente não tem de ter a expectativa de que vai terminar amanhã. A escravidão econômica, a escravidão de poder, uma contaminação de todos os espaços, nos domina desde a época em que chegaram os bandeirantes neste território abençoado de lindo, com milhões de indígenas, perfeito intacto, belíssimo. Quando se avalia como foi a luta contra a escravidão, contra a inquisição, a história da humanidade, as transformações de modelos postos como paradigmas consolidados – por mais que fossem violentos e cruéis, e talvez por isso mesmo —, vemos que essas transformações são lentas, demoradas e sofridas.
Fábio Paes
Ativista pelos direitos das crianças e adolescentes
O que é transformação? Como e quando ela ocorre? Afinal o que queremos transformar? O que nós transformamos e o que transformamos em nós? Na palavra em questão, transformação, pelo menos três palavras atravessam a pessoa ativista: trans, forma, ação. Colocar-se em movimento. Fazer e ser feito. Deixar-se ou não na forma. Longe de dar respostas, as perguntas movimentaram corpo e pensamento de Claudia Visoni, Keila Simpson, Teca, Fabio Paes, João Marcelo, Lula Trindade e Tio Antônio e orientaram o comentário final de Ana Biglione.
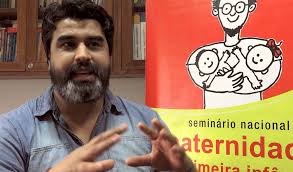
O OUTRO
Nasci em Santa Catarina, numa cidade serrana chamada Lages. Venho de uma família campesina produtora de feijão, milho e produtos para o autossustento, no sistema de produção em mutirão comunitário, aquilo de plantar junto, de colher junto, de comer junto e envolver-se com os diversos personagens que compõem o mundo campesino: andarilhos, peões, donos de terra. Cresci assim. No entanto, hoje sou da cidade, e essa trajetória na infância foi fundamental porque vivi a experiência da importância do outro.
Meus pais foram líderes comunitários da igreja local, visitando doentes, fazendo formações, promovendo círculos bíblicos, reuniões, formações etc. Essa identidade cristã pensando no outro é um DNA em mim.
Foi assim que conheci algumas referências do franciscanismo. Na cidade havia um franciscano que tinha um programa na rádio e na TV e que era um mobilizador nato. Conseguia reunir muitas pessoas em atos e procissões. Suas palavras convocavam as pessoas a mudarem de vida. Era mais do que um agente cristão: era um agente transformador, uma referência de comunicação e mobilização. Isso me atraía muito. Eu admirava essa capacidade de referência política e social.
ATEU
Fiz filosofia e teologia. No seminário, eu me perguntava: como posso não acreditar nesse Deus barbudo, nesse Deus ritualístico da Igreja e assim mesmo querer estar nessa vida? Entrei para o Aspirantado, depois fui para o Noviciado, que é um ano que você fica retirado do contato das pessoas, da família – é o chamado tempo de conversão, de provação. Você recebe um hábito franciscano e trabalha, reza, medita e estuda, vivendo muitas vezes em lugares ermos.
E foi assim que eu me descobri um ateu. Não acredito em Deus, não acredito em rituais, não acredito nesse modo de fazer da igreja, então me considero um ateu. Retirei meu hábito e procurei meu mestre, expliquei o que se passava. Meu mestre, que é muito sábio, baseado na realidade e na simplicidade, me perguntou por que eu estava ali. Não foi difícil de responder, pois o motivo era o personagem histórico de Francisco de Assis, que me impactava e me dava referências.
NO TERRITÓRIO
Desde que eu me juntei aos franciscanos, sempre me aproximei das pastorais de cunho comunitário e relacional e sempre fui para o trabalho com as pessoas e com o território. Nunca escolhi ser sacristão de uma paróquia ou responsável por cultos. Morei em Agudos (SP) dos 14 aos 16 anos: eu ia para a comunidade com o violãozinho nas costas, o jornal e a bíblia. Fazíamos os chamados círculos bíblicos, líamos a bíblia, cantávamos, líamos sobre a realidade local, sobre o que estava acontecendo no mundo, discutíamos problemas internos e ali íamos criando uma roda de convivência, um intercâmbio, assumindo pequenos projetos.
Nas minhas férias, eu sempre participava de alguma experiência em movimentos e projetos sociais. Fiquei dois meses com o MST e Movimentos Campesinos no Triângulo Mineiro, depois fiz outra missão com o Movimento Pastoral da Terra em Rondônia. Na Amazônia trabalhei com povos ribeirinhos e indígenas; em São Paulo trabalhei em albergues no Glicério, próximo das pessoas em situação de rua, vivendo, comendo, dormindo com eles; e tive diversas outras experiências do campo social, sempre direto com as pessoas.
FREIREANO
A teologia da libertação veio com o próprio estudo da teologia. Comecei a me identificar mais com o que se chama teologia especulativa, que trabalha a questão da historicidade do cristianismo e de Jesus enquanto um fenômeno cultural, social, político, religioso (de sua época) e histórico, desvestido dessa cultura romana herdada de um Deus sobrenatural. Foi de uma maneira natural que eu comecei a me identificar com as obras de Leonardo Boff e seus professores. Esse Jesus fazia sentido!
Em Petrópolis, fui morar em uma favela, no último de 400 degraus. Lá permaneci por quatro ou cinco anos. Na semana em que cheguei, voltando da faculdade de teologia, fui abordado por um grupo de crianças que me viram subindo, me arrastaram para o mato e me mostraram uma poça de sangue. Relataram que os policiais mataram e arrastaram para ali os corpos de dois adolescentes ligados ao tráfico – na verdade ligados à boca de fumo –, enquanto falavam para as crianças: “vocês serão os próximos”. Foi horrível, mas serviu como uma “educação’ sobre a comunidade. A partir desse dia, fiz um pacto na minha vida de que essa realidade, ou a gente transforma ou não dá para viver nela apenas assistindo ela passar. Fiz uma convocação pública, chamando todas as lideranças de adolescentes que tivessem algum projeto, alguma energia, alguma ideia, sem classificar em bom ou mau. Vieram meninos do tráfico, da escola de samba, da Igreja, meninos que não tinham nada. A questão era reunir todo adolescente que tinha algum incômodo ou que incomodava.
Comecei com uma roda, uma metodologia muito simples e intuitiva. Pedi para me apresentarem qual era a rotina deles ali onde moravam. Depois, sugeri que organizassem essa rotina e pensassem como ela poderia ajudar a transformar a realidade, transformar a vida deles. Disse para pensarem no que quisessem, que iríamos juntos potencializar essa rotina e nessa folha em branco poderíamos mudar a realidade social. Foi um estrondo. Chamamos a metodologia de “Tatos e Passos”, porque não sabíamos o que fazer, e acabamos criando várias ocupações em escolas e becos abandonados da comunidade, com teatro, poesia e intervenções de hip hop. Fizemos o primeiro festival de funk da cidade de Petrópolis, e do Rio de Janeiro, criando os critérios do bom funk (isso foi uma transformação!), fizemos um Centro Social numa antiga creche abandonada pelo Estado, reivindicamos um Posto de Saúde, fomos reorganizando a Escola de Samba que estava muito desorganizada e conectada ao tráfico.
Esse foi o projeto que criou minha identidade pedagógica, política e metodológica. Hoje analiso que, mesmo sem conhecer a fundo Paulo Freire, toda a perspectiva era freiriana. Fazíamos rodas de conversa, círculos culturais, percorríamos a comunidade fazendo mapeamento de demandas, criávamos os temas geradores, envolvíamos o território como território educativo. O foco era a autogestão, envolvendo adultos, crianças e adolescentes desde o início. Esse projeto foi uma grande escola para aquilo que vim a ser e sou hoje.
OSVALDO CRUZ
Em Petrópolis, acabei descobrindo o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que tinha o Leonardo Boff como presidente. Ali conheci diversos projetos com juventude, com moradores de rua, e também comecei a trabalhar no chamado Pão e Beleza. Eu atuava no bairro Osvaldo Cruz, que era conhecido como Canto do Cemitério. Por meio do Grupo Tortura Nunca Mais, escolheram o nosso projeto na comunidade como um caso exemplar de combate à violência. Imagina uma comunidade conhecida como Canto do Cemitério e todo mundo da cidade falar sobre seu território dessa forma. O cemitério entrava na comunidade a tal ponto que não havia mapa em identidade na Prefeitura. Tivemos que descobrir que o nome original era Osvaldo Cruz. Começamos a recuperar a história do território com as crianças e as famílias. Tudo era com eles, nada sem eles, a pesquisa territorial – com camiseta e prancheta – quem gerenciava eram eles, quem escrevia o projeto e a metodologia eram eles.
MAIS POLÍTICO
Eu levei tão a sério o princípio da justiça e da liberdade na vida e no meu projeto que não percebi que naquela época estávamos vivendo a Igreja do Ratzinger, Bento XVI. Fui procurado por uma pessoa do Vaticano, que disse que eu estava sendo convidado a sair da vida religiosa porque eu era muito mais um político do que um religioso e que isso era um perigo. Eu argumentei e perguntei: que Jesus você leu, se não é um Jesus político, cultural, social, transgressor? Conclui o curso de teologia e rompi com a instituição religiosa e franciscana daquela época.
ADVOCACY
Depois disso, fui fazer um trabalho com adolescentes e jovens. Era uma organização que trabalhava com acolhimento institucional. Eu fazia uma sensibilização, seguida de uma imersão em comunidades bem periféricas e precárias, onde eles tinham um choque de realidade. Depois que voltavam, faziam um projeto de intervenção comunitária; um projeto de desalienação, busca e observação da realidade. Criamos acampamentos sociais, trabalhando temáticas como política e filosofia. Eram cinco dias, com diversas periferias e projetos.
Foi então que fui contatado pelas Aldeias Infantis SOS Brasil, para trabalhar como assessor e pensar outras possibilidades no trabalho com a juventude. Nesse meu trabalho com as Aldeias, as crianças e adolescentes criaram uma rede, passaram a se comunicar, criar eventos, atos, começaram a ser críticos em seus territórios. Começaram a falar sobre mudança social, mudança de atitude e isso começou a movimentar muita coisa. A direção ficou com medo e me retirou dessa função, me “promovendo para outra área”.
Ainda nas Aldeias, participo do Conanda [Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente]. Saio do foco de gerência de projetos e programas e vou para o advocacy. Foi uma trajetória muito interessante pois novamente não optei pela institucionalidade, optei pela defesa e pelo compromisso. Criamos um grupo de articulação com organizações e movimentos progressistas que queriam mobilizar pessoas para a defesa de direitos. Essa trajetória teve muitos embates (seja com os grupos hegemônicos da Igreja até as grandes empresas maristas, salesianas etc). Criamos uma sinergia grande com os principais movimentos do país (Movimento dos Meninos de Rua, Cedeca [Centro de Defesa da Criança e do Adolescente], Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Movimento Nacional de Direitos Humanos etc) e fui indicado pela sociedade civil para assumir a presidência do Conselho. O Conanda conseguiu articular uma agenda de mobilização popular e fizemos a primeira conferência com maior número de crianças diversificadas e diversas, desde habitantes da fronteira até indígenas, quilombolas e LGBTs. Nessa agenda de pensar na diversidade, começamos a cunhar um termo chamado invisibilidade da infância: as infâncias invisíveis.
DEMISSÃO
Como presidente do Conanda, comecei a chamar todas a redes e os movimentos para articular essa agenda abandonada ou esquecida e estabelecer um compromisso de visibilidade. O MST, à luz desse chamado pela visibilidade, organizou um Encontro Nacional de Crianças Sem Terra. Eram 1.200 crianças. Como eles não tinham capacidade para executar as doações, pediram apoio às Aldeias e nós fomos a organização executora de uma emenda parlamentar para o evento. Foi um marco histórico. 1.200 crianças do Brasil todo em Brasília, com uma metodologia participativa, popular, contando com a presença de vários educadores e grupos, Justiça, Defensoria, Poder Público e Executivo. Naquele momento soubemos que o evento estava sendo vigiado por um grupo de ultradireita, que teve acesso aos materiais e criou um vídeo fake dizendo que estava havendo “doutrinação de crianças”. Ele editou as filmagens para dar essa conotação.
Em janeiro de 2019, na época do escândalo envolvendo o filho do presidente recém-eleito, a Rede Record fez uma reportagem de mais de 18 minutos falando de um Estado paralelo que manipulava crianças. Utilizaram imagens e falas de forma completamente diferente da maneira com que nós trabalhávamos. No final da “reportagem”, aparece o logotipo das Aldeias. Depois disso, duas pessoas ligadas ao Conselho Diretor da organização pediram minha cabeça, dizendo que eu era comunista, que eu era muito crítico e incisivo e que esse governo não precisava receber críticas.
Num encontro com mais de 80 representantes de movimentos de base, movimentos populares, coletivos e núcleos na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, o MST apresentou a situação da minha demissão e fez um ato e manifesto pela defesa do direito das crianças. Todas as organizações assinaram. Foi um pacto bacana. Agora, toda essa trajetória está convergindo para uma grande articulação nacional de caráter progressista e popular na defesa dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Nessa articulação estão os principais movimentos do país: crianças, movimento negro, quilombola, LGBT, MST, MTST, coletivos de periferia, organizações, mães de vítimas da violência do Estado, mães com crianças em creche, Marcha das Mulheres. O objetivo é organizar uma agenda porque não há hoje uma concepção de infância baseada na vida do povo trabalhador e dessas comunidades e grupos invisibilizados.
CURA
A transformação, para mim, tem cunho mais miúdo, mais cotidiano, mais direto, mais simples, mais real, mais concreto. É baseada na cultura, no modo como eu pego algo bruto e modifico para algo mais adequado, ou numa linguagem melhor; cultura como cultivo, quase artesanal, manual. Pego o barro, esse barro eu amasso, eu modifico, até que ele se transforme em um vaso, crie outra linguagem, outra perspectiva, uma perspectiva com objetivo, com valor agregado. Transformação, para mim, tem a ver com mudar a forma e, no campo político, isso significa mudar essa forma injusta, precária, doente. Por isso transformação não é criar algo novo, e sim curar, melhorar aquilo que já é.
TEIA DE CUIDADOS
É gratificante e impactante ver como essa dimensão simples de transformação traz vida, humor e vitalidade. Aqui podemos usar a palavra felicidade. Na vida das crianças e adolescentes, talvez o primeiro passo para a transformação seja a presença, o estar junto, o estar com elas. É o espírito de solidariedade. Essa capacidade de o outro sentir a presença é revolucionária na vida de crianças e adolescentes. Cito casos de meninos e meninas extremamente abandonados afetivamente, pelo sistema e pela família, todos dizendo “esse menino não presta”, “esse menino não tem jeito”. Na escola, a mesma coisa: uma lista de expulsões, advertências, conselho tutelar… Nem a Igreja quer saber desses meninos. Bastaria dizer: “oi tudo bem, estou aqui, quem é você?” Hoje vivemos em um mundo onde existe Lei, ECA, Sistema de Garantia de Direitos, e existe também um viés punitivo e judicializador das vidas, muito distante do cuidado, da relação direta, da transformação da vida.
Há o caso de um menino que passou 25 vezes pelo Sistema de Direitos, Creas [Centro de Referência Especializado de Assistência Social], Conselho Tutelar e Juizado — e foi morto. Por outro lado, há o caso de uma menina, que tinha um lugar na mesa da minha casa lá na comunidade, a comunidade que era uma grande teia de cuidado e proteção para ela. Quando chegava seis horas da tarde, a vizinha a chamava para fazer o dever de casa. Todos atuavam no cuidado. Ela não passou por nenhuma assistência institucional, mas tinha afeto e a comunidade como esse grande campo de responsabilidade, sem julgamento, sem criminalização. Hoje ela mora na mesma comunidade, está casada, tem um emprego. Que o mundo se transforme nessa teia de cuidado, mais do que em uma teia de sistemas, de processos, de leis, de tratados ou de projetos sociais. Estamos vivendo um momento em que é preciso voltar à simplicidade, às relações responsáveis. As relações comunitárias devem ser regadas com vizinhança. Isso é transformação.
João Marcelo Trindade e Luiz Cláudio (Lula) de Melo, do Somos Todos Muribeca
* A conversa contou também com a presença de Israel José da S. Filho, morador e fundador do Somos Todos Muribeca.
O que é transformação? Como e quando ela ocorre? Afinal o que queremos transformar? O que nós transformamos e o que transformamos em nós? Na palavra em questão, transformação, pelo menos três palavras atravessam a pessoa ativista: trans, forma, ação. Colocar-se em movimento. Fazer e ser feito. Deixar-se ou não na forma. Longe de dar respostas, as perguntas movimentaram corpo e pensamento de Claudia Visoni, Keila Simpson, Teca, Fabio Paes, João Marcelo, Lula Trindade e Tio Antônio e orientaram o comentário final de Ana Biglione.

MURIBECA
No início de 1982, a política habitacional tirou parcelas da população da região central do Recife para alocá-las nas periferias da cidade. Foi quando o Banco Nacional de Habitação (BNH) construiu os prédios de Muribeca, um distrito do município de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Os prédios, à época 70, totalizavam 2.240 unidades habitacionais e uma população residente de quase 9 mil pessoas. Após muita luta, veio a infraestrutura urbana de água, afastamento de esgoto, iluminação pública e transporte público.
O ano de 1991, devido à divulgação da possibilidade de se transformar Muribeca em ZEIS [Zona Especial de Interesse Social], foi um marco do crescimento da comunidade. Apareceram novas casas e comércios em construção desordenada (por assim dizer) do ponto de vista do planejamento urbano. Tanto a parte interna quanto a externa do conjunto habitacional Muribeca (espaços entre prédios, espaços destinados à circulação, estacionamento, etc…) foram ocupadas por imóveis. O comércio pujante atendia praticamente todas as necessidades dos moradores.
Por volta de 2003, após laudos apontando risco de colapso e sob a pressão de muitos protestos, a justiça decretou a desocupação de todos os prédios em troca de auxílio-moradia, que gerou êxodo da comunidade, exceto das famílias em posse irregular. Por volta de 2005, a Caixa Econômica Federal, tendo assumindo o antigo BNH, assume também a responsabilidade pelos imóveis, agora conhecidos como prédios-caixão. A demolição exigia um raio de área livre de 12 metros que, no caso de Muribeca, encontra-se toda ocupada por edificações diversas. Em 2015 a juíza manda demolir e todas as casas neste raio de 12 metros dos prédios são desocupadas com força policial.
Desconfiados do processo, das brechas e da jogada política contra o povo, alguns moradores começaram a se movimentar e estudar os processos e as artimanhas por trás deles. Tais moradores criam a associação Somos Todos Muribeca. Desde então, a luta por moradia digna, por justiça, por habitar um pedaço de chão onde uma história de vida se edifica tem sido a tônica do nosso grupo.
DESCONSTRUÇÃO [LULA]
Um exemplo de transformação está no contexto da desconstrução. Antes de enveredar para esses caminhos do ativismo, do senso comum de comunidade, eu tinha uma visão apenas de família. Aquilo que eu poderia fazer de bom, fazia para a minha família: minha mãe, meu irmão, minhas primas, etc. Se é da minha família, então eu vou ajudar. E, aqui no Somos Todos Muribeca, pude perceber que esse caminho pode vir a ser até nocivo, porque você acaba fazendo apenas pelos seus e o resto que se exploda.
O Somos Todos Muribeca transformou a minha visão a respeito daquilo que eu posso fazer: antigamente era mais limitado, mas hoje eu vejo a situação de forma mais ampla. E mudei muito também durante esses anos de relação com a região de Muribeca. Antes, minha percepção estava mais situada, era de mim, da minha rua para a comunidade. Mas isso vem mudando porque fui percebendo o entorno muito mais pela ótica da comunidade, pela ótica das igrejas, dos colégios, do lazer, do comércio, das necessidades de uma comunidade em si. Até então eu não fazia ideia do quanto é importante ter comércio aqui, um comércio local que movimenta a economia, que faz circular um dinheiro aqui mesmo em Muribeca. Não precisávamos sair para acessar o comércio, pois tínhamos tudo aqui. Eu não percebia o quanto é importante termos aqui tudo que nos era necessário. Até casa lotérica tinha em Muribeca.
CABULOSO [MARCELO]
Eu sou um cara que não consegue ficar parado. Sempre fui assim. Então, transformação é uma palavra recorrente para mim. Transformação é uma coisa que faz parte do ser humano porque o ser humano está em processo de transformação. Mas a palavra “transformação” está sempre mudando também. O oposto disso é estar sempre estagnado. Eu acordo com uma ideia em um dia e, no dia seguinte, já estou questionando essa minha ideia. Transformação é estar sempre se questionando: o que eu estou fazendo é legal? o que eu estou fazendo está ajudando apenas a mim? a minha família? a coletividade?
Desde pirralho eu sou “cabuloso” assim: questionador. Eu sempre achei que o sistema nos impõe um caminho que não é necessariamente correto. Acho que a desconstrução citada pelo Lula é por aí. Quando você questiona alguma coisa, você está desconstruindo e reconstruindo algo que você mesmo construiu.
[LULA] Que você mesmo construiu ou que te foi imposta. Que foi colocada para você ao longo de décadas de criação familiar, de escola, de igreja, etc. Dessas coisas que nos cercam enquanto sociedade. Esses padrões.
[MARCELO] Pois é. As igrejas que a gente frequentou, aquilo que você vê na mídia e das redes sociais… Os padrões da moda, sim…. Nós mesmos, inclusive, somos gente que passou por profundas transformações. Veja, por exemplo, as profundas transformações ocorridas nos veículos de informação. Aqui no Somos Todos Muribeca, vimos as transformações das revistas, dos jornais e da televisão, antes veículos quase que exclusivos, para o período das redes sociais por conta da popularização da internet. Questionar as coisas é perceber tais transformações e colocar as verdades em dúvida, é estar na suspeita, é não aceitar que existam verdades absolutas. Na minha opinião – não sei o que pensa o Lula – quem não questiona as coisas está morto. Questionar é um primeiro passo para transformar alguma coisa. Para dar um outro exemplo, não basta adotar as ideias de Paulo Freire; temos que adaptá-las, melhorá-las com a nossa prática. Porque na sua época ele mesmo fez um melhoramento naquilo que ele propôs; e nós, porque estamos vivos, estamos pensando e melhorando as coisas. Cabe a nós melhorar as coisas, transformar as coisas, mas a base são as ideias que Paulo Freire passou.
CONSTRUÇÃO [LULA]
A desconstrução da minha visão, que foi de dentro da minha bolha para a comunidade à minha volta, aconteceu como consequência da desconstrução do entorno. É bom destacar que as transformações aqui em Muribeca nos foram impostas, não foram uma escolha nossa. Isso tudo, desconstrução e construção, é mudança, é transformação. E o que mais importa é replicar a vivência que eu tenho tido nesses anos de Somos Todos Muribeca para que as pessoas compreendam o que é ser ativista. Há que se tomar cuidado, pois a postura questionadora muitas vezes é confundida como agressão, quando não é sobre isso. Precisamos desconstruir uma visão “criminosa” do ativismo, que todo ativista é um filhinho de papai, que é um drogado e não quer nada com a vida. Muita gente tem essa visão ainda, e não é por aí. Quero mostrar que lutar pela sua comunidade é ser ativista, que não apenas o Greenpeace ou o Somos Todos Muribeca são ativismos, mas que a pessoa que limpa a rua, que limpa a canaleta da rua inteira antes das chuvas, na medida em que melhora a comunidade, que melhora a vida das pessoas que moram ali, está fazendo um ativismo também. Neste sentido, todo mundo pode ser ativista.
[MARCELO] Lula falou uma coisa que me tocou. Disse que ele se transformou a partir das mudanças do coletivo, que as mudanças no coletivo afetam o pessoal dele. Quero continuar nesse raciocínio… Quando eu me transformo, e se for uma coisa boa, isso automaticamente transforma o mundo ao meu redor porque vai atingindo outras pessoas. Mas a transformação pode ser para pior. Então, me pergunto: o que é uma transformação boa? É aquela que atinge o coletivo, é aquela que melhora para a maioria. É mais ou menos assim que entendemos essa questão aqui no Somos Todos Muribeca, porque, sendo assim, não é mais sobre o Marcelo, o Lula, Israel… é sobre as mais de vinte mil pessoas que moram aqui.
COMUNIDADE [LULA]
Quero tornar as pessoas um pouco mais receptivas à coletividade. O senso de cidadania, de cuidado, de pertencimento à comunidade, identificação com a comunidade. Fazer com que as pessoas entendam que Muribeca é tua, é nossa, que a gente tem que cuidar dela. E que esse sentimento se replique para outras comunidades. Mas o que eu quero, partindo para o campo individual, é criar os meus filhos aqui como eu fui criado. Eu amo esse lugar, amo essa comunidade. Essa é minha casa. E a nossa luta principal é manter essa comunidade viva. Então não podemos esperar apenas a ação dos poderes públicos. Nós buscamos estabelecer parcerias com a Escola de Ativismo, com o Centro Popular de Direitos Humanos, com o Meu Recife, entre outros grupos que nos auxiliam.
O poder público só entende Muribeca pelo viés jurídico. Já são 13 anos nesse trabalho. Nos dez anos iniciais, nenhuma parceria externa chegou aqui. Fomos entendendo que nossa luta inclui o jurídico, mas vai além dele. Nossa luta é política, entendendo a política em sentido ampliado. Não aquela politicagem de fulano de tal que é amigo de um vereador e que pode quebrar um galho. Não é isso. Penso numa política que nos organize enquanto comunidade para chegar nos objetivos que traçamos – que são, basicamente, melhorar a vida. Então, quero mudar a visão das pessoas, trabalhar para ampliar a visão das pessoas a respeito do que é comunidade e do que é ativismo.
Eu quero mesmo é transformar um final trágico em um final feliz, justo e menos danoso. O que ocorrer aqui em Muribeca pode ocorrer em outras comunidades Brasil afora. Só aqui em Pernambuco, a Caixa Econômica Federal tem problemas com algo em torno de quase 6 mil prédios do tipo caixão, iguais aos aqui de Muribeca.
[MARCELO] Lula foi muito feliz nas colocações dele. Eu acrescentaria a importância de questionar. É importante que as pessoas comecem a questionar tudo e todos. Nesses últimos dez anos neste processo de Muribeca, muitas coisas deixaram de ser questionadas. Estou falando desde o morador do apartamento e o morador da casa até o pastor da igreja, o comerciante… além de não questionar, achavam que só a justiça resolveria o problema. Na verdade, não é assim, porque a justiça não entende as questões do povo. Ela não consegue entender a problemática, ela não consegue fazer a parte humana da coisa. A partir do momento em que o Somos Todos Muribeca começou a questionar “por que vai demolir sem dizer o motivo?”, “por que falar em demolição sem falar de indenização?”… não podemos baixar a cabeça e bater palma para o Judiciário e o Ministério Público. Essas instituições merecem nosso respeito, mas não devemos nos curvar a elas, temos que questionar.
PEDAGOGIA DA PERGUNTA [MARCELO]
Exatamente. A gente precisa questionar e se questionar o tempo todo. É incrível como que 15 mil, 20 mil pessoas que aqui viviam, como deixaram nas mãos de dez pessoas tomar conta de todo um destino. Não estou dizendo que elas fizeram pouco ou fizeram errado, não é isso. Elas fizeram com o que tinham às mãos naquela época. Me pergunto como deixamos nas mãos de tão pouca gente, é pouco representativo isso. Ao mesmo tempo, não fosse essas poucas pessoas, talvez a situação fosse ainda pior, não podemos saber.
Há uma cultura no Brasil – pelo menos aqui em Muribeca nós sentimos muito isso – que é deixar nas mãos de outras pessoas, delegar para alguns poucos as decisões dos destinos de toda uma coletividade. E o Somos Todos Muribeca não está aqui para isso, muito pelo contrário, nós queremos é mudar isso, queremos transformar essa realidade.
