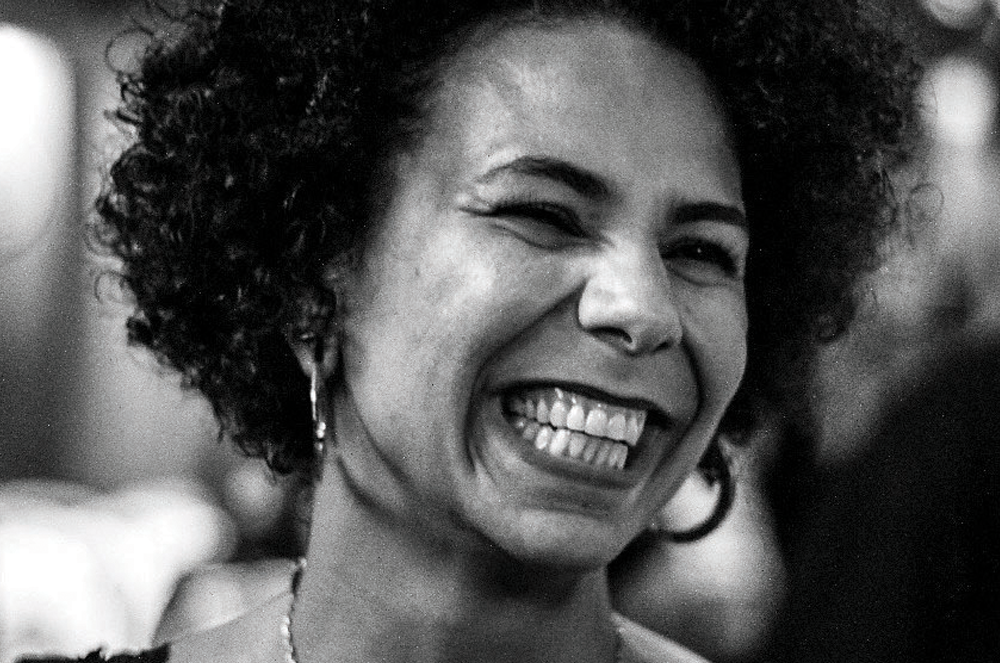Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
Boletim #19
* Versión en español a continuación.
Resistências ♥
A CryptoRave 2019 acontece essa semana! [pt]
Nos dias 3 e 4 de maio, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, acontece o maior evento aberto e gratuito sobre cuidados digitais para ativistas, defesa da privacidade e cultura digital. O tema deste ano é a criação de formas de resistência à distopia que nos assola na internet.
Veja a programação e faça sua inscrição gratuita em:
https://cryptorave.org/
Pode a tecnologia ser socialista? [pt]
A cientista da computação, Wendy liu defende que os trabalhadores da área precisam retomar os processos emancipatórios e libertadores que a internet e suas ferramentas são capazes de desenvolver. Fim do Vale do Silício e um novo modelo de produção tecnológica. Vem ler!
https://digilabour.com.br/2019/04/11/abolir-o-vale-do-silicio-ou-liberar-o-desenvolvimento-tecnologico-para-outros-fins-entrevista-com-wendy-liu/
“Não negociaremos um milímetro de nossas terras” [pt]
Depois das declarações do Presidente Jair Bolsonaro sobre a abertura das terras indígenas Raposa do Sol, o Conselho Indígena de Roraima (CIR) escreve uma carta em repúdio às falas e ações do atual governo.
https://cimi.org.br/2019/04/nao-negociaremos-um-milimetro-nossas-terras-afirma-cir/
Notícias
90 dias do assassinato de Pedro Henrique, ativista que denunciava a violência policial na Bahia [pt]
Dia 27 de março completou três meses da execução do ativista de direitos humanos Pedro Henrique Cruz Souza, de 31 anos. Policiais Militares são acusados pelo assassinato do ativista que denunciava a violência policial na Bahia.
https://url.eativismo.org/fpwh3
Após três anos, o assassinato de Luana Barbosa permanece impune [pt]
Luana Barbosa, 34 anos foi espancada na esquina da sua casa. Sua morte ocorreu justamente porque ela havia se recusado a ser revistada. Os PMs estão respondendo por homicídio triplamente qualificado em liberdade.
https://www.brasildefato.com.br/2019/04/13/mae-negra-e-periferica-assassinato-de-luana-barbosa-permanece-impune-apos-tres-anos/?utm_source=bdf&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter_share
Monsanto condenada a pagar USD 81 milhões em julgamento por herbicida Roundup [pt]
O grupo Monsanto foi declarado culpado mês passado por negligência por um júri da Califórnia e condenado a pagar cerca de 81 milhões de dólares a um aposentado americano que sofre de um câncer que ele atribui ao polêmico herbicida Roundup. A sentença representa um grave revés para o gigante alemão Bayer, o proprietário da Monsanto. E aqui no Brasil continuamos a ter leis cada vez mais permissivas com as gigantes do veneno…
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2019/03/27/monsanto-condenada-a-pagar-usd-81-milhoes-em-julgamento-por-herbicida-roundup.htm
“O amigo do amigo de meu pais”: publicamos a reportagem da Crusoé que o STF censurou [pt]
O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a revista Crusoé retirasse imediatamente do ar a reportagem “O amigo do amigo de meu pai”. A publicação revelou um documento da Lava Jato de Curitiba no qual o empreiteiro e delator Marcelo Odebrecht disse ser de Antonio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, o apelido “Amigo do amigo de meu pai”.
https://theintercept.com/2019/04/15/toffoli-crusoe-reportagem-stf-censura/
Julian Assange é preso na embaixada do Equador em Londres e o mundo passa a ter acesso aos arquivos do wikileaks. [pt]
Mas o que essa prisão significa? Porque Assange é tão importante? O que muda e quais são os impactos sobre a garantia dos direitos humanos no mundo? Algumas dessas respostas na reportage da Pública, e de quebra, o link dos papers Wikileaks.
https://file.wikileaks.org/file/
https://apublica.org/2019/04/prisao-de-assange-e-vinganca-pessoal-do-presidente-equatoriano-diz-rafael-correa/
Artigos e Análises
Tese entitulada “Comunicaciones Secretas en Internet” [es]
Sabemos por Snowden que as comunicações pela Internet estão sendo monitoradas globalmente pela NSA. Os governos nacionais também têm a capacidade de espionar. Este artigo analisa a maneira pela qual duas pessoas podem se comunicar umas com as outras, não deixando rastros de que a comunicação existiu.
https://rafael.bonifaz.ec/blog/2019/03/comunicaciones-secretas-en-internet/
O aparelho clandestino de espionagem que enriqueceu a Fiat no Brasil [pt]
Ao longo de um ano, o Intercept buscou documentos na Itália e no Brasil e conversou com ex-funcionários da Fiat, sindicalistas e investigadores nos dois países para mostrar como a empresa italiana espionou funcionários brasileiros e colaborou com o sistema de repressão do governo militar em troca de informações sobre o movimento sindical.
https://theintercept.com/2019/02/25/espionagem-enriqueceu-fiat-brasil/
Privacidade
“Os celulares espiam e transmitem nossas conversas, mesmo desligados”
Numa épca onde a falta absoluta de privacidade coloca em risco a vida das pessoas, Richard Stallman, um dos criadores dos mais famosos softwares livres dá a sua opinião e diagnóstico sobre internet, direitos e liberdade na rede.
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/tecnologia/1550953521_057163.html?id_externo_rsoc=TW_CC
Sorria que eu estou te escutando
A velha frase do pagode brasileiro “sorria que eu estou te filmando” nunca foi tão real: agora todos nós sabemos que além de filmar, alguns dos serviços mais utilizados por nós também nos escuta. Esse mês, descobrimos que o Aexa, assistente de voz da Amazon, escuta e grava todas as nossas trocas. Pra saber mais:
https://www.thebrief.com.br/news/120300-sorria-eu-estou-te-escutando.htm?f
Itaú Unibanco passa a utilizar tecnologia de reconhecimento facial para aumentar segurança no financiamento de veículos [pt]
A nova ferramenta utilizará a tecnologia de biometria facial com o objetivo de evitar fraudes e garantir que não ocorram problemas na aprovação e liberação de crédito para os clientes que desejam comprar carros novos e usados. Logo após o envio das informações preliminares, o cliente será contatado automaticamente pelo Itaú via e-mail e SMS com instruções para que possa ativar o sistema de câmera de seu celular e capturar uma foto instantânea que ajudará a validar a concessão de crédito.
https://cryptoid.com.br/biometria-2/itau-unibanco-passa-a-utilizar-tecnologia-de-reconhecimento-facial-para-aumentar-seguranca-no-financiamento-de-veiculos/
Por que essa história de pedir o CPF no caixa está com os dias contados [pt]
O CPF é o ponto de partida que conduz para dentro do universo gigantesco dos dados. Ele está atrelado a uma série de outras informações pessoais: nome completo, endereço, email, telefone. Todos andam de mãos dadas. Será que a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que entra em vigor em 2020 vai garantir a privacidade de nossos dados?
https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2019/04/05/por-que-essa-historia-de-pedir-o-cpf-no-caixa-esta-com-os-dias-contados.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=tecnologia
Feminismos
El Barracón Digital, a Escola Feminista na América central que discute tecnologia [es]
Um espaço autônomo e feminista co-criado pelo coletivo Código Sur, o El Barracón Digital promove oficinas, conversas e trocas sobre tecnologia, sexualidade e auto cuidado com mulheres de honduras, El Salvador e Guatemala.
https://www.genderit.org/es/feminist-talk/escuela-feminista-por-que-hablamos-de-lo-digital
Plataforma Glória – combate a violência doméstica [pt]
O Segundo dados da ONG Observatório de Direitos Humanos (2019) há uma epidemia de violência doméstica no Brasil. Pensando nisso, a professora da Universidade de Brasília Cristina Castro-Lucas junto com empresas da área social e de tecnologia criaram a robê Glória.
http://odocumento.com.br/plataforma-para-combater-violencia-domestica-sera-lancada-amanha/
Como o feminismo de mercado engana você [pt]
Se você já entende que feminismo é a luta pela igualdade entre homens e mulheres, já deu o primeiro passo. Mas você está disposta a repensar e mudar seu comportamento para que o seu feminismo abarque mulheres socialmente mais vulneráveis do que você? Está disposta a ouvi-las? Essas são questões que o feminismo de boutique não vai levantar.
https://theintercept.com/2019/01/15/feminismo-feminejo-empoderamento-de-mercado/
Ação Direta e Não Violência
Sudanesas recuperam o espírito de antigas rainhas e fazem revolução [pt]
Depois de uma série de protestos, as jovens sudanesas conseguiram depor o atual presidente Omar Al-Bashir, depois de 30 anos de regime autóritário. Inspiradas nas antigas “Kandakas”, as jovens se tornaram símbolo de um grande grupo de contestação popular.
https://url.eativismo.org/m76vj
Rebelião em Londres: é o clima ou o sistema? [pt]
Desde 15 de abril, multidões articuladas pelo movimento Extinction Rebellion promovem, num dos centros globais do capitalismo, uma sequência de ocupações de espaços públicos, protestos, bloqueios de vias e performances contra o sistema que promove o aquecimento global e a devastação da biosfera. Mais de mil pessoas foram presas no período e o movimento prossegue, adotando formas particulares de resistência não-violenta.
https://outraspalavras.net/movimentoserebeldias/rebeliao-em-londres-contra-o-clima-ou-o-sistema/
Os 20 anos da ‘Batalha de Seattle’. E por que o protesto foi um marco [pt]
Manifestação impulsionou modelo de ativismo digital que marca movimentos sociais atuais, como o dos coletes amarelos na França
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/07/Os-20-anos-da-%E2%80%98Batalha-de-Seattle%E2%80%99.-E-por-que-o-protesto-foi-um-marco?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3SOeOV6BRK9_wzLrtD1QgJk_J33sf0Sfa9rL-lhmk6XZyKOJgyZkJKsEE#Echobox=1551976259
Arte e Jogos
Hysteria [es]
Revista de Sexualidade e cultura. Dirigida para pessoas interessadas em explorar as políticas de representação do corpo da perspectiva da arte e da busca do prazer entendidos como espaços políticos.
https://hysteria.mx/
7 jogos de tabuleiro com temas de resistência para fortalecer suas habilidades de luta contra a injustiça [en]
Há uma longa e fabulosa história de aprendizado e diversão nesses jogos de resistência. Vários começaram como ferramentas educacionais para ensinar sobre realidades políticas, sociais ou econômicas. Outros foram projetados para oferecer prática em assumir e superar um sistema problemático. Esses jogos são uma ótima maneira de injetar um pouco de diversão em um treinamento ou trazer criatividade para o planejamento estratégico.
https://wagingnonviolence.org/2018/03/7-resistance-themed-board-games/
Mídias
Expondo o Invisível [en]
A era digital transformou profundamente a maneira como as pessoas encontram e compartilham informações. A Internet está possibilitando a colaboração entre ativistas, hackers e jornalistas em uma escala sem precedentes. Através de uma série de materiais o “Exposing the Invisible”, analisa diferentes técnicas, ferramentas e métodos, juntamente com as práticas individuais daqueles que trabalham nas novas fronteiras da investigação.
https://exposingtheinvisible.org/
The Cleaners, os lixeiros das redes sociais [pt]
Redes sociais empregam nas Filipinas pessoas incumbidas de julgar o que pode permanecer no ar e o que deve ser removido.
https://cultura.estadao.com.br/blogs/luiz-zanin/the-cleaners-os-lixeiros-das-redes-sociais/
Guias e Ferramentas
Estrutura de Auditoria de Segurança e Modelo de Avaliação para Grupos de Advocacy [en]
O SAFETAG é uma estrutura de auditoria profissional que adapta metodologias tradicionais de teste de penetração e avaliação de riscos para ser relevante para organizações menores sem fins lucrativos com base ou em operação em países em desenvolvimento.
https://safetag.org/
Desgooglicemos Internet [es]
Uma grande lista de serviços gratuitos que podem ser alternativas aos serviços do google. Tem ferramentas para trabalho colaborativos, de edição, de troca de arquivos, de organização e também para se divertir livremente!
https://degooglisons-internet.org/es/list/
O Guia Prático de Fortalecimento de Segurança do Linux [en]
Este guia fornece uma visão geral do nível de proteção dos sistemas GNU / Linux, também fornece instruções práticas passo a passo para criar seus próprios sistemas e serviços protegidos. Um dos principais objetivos é criar um documento único que cubra ameaças internas e externas.
https://github.com/trimstray/the-practical-linux-hardening-guide/blob/master/README.md
[Versión en español]
Boletín #19
Bienvenido al boletín de noticias del Núcleo de Cuidados de la Escuela de Activismo. ☺ ☻
Si usted prefiere leer esto desde su navegador, o acceder a las ediciones anteriores, haga clic aquí: https://ativismo.org.br/boletim
Resistencias ♥
¡CryptoRave 2019 se llevará esta semana! [pt]
Los días 3 y 4 de mayo, en la Biblioteca Mário de Andrade, en São Paulo, se llevará a cabo el mayor evento abierto y gratuito sobre cuidados digitales para activistas, defensa de la privacidad y cultura digital. El tema de este año es la creación de formas de resistencia a la distopía que nos asola en internet.
Vea la programación y realice su inscripción gratuita en
https://cryptorave.org/
¿La tecnología puede ser socialista? [pt]
La científica en computación, Wendy Liu defiende que los trabajadores del área necesitan recomenzar los procesos emancipatorios y libertadores que internet y sus herramientas son capaces de desarrollar. El fin del Valle del Silicio y un nuevo modelo de producción tecnológica. ¡Ven a leer!
https://digilabour.com.br/2019/04/11/abolir-o-vale-do-silicio-ou-liberar-o-desenvolvimento-tecnologico-para-outros-fins-entrevista-com-wendy-liu/
“No negociaremos un milímetro de nuestras tierras” [pt]
Después de las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro sobre la apertura de las tierras indígenas Raposa do Sol, el Consejo Indígena de Roraima (CIR) escribe una carta de repudio por los discursos y acciones del actual gobierno.
https://cimi.org.br/2019/04/nao-negociaremos-um-milimetro-nossas-terras-afirma-cir/
Noticias
Se cumplieron 90 días del asesinato de Pedro Henrique, activista que denunciaba la violencia policial en Bahia [pt]
El día 27 de marzo se cumplieron tres meses de la ejecución del activista de derechos humanos Pedro Henrique Cruz Souza, de 31 años. Policías Militares son acusados del asesinato del activista que denunciaba la violencia en Bahia.
https://url.eativismo.org/fpwh3
Después de tres años, el asesinato de Luana Barbosa permanece impune [pt]
Luana Barbosa, de 34 años fue brutalmente golpeada en la esquina de su casa. Su muerte ocurrió justamente porque ella se había negado a ser revistada. Los PMs están respondiendo por homicidio triplamente cualificado en libertad.
https://www.brasildefato.com.br/2019/04/13/mae-negra-e-periferica-assassinato-de-luana-barbosa-permanece-impune-apos-tres-anos/?utm_source=bdf&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter_share
Monsanto es condenada a pagar USD 81 millones en juicio por herbicida Roundup [pt]
El grupo Monsanto fue declarado culpado de negligencia el mes pasado por un juez de California y condenado a pagar cerca de 81 millones de dólares a un jubilado americano que sufre un cáncer que él atribuye al polémico herbicida Roundup. La sentencia representa un grave revés para el gigante alemán Bayer, el propietario de Monsanto. Y aquí en Brasil continuamos teniendo leyes más permisivas con las gigantes del veneno…
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2019/03/27/monsanto-condenada-a-pagar-usd-81-milhoes-em-julgamento-por-herbicida-roundup.htm
“El amigo del amigo de mi padre”: publicamos el repostaje de Crusoé que el STF censuró [pt]
El ministro del STF Alexandre de Moraes determinó que la revista Crusoé retirara inmediatamente del aire el reportaje “O amigo do amigo de meu pai” (El amigo del amigo de mi padre). La publicación reveló un documento del Lava Jato de Curitiba en el cual el contratista y delator Marcelo Odebrecht dijo que era de Antonio Dias Toffoli, presidente del Supremo Tribunal Federal, el apodo “Amigo del amigo de mi padre”.
https://theintercept.com/2019/04/15/toffoli-crusoe-reportagem-stf-censura/
Julian Assange es preso en la embajada de Ecuador en Londres y el mundo pasa a tener acceso a los archivos de wikileaks [pt]
¿Pero qué significa está prisión? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué cambia y cuáles son los impactos sobre la garantía de los derechos humanos en el mundo? Algunas de estas respuestas en el reportaje de Pública, y de paso, el enlace de los papers Wikileaks.
https://file.wikileaks.org/file/
https://apublica.org/2019/04/prisao-de-assange-e-vinganca-pessoal-do-presidente-equatoriano-diz-rafael-correa/
Artículos y análisis
Tesis titulada “Comunicaciones Secretas en Internet” [es]
Sabemos por Snowden que las comunicaciones por Internet están siendo monitoreadas globalmente por la NSA. Los gobiernos nacionales también tienen la capacidad de espiar. Este artículo analiza la forma por la cual dos personas pueden comunicarse, no dejando rastros de que la comunicación existió.
https://rafael.bonifaz.ec/blog/2019/03/comunicaciones-secretas-en-internet/
El aparato clandestino de espionaje que enriqueció a Fiat en Brasil [pt]
A lo largo de un año, Intercept buscó documentos en Italia y en Brasil y conversó con ex-empleados de Fiat, sindicalistas e investigadores en los dos países para mostrar cómo la empresa italiana espió a empleados brasileños y colaboró con el sistema de represión del gobierno militar a cambio de informaciones sobre el movimiento sindical.
https://theintercept.com/2019/02/25/espionagem-enriqueceu-fiat-brasil/
Privacidad
“Los celulares espían y transmiten nuestras conversaciones, aun estando apagados” [pt]
En una época donde la falta absoluta de privacidad pone en riesgo la vida de las personas, Richard Stallman, uno de los creadores de los más famosos softwares libres da su opinión y diagnóstico sobre internet, derechos y libertad en la red.
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/tecnologia/1550953521_057163.html?id_externo_rsoc=TW_CC
Sonríe que estoy escuchándote [pt]
La vieja frase del pagode brasileño “sonríe que estoy escuchándote” nunca fue tan real: ahora todos nosotros sabemos que además de filmar, algunos de los servicios más utilizados por nosotros también nos escuchan. Este mes, descubrimos que Alexa, asistente de voz de Amazon, escucha y graba toda nuestra comunicación. Para saber más:
https://www.thebrief.com.br/news/120300-sorria-eu-estou-te-escutando.htm?f
Itaú Unibanco pasa a utilizar tecnología de reconocimiento facial para aumentar la seguridad en la financiación de vehículos [pt]
La nueva herramienta utilizará la tecnología de biometría facial con el objetivo de evitar fraudes y garantizar que no ocurran problemas con la aprobación y liberación de crédito para los clientes que desean comprar coches nuevos y usados. Después del envío de las informaciones preliminares, el cliente será contactado automáticamente por Itaú vía e-mail y SMS con las instrucciones para que pueda activar el sistema de cámara de su celular y capturar una foto instantánea que ayudará a validar la concesión de crédito.
https://cryptoid.com.br/biometria-2/itau-unibanco-passa-a-utilizar-tecnologia-de-reconhecimento-facial-para-aumentar-seguranca-no-financiamento-de-veiculos/
Por qué esta historia de pedir el CPF en las cajas está con los días contados. [pt]
El CPF es el punto de partida que conduce hacia el gigantesco universo de los datos. Él está vinculado a una serie de otras informaciones personales: nombre completo, dirección, e-mail, teléfono. Todos andan de manos dadas. ¿Será que la nueva Ley General de Protección de Datos (LGPD) que entra en vigor en 2020 va a garantizar la privacidad de nuestros datos?
https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2019/04/05/por-que-essa-historia-de-pedir-o-cpf-no-caixa-esta-com-os-dias-contados.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=tecnologia
Feminismos
El Barracón Digital, la Escuela Feminista de América Central que discute tecnología [es]
Un espacio autónomo y feminista co-creado por el colectivo Código Sur, El Barracón Digital promueve talleres, conversatorios e intercambios sobre tecnología, sexualidad y autocuidado con mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala.
https://www.genderit.org/es/feminist-talk/escuela-feminista-por-que-hablamos-de-lo-digital
Plataforma Glória – combate la violencia doméstica [pt]
Según datos de la ONG Observatorio de Derechos Humanos (2019) hay una epidemia de violencia doméstica en Brasil. Pensando en esto, la profesora de la Universidade de Brasília, Cristina Castro-Lucas, junto con empresas del área social y de tecnología crearon la robot Glória.
http://odocumento.com.br/plataforma-para-combater-violencia-domestica-sera-lancada-amanha/
Cómo el feminismo de mercado engaña [pt]
Si usted ya entiende que feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ya dio el primer paso. ¿Pero usted está dispuesta a repensar y cambiar su comportamiento para que su feminismo incluya a mujeres socialmente más vulnerables que usted? ¿Está dispuesta a oírlas? Estas son cuestiones que el feminismo de boutique no va a levantar.
https://theintercept.com/2019/01/15/feminismo-feminejo-empoderamento-de-mercado/
Acción derecha y no violencia
Sudanesas recuperan el espíritu de antiguas reinas y hacen revolución [pt]
Después de una serie de protestos, las jóvenes sudanesas lograron deponer al actual presidente Omar Al-Bashir, después de 30 años de régimen autoritario. Inspiradas en las antiguas “Kandakas”, las jóvenes se tornaron símbolo de un gran grupo de contestación popular.
https://url.eativismo.org/m76vj
Rebelión en Londres: ¿es el clima o el sistema? [pt]
Desde el 15 de abril, multitudes articuladas por el movimiento Extinction Rebellion promueven en uno de los centros globales del capitalismo, una secuencia de ocupaciones de espacios públicos, protestos, bloqueos de vías y performances contra el sistema que promueve el calentamiento global y la devastación de la biosfera. Más de mil personas fueron presas durante ese periodo y el movimiento prosigue, adoptando formas particulares de resistencia no-violenta.
https://outraspalavras.net/movimentoserebeldias/rebeliao-em-londres-contra-o-clima-ou-o-sistema/
Los 20 años de ‘Batalla de Seattle’. Y por qué el protesto fue un marco [pt]
La manifestación impulsó un modelo de activismo digital que marca movimientos sociales actuales, como el de los chalecos amarillos en Francia.
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/07/Os-20-anos-da-%E2%80%98Batalha-de-Seattle%E2%80%99.-E-por-que-o-protesto-foi-um-marco?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3SOeOV6BRK9_wzLrtD1QgJk_J33sf0Sfa9rL-lhmk6XZyKOJgyZkJKsEE#Echobox=1551976259
Arte y juegos
Hysteria [es]
Revista de sexualidad y cultura. Dirigida a personas interesadas en explorar las políticas de representación del cuerpo desde la perspectiva del arte y la búsqueda del placer entendidos como espacios políticos.
https://hysteria.mx/
7 juegos de tablero con temas de resistencia para fortalecer sus habilidades de lucha contra la injusticia [en]
Hay una larga y fabulosa historia de aprendizaje y diversión en estos juegos de resistencia. Varios comenzaron como herramientas educacionales para enseñar sobre realidades políticas, sociales o económicas. Otros fueron proyectados para ofrecer práctica en asumir y superar un sistema problemático. Estos juegos son una excelente manera de inyectar un poco de diversión en una capacitación o propiciar creatividad para la planificación estratégica.
https://wagingnonviolence.org/2018/03/7-resistance-themed-board-games/
Medios
Exponiendo lo invisible [en]
La era digital transformó profundamente la forma como las personas encuentran y comparten informaciones. Internet está haciendo posible la colaboración entre activistas, hackers y periodistas en una escala sin precedentes. A través de una serie de materiales “Exposing the Invisible”, analiza diferentes técnicas, herramientas y métodos, conjuntamente con las prácticas individuales de aquellos que trabajan en las nuevas fronteras de la investigación.
https://exposingtheinvisible.org/
The Cleaners, los basureros de las redes sociales [pt]
Redes sociales emplean en Filipinas personas incumbidas de juzgar lo que puede permanecer en el aire y lo debe ser retirado.
https://cultura.estadao.com.br/blogs/luiz-zanin/the-cleaners-os-lixeiros-das-redes-sociais/
Guías y herramientas
Estructura de Auditoría de Seguridad y Modelo de Evaluación para Grupos de Advocacy [en]
SAFETAG es una estructura de auditoría profesional que adapta metodologías tradicionales de prueba de penetración y evaluación de riesgos para ser relevante para organizaciones menores sin fines de lucro con base o en operación en países en desarrollo.
https://safetag.org/
Desgooglicemos Internet [es]
Una gran lista de servicios gratuitos que pueden ser alternativas a los servicios de google. ¡Hay herramientas para trabajos colaborativos, de edición, de intercambio de archivos, de organización y también para divertirse libremente!
https://degooglisons-internet.org/es/list/
La Guía Práctica de Fortalecimiento de Seguridad de Linux [en]
Esta guía provee una visión general del nivel de protección de los sistemas GNU / Linux, también provee instrucciones prácticas paso a paso para crear sus propios sistemas y servicios protegidos. Uno de los principales objetivos es crear un documento único que cubra amenazas internas y externas.
https://github.com/trimstray/the-practical-linux-hardening-guide/blob/master/README.md
Boletim #18
* Versión en español a continuación.
Resistências ♥
Águia em espanhol [Texto em espanhol]
Escola de Ativismo abre o código e disponibiliza online sua “A guia de facilitação e aprendizagem em segurança da informação”, versão em espanhol.
https://escoladeativismo.org.br/wp-content/uploads/2019/03/AGUIA-DIGITAL-_-V7-es.pdf
É aquele velho papo, quem pode carnaval pode tudo
No mês de aniversário de Lélia Gonzales, as Blogueiras Negras destacam seu legado intelectual a partir da coletânea “Lelia Gonzales, Primaveras para rosas Negras”. Um texto de Charô NUnes que vale a pena ler e recomendar.
http://blogueirasnegras.org/2019/02/27/quem-pode-carnaval-pode-tudo/
Internet e outras redes também são nossas [Texto em espanhol]
As feministas no mundo inteiro tem pensado como a internet pode ser um espaço de diversidade, segurança e que reflita o seu propósito de compartilhamento de informações. Um artigo de Virgínia Díez para a Pikara Magazine.
https://www.pikaramagazine.com/2019/03/internet-redes-nuestras/
CryptoRave 2019
A sexta edição da CryptoRave, o maior evento gratuito de segurança e cultura digital para ativistas, está com sua campanha de crowdfunding aberta! O evento, que dura 24 horas seguidas, é financiado de forma colaborativa e não acontece se você não apoiar.
https://www.catarse.me/cryptorave_2019
Notícias
Hackers atacam mais de um milhão de usuários da Asus após brecha de segurança
Os hackers direcionaram os ataques para um grupo desconhecido de usuários, identificados pelos endereços físicos de seus adaptadores de rede. Mais de 57 mil usuários da Kaspersky instalaram a versão com brechas de segurança da ferramenta de atualização de software da Asus, afirmou a empresa de segurança.
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,hackers-atacam-mais-de-1-milhao-de-usuarios-da-asus-apos-brecha-de-seguranca,70002767585
Cabo submarino abre novo capítulo da disputa EUA-China por domínio da internet
O governo norte-americano teme que cabos submarinos construídos pela empresa chinesa Huawei permitam que a China espione os EUA e outros países. Cerca de 95% de toda a transmissão de dados intercontinentais passa por estes cabos.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/cabo-submarino-abre-novo-capitulo-da-disputa-eua-china-por-dominio-da-internet.shtml
Vestido de mulher, suspeito é preso após reconhecimento facial no Carnaval
Utilizado pela primeira vez no carnaval soteropolitano, equipamentos identificaram 460 mil pessoas por dia.
https://veja.abril.com.br/blog/bahia/vestido-de-mulher-suspeito-e-preso-apos-reconhecimento-facial-no-carnaval/
Artigos e Análises
Todos fazem isso: a incômoda verdade sobre a espionagem em computadores
“Ataques à cadeia de suprimentos são algo que indivíduos, empresas e governos devem estar cientes. O risco potencial deve ser pesado frente a outros fatores”, disse FitzPatrick. “A realidade é que a maioria das organizações tem várias vulnerabilidades que não precisam de ataques à cadeia de suprimentos para serem exploradas.”
https://theintercept.com/2019/01/31/potencias-espionagem-computadores/
Privacidade
Criador da internet defende que usuários possam controlar seus dados
“A filosofia da Fundação para a Web é poder ter um controle completo de seus dados. Não são petróleo, não são uma matéria-prima, não são uma substância. Não deveria ser possível vendê-los por dinheiro. O controle e o acesso aos dados é um direito”, declarou Berners-Lee.
https://www.jb.com.br/ciencia_e_tecnologia/2019/03/988404-criador-da-internet-defende-que-usuarios-possam-controlar-seus-dados.html
Vendendo a alma de graça
Na economia da informação, saber é poder. Já saber os dados íntimos de bilhões de consumidores é muito poder, que se traduz em lucros bilionários. A coleta de dados tem tanta relevância econômica porque ela permite às companhias anunciantes, como nunca antes na história, encontrar o consumidor certo na hora certa para vender seus produtos e serviços.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nizanguanaes/2019/03/vendendo-a-alma-de-graca.shtml
O que a irmã de Zuckerberg descobriu sobre o machismo online
Pode parecer irônico, mas a irmã do criador da maior rede social do mundo, que surgiu como um site para avaliar meninas, declarou guerra contra a misoginia na internet. “Eles se apropriaram dos textos e história da Grécia e da Roma antigas para basear suas ideias mais repugnantes.
https://www.bol.uol.com.br/entretenimento/2019/03/12/o-que-a-irma-de-zuckerberg-descobriu-sobre-o-machismo-online.htm
Idec cobra explicações sobre vazamentos de dados de aposentados para os bancos
A cena se repete há tempos: a pessoa dá entrada no pedido de aposentadoria e antes de receber a confirmação do INSS, já começa a receber ligações de bancos oferecendo crédito consignado. Por trás de tal prática está o vazamento de dados do indivíduo para o sistema bancário.
https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/03/idec-cobra-explicacoes-sobre-vazamentos-de-dados-de-aposentados-para-os-bancos
Como você é espionado por seu celular Android sem saber
Um estudo envolvendo mais de 1.700 aparelhos de 214 fabricantes revela os sofisticados modos de rastreamento do software pré-instalado neste ecossistema.
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/17/tecnologia/1552777491_649804.html
Não Violência
Como a tecnologia está moldando o ativismo criativo no século 21 [Texto em inglês]
Um novo estudo observou mais de 300 métodos de resistência não violenta, representando muita inovação, especificamente na área de tecnologia e digital. E parte dessa tecnologia contribuiu para o número recorde de pessoas que participam do ativismo nas últimas duas décadas.
https://wagingnonviolence.org/2019/03/how-technology-is-shaping-creative-activism-in-the-21st-century/
Arte
Mulheres Que Você Deve Conhecer [Texto em inglês]
Baixe oito impressionantes e brilhantemente pôsteres de mulheres inovadora que todes deveriam conhecer, os pôsteres estão disponíveis para download em sete idiomas, inclusive português.
https://womenyoushouldknow.net/stem-role-models-posters-languages
La Clicka [Texto em espanhol]
Campanha para o uso seguro da internet e as redes sociais com dicas para evitar trolls e se sentir feliz e segura. A campanha é focada em 3 pilares: O virtual é real, Não é sua culpa e Juntas somos mais fortes.
http://clikab.libresenlinea.mx/6/
Mídias
StyleGAN – gerando e ajustando rostos artificiais realistas [Texto em inglês]
As Redes Geradoras Adversariais (GAN) são um conceito relativamente novo no Aprendizado de Máquina, seu objetivo é sintetizar amostras artificiais, como imagens, que são indistinguíveis de imagens autênticas. Um novo artigo da NVIDIA, uma arquitetura de gerador baseada em estilo para GANs (StyleGAN), apresenta um novo modelo que produz imagens de alta resolução.
https://www.lyrn.ai/2018/12/26/a-style-based-generator-architecture-for-generative-adversarial-networks/
Política
Bretas mandou grampear oito celulares de Temer um dia antes de prisão
Um dia antes da prisão do ex-presidente Michel Temer, o juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio, autorizou que o emedebista tivesse oito linhas telefônicas grampeadas. A interceptação dos celulares seria uma “forma de viabilizar a deflagração da fase ostensiva da operação”.
https://exame.abril.com.br/brasil/bretas-mandou-grampear-oito-celulares-de-temer-um-dia-antes-de-prisao/
PF envia celular de irmã de Aécio aos EUA para acessar dados
Um ano e dez meses após apreender um celular de Andrea Neves, a Polícia Federal ainda não conseguiu acessar os dados do aparelho. Numa última tentativa, o iPhone foi enviado para os Estados Unidos na esperança de que parceiros consigam descobrir a senha capaz de desbloqueá-lo.
https://www.terra.com.br/noticias/pf-envia-celular-de-irma-de-aecio-aos-eua-para-acessar-dados,3777fd611c9ca1236ff12ab0457f3fd9lu1r7700.html
Guias e Ferramentas
Como apoiar uma amiga ou familiar que está vivenciando uma situação abusiva
Está buscando conselhos práticos e simples de como apoiar melhor uma amiga em um relacionamento abusivo? Esse é um curto guia que fará justamente isto.
https://chayn.gitbook.io/the-good-friend-guide/portugues/introduction
Free To Be Mobile [Texto em inglês]
Algumas das histórias em Free To Be Mobile são enraizada em comunidades de baixa renda da Índia. O caderno conta a história de 10 mulheres e as estratégias que adotaram ao sofrerem violência digital.
https://sgt-57ed.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/03/FTBM_Web_final.pdf
Tor
O projeto Tor acaba de lançar seu novo site! Mais acessível para todes.
https://www.torproject.org/pt-BR/
Firefox Send
Compartilhamento de arquivos fácil e privativo. O Firefox Send permite o compartilhamento de arquivos com criptografia ponto a ponto e um link que expira automaticamente. Assim você pode manter o que compartilha privativo e ter certeza que suas coisas não ficarão online para sempre.
https://send.firefox.com/
[Versión en español]
Boletín #18
Bienvenido al boletín de noticias del Núcleo de Cuidados de la Escuela de Activismo. ☺ ☻
Si usted prefiere leer esto desde su navegador, o acceder a las ediciones anteriores, haga clic aquí: https://ativismo.org.br/boletim
Resistencias♥
Águia em espanhol (Águila en español) [Texto en español]
La Escuela de Activismo abre el código y pone a disposición online“La guía de facilitación y aprendizaje en seguridad de la información”, versión en español.
https://escoladeativismo.org.br/wp-content/uploads/2019/03/AGUIA-DIGITAL-_-V7-es.pdf
Es aquel viejo asunto, quien puede carnaval puede todo
En el mes de aniversario de Lélia Gonzales, las Blogueiras Negras destacan su legado intelectual a partir de la antología “Lelia Gonzales, primaveras para rosas negras”. Un texto de Charô Nunes que vale la pena leer y recomendar.
http://blogueirasnegras.org/2019/02/27/quem-pode-carnaval-pode-tudo/
Internet y otras redes también son nuestras [Texto en español
Las feministas en todo el mundo han pensado como internet puede ser un espacio de diversidad, seguridad y que refleja su propósito de intercambio de información. Un artículo de Virgínia Díez para Pikara Magazine.
https://www.pikaramagazine.com/2019/03/internet-redes-nuestras/
CryptoRave 2019
¡La sexta edición de CryptoRave, el mayor evento gratuito de seguridad y cultura digital para activistas, está con su compaña decrowdfundingabierta! El evento, que dura 24 horas seguidas, es financiado de forma colaborativa y no se realizará si usted no lo apoya.
https://www.catarse.me/cryptorave_2019
Noticias
Hackers atacan a más de un millón de usuarios de Asus después de una brecha de seguridad
Loshackersdirigieron los ataques a un grupo desconocido de usuarios, identificados por las direcciones físicas de sus adaptadores de red. Más de 57 mil usuarios de Kaspersky instalaron la versión con una brecha de seguridad de la herramienta de actualización de softwarede Asus, afirmó la empresa de seguridad.
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,hackers-atacam-mais-de-1-milhao-de-usuarios-da-asus-apos-brecha-de-seguranca,70002767585
Cable submarino abre un nuevo capítulo entre la disputa Estados Unidos-China por el dominio de internet
El gobierno estadounidense teme que cables submarinos construidos por la empresa china Huawei permitan que China espíe a los Estados Unidos y otros países. Cerca del 95 % de toda la transmisión de datos intercontinentales pasa por estos cables.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/cabo-submarino-abre-novo-capitulo-da-disputa-eua-china-por-dominio-da-internet.shtml
Vestido de mujer, sospechoso es detenido después de su reconocimiento facial durante el Carnaval
Utilizado por la primera vez en el carnaval soteropolitano (natural de Salvador – Bahia), equipos identificaron 460 mil personas por día.
https://veja.abril.com.br/blog/bahia/vestido-de-mulher-suspeito-e-preso-apos-reconhecimento-facial-no-carnaval/
Artículos y análisis
Todos hacen eso: la incómoda verdad sobre el espionaje de computadoras
“Ataques a la cadena de suministros es algo que individuos, empresas y gobiernos deben estar al corriente. El riesgo potencial debe ser medido frente a otros factores”, dijo FitzPatrick. “La realidad es que la mayoría de las organizaciones tienen varias vulnerabilidades, de forma que no necesitan recibir ataques a la cadena de suministros para ser explotadas.”
https://theintercept.com/2019/01/31/potencias-espionagem-computadores/
Privacidad
El creador de internet defiende que los usuarios puedan controlar sus datos
“La filosofía de la Fundación para la Web es poder tener un control completo de sus datos. No son petróleo, no son materia prima, no son sustancia. No debería ser posible venderlos por dinero. El control y el acceso a los datos es un derecho “, declaró Berners-Lee.
https://www.jb.com.br/ciencia_e_tecnologia/2019/03/988404-criador-da-internet-defende-que-usuarios-possam-controlar-seus-dados.html
Vendiendo el alma por nada
En la economía de la información, saber es poder. Ahora, saber los datos íntimos de mil millones de consumidores es mucho poder, que se traduce en ganancias billonarias. La recolección de datos tiene tanta relevancia económica porque permite que las compañías anunciantes, como nunca antes en la historia, encuentren el consumidor seguro a la hora exacta para vender sus productos y servicios.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nizanguanaes/2019/03/vendendo-a-alma-de-graca.shtml
Lo que la hermana de Zuckerberg descubrió sobre el machismo online
Puede parecer irónico, pero la hermana del creador de la red social más grande del mundo, que surgió como una página web para evaluar chicas, declaró una guerra contra la misoginia en internet. “Ellos se apropiaron de los textos y de la historia de la Grecia y Roma antiguas para fundamentar sus ideas más repugnantes.
https://www.bol.uol.com.br/entretenimento/2019/03/12/o-que-a-irma-de-zuckerberg-descobriu-sobre-o-machismo-online.htm
Idec pide explicaciones sobre las fugas de datos de jubilados para los bancos
La escena se repite hace tiempo: la persona inicia el pedido de jubilación y antes de recibir la confirmación del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), ya empieza a recibir llamadas de bancos ofreciéndole crédito consignado. Por detrás de tal práctica está la fuga de datos del individuo para el sistema bancario.
https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/03/idec-cobra-explicacoes-sobre-vazamentos-de-dados-de-aposentados-para-os-bancos
Cómo usted es espiado desde su celular Android sin saberlo
Un estudio examinó más de 1.700 aparatos de 214 fabricantes revela los sofisticados modos de rastreo del software preinstalado en este ecosistema.
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/17/tecnologia/1552777491_649804.html
No Violencia
Cómo la tecnología está moldeando el activismo creativo en el siglo 21[Texto en inglés]
Un nuevo estudio observó más de 300 métodos de resistencia no violenta, representando mucha innovación, específicamente en el área tecnológica y digital. Y parte de esta tecnología contribuyó para el número record de personas que participan del activismo en la últimas dos décadas.
https://wagingnonviolence.org/2019/03/how-technology-is-shaping-creative-activism-in-the-21st-century/
Arte
Las mujeres que usted debe conocer[Texto en inglés]
Descargue ocho impresionantes y brillantemente pósteres de mujeres innovadoras que todes(todos) deberían conocer, los pósteres están disponibles para su descarga en siete idiomas, incluso en portugués.
https://womenyoushouldknow.net/stem-role-models-posters-languages
La Clicka [Texto en español]
Campaña para el uso seguro de internet y redes sociales con consejos para evitar trollsy sentirse feliz y segura. La campaña está enfocada en 3 pilares: Lo virtual es real, No es su culpa y Juntas somos más fuertes.
http://clikab.libresenlinea.mx/6/
Medios
StyleGAN – generando y ajustando rostros artificiales realistas [Texto en inglés]
Las Redes Generadoras Adversariales (GAN) son un concepto relativamente nuevo en el Aprendizaje de Máquina, su objetivo es sintetizar muestras artificiales, como imágenes, que son indistinguibles de las imágenes auténticas. Un nuevo artículo de NVIDIA, una arquitectura de generador basada en estilo para GANs (StyleGAN), presenta un nuevo modelo que produce imágenes de alta resolución.
https://www.lyrn.ai/2018/12/26/a-style-based-generator-architecture-for-generative-adversarial-networks/
Política
Bretas mandó intervenir ocho celulares de Temer un día antes de su prisión
Un día antes de la prisión del expresidente Michel Temer, el juez Marcelo Bretas, de la 7.ª Jurisdicción Federal de Rio, autorizó que el emedebista tuviera ocho líneas telefónicas intervenidas. La interceptación de los celulares sería una “forma de permitir la deflagración de la fase ostensiva de la operación”.
https://exame.abril.com.br/brasil/bretas-mandou-grampear-oito-celulares-de-temer-um-dia-antes-de-prisao/
PF envía el celular de la hermana de Aécio a los Estados Unidos para acceder a datos
Un año y diez meses después de prender un celular de Andrea Neves, la Policía Federal todavía no ha logrado acceder a los datos del aparato. En un último intento, el iPhone fue enviado a los Estados Unidos con la esperanza de que aliados logren descubrir la contraseña que sea capaz de desbloquearlo.
https://www.terra.com.br/noticias/pf-envia-celular-de-irma-de-aecio-aos-eua-para-acessar-dados,3777fd611c9ca1236ff12ab0457f3fd9lu1r7700.html
Guías y herramientas
Cómo apoyar a una amiga o familiar que está viviendo una situación abusiva
¿Está buscando consejos prácticos y sencillos sobre cómo apoyar mejor a una amiga que vive una relación abusiva? Esta es una pequeña guía que hará justamente eso.
https://chayn.gitbook.io/the-good-friend-guide/portugues/introduction
Free To Be Mobile [Texto en inglés]
Algunas de las historias en Free To Be Mobile están enraizadas en comunidades de baja renta de la India. El cuaderno cuenta la historia de 10 mujeres y las estrategias que adoptaron al sufrir violencia digital.
https://sgt-57ed.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/03/FTBM_Web_final.pdf
Tor
¡El proyecto Tor acaba de lanzar su nueva página web! Más accesible para todes(todos).
https://www.torproject.org/pt-BR/
Firefox Send
Intercambio de archivos de forma fácil y privada. Firefox Send permite el intercambio de archivos con criptografía punto a punto y un enlace que expira automáticamente. De esta forma, usted puede mandar lo que comparte en privado y tener la seguridad de que sus cosas no quedaránonlinepara siempre.
https://send.firefox.com/
Boletim #17
* Versión en español a continuación.
Bem-vinde ao Boletim de Notícias do Núcleo de Cuidados da Escola de Ativismo. ☺ ☻
Se você preferir ler isso no seu navegador, ou acessar os edições anteriores, clique aqui: https://ativismo.org.br/boletim
Resistências ♥
CryptoRave 2019
A sexta edição da CryptoRave, o maior evento gratuito de segurança e cultura digital para ativistas, está com sua campanha de crowdfunding aberta! O evento, que dura 24 horas seguidas, é financiado de forma colaborativa e não acontece se você não apoiar.
https://www.catarse.me/cryptorave_2019
# Tuíra 01
Uma revista que é muitas. Que não faz contar o que acontece na hora em que acontece. Que toma distância, mas não é distante. Que faz avaliação, que faz análise, mas que (quase) não faz citação. Que extrapola a situação.
Nessa primeira edição: Ativismo indígena, Maio de 68, Cuidado, Pessoa ativista, Feminismo negro, Tecnociência feminista e ocupações.
https://escoladeativismo.org.br/project/tuira/
Mapa Komun [Texto em castelhano e inglês]
É um mapa colaborativo que oferece uma visão global de diversas iniciativas que orientam a economia das comunidades: lugares e serviços que aceitam moedas alternativas, FairCoin, pontos de troca, moedas sociais, redes ecológicas, grupos de comida, rotas de produtos e veículos compartidos.
Contribua com uma alternativa generosa que transforma o nosso entorno por meio da Revolução Integral.
https://mapo.komun.org
Notícias
Internet na Rússia: país planeja se ‘desligar’ da rede mundial para fazer testes de segurança
O projeto de lei, chamado Programa Nacional da Economia Digital, requer que os provedores russos adquiram capacidade para operar no caso de potências estrangeiras tomarem medidas para isolar o país do mundo online.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47206927
Vazamento enorme afeta 800 milhões de emails e senhas
Chamada de Collection #1, essa brecha é a maior que já se testemunhou. Não envolve apenas o vazamento de 1 serviço e é denominada de “brecha das brechas“.
* Lembre-se que ao colocar sua senha em sites verificadores de vazamento você pode estar expondo sua senha!
https://www.poder360.com.br/tecnologia/vazamento-de-dados-expoe-800-millhoes-de-emails/
Bolsonaro ignora Abin e usa WhatsApp para comandar governo no Brasil
Bolsonaro usa o aplicativo como meio de comunicação entre seus ministros, autoridades, governadores e qualquer tipo de comunicação presidencial. A Abin não acredita que essa seja a saída mais segura como forma de comunicação.
https://www.tecmundo.com.br/seguranca/138691-bolsonaro-ignora-abin-usa-whatsapp-comandar-governo-brasil.htm
Câmara aprova projeto que acelera bloqueio de bens relacionados ao terrorismo
Proposta determina o cumprimento imediato, pelo Brasil, de sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU relacionadas ao crime de terrorismo. Deputados aprovaram o projeto em Plenário em meio a polêmica sobre possível criminalização de movimentos sociais. A proposta será analisada ainda pelo Senado.
https://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572322-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-ACELERA-BLOQUEIO-DE-BENS-RELACIONADOS-AO-TERRORISMO.html
Artigos e Análises
Um guia de código aberto para pesquisa sobre transferência de expertise em vigilância [texto em inglês]
O novo relatório da Privacy International mostra como países com poderosas agências de segurança estão treinando, equipando e financiando diretamente agências de vigilância estrangeira. Impulsionada pelos avanços da tecnologia, o aumento da vigilância é impulsionado e autoriza o crescente autoritarismo globalmente, bem como os ataques à democracia, aos direitos das pessoas e ao estado de direito.
https://privacyinternational.org/feature/2225/open-source-guide-researching-surveillance-transfers
Assédio Sexual nas Universidades: pesquisa revela números alarmantes
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon aponta que 42% das mulheres já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário e 36% deixaram de fazer alguma atividade por medo da mesma violência.
https://falauniversidades.com.br/assedio-sexual-universidades-pesquisa/
Privacidade
Jeff Bezos e privacidade na web.
O dono da Amazon e do Washington Post, foi chantageado para fazer uma declaração pública falsa à imprensa afirmando que ‘não tinha conhecimento ou base para sugerir que a cobertura da American Media foi politicamente motivada ou influenciada por forças políticas'”, sob risco de ter nudes ilegalmente obtidos vazados.
https://oglobo.globo.com/mundo/dono-da-amazon-do-post-denuncia-que-foi-chantageado-com-fotos-intimas-por-amigo-de-trump-23437096
Como os aplicativos do seu celular interagem com o Facebook
Pesquisa da Privacy International revela que 61% dos aplicativos testados automaticamente enviam dados para o Facebook assim que o app é aberto. Isso acontece ainda que a pessoa não tenha conta na rede social.
https://privacyinternational.org/campaigns/investigating-apps-interactions-facebook-android
Pare de usar apps de previsão do tempo – eles tão vendendo seus dados por aí
Por diversas vezes, aplicativos como os do Weather Channel, Accuweather e WeatherBug foram flagrados compartilhando suas informações de localização.
https://www.vice.com/pt_br/article/gy77wy/pare-de-usar-apps-de-previsao-do-tempo-eles-tao-vendendo-seus-dados-por-ai
Vigilância: Nunca desligue o telefone: Uma nova abordagem à cultura de segurança
Se uma cultura de segurança tradicional não nos protege como antes, como nos adaptamos? O texto não traz respostas, mas é repleto de provocações.
https://write.as/55mvtvvs5b3bg.md
Arte
Documentário “Espero Tua (Re)volta” é destaque em festival da Alemanha.
O longa de Eliza Capai, conta a história dos quase 60 dias de ocupação de escolas em São Paulo, em 2015, por estudantes secundaristas contrários às medidas anunciadas pelo então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).
E nós esperamos o lançamento aqui no Brasil.
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/luta-dos-secundaristas-e-destaque-em-festival-na-alemanha/
Mídias
Rastreamos a hashtag que espalhou fake news sobre Jean Wyllys
Iniciados por anônimos, boatos que ligavam ex-deputado a ataque a Bolsonaro explodiram com atuação de Olavo de Carvalho, Alexandre Frota e Lobão no Twitter e Facebook
https://apublica.org/2019/02/rastreamos-a-hashtag-que-espalhou-fake-news-jean-wyllys/?fbclid=IwAR2yBH3hcEUpW5lYyEG7Xcq1pytMl3FCA-QeHX5pd7anB9DGjd5AyePaHWA
Tecnopolítica #4: Controle, Redes Digitais e Ativistas
Podcast sobre atuação política nas redes: É possível separar a vida privada da atuação política? Os ativistas estão sendo monitorados e atacados?
https://www.youtube.com/watch?v=eEIVppVpRSM
Driblando a democracia
Steve Bannon, diretor de campanha de Donald Trump é também assessor da campanha de Jair Bolsonaro. O filme conta em detalhes as estratégias baseadas em fake news e roubo de dados pessoais, que foram usadas para levar Trump a vitória, enganando a América.
https://vimeo.com/295576715
Don’t LAI to me: a primeira newsletter sobre Lei de Acesso à Informação do Brasil
A proposta é divulgar notícias, dicas e reportagens produzidas sobre ou baseadas em dados obtidos via LAI. O serviço é quinzenal, de distribuição gratuita e tem como objetivo criar uma rede para fomentar a transparência pública e o controle social.
http://www.fiquemsabendo.com.br/transparencia/newsletter-dont-lai-to-me
Política
Como o youtube se tornou um celeiro da nova direita radical
Para manter o interesse das pessoas nos canais – e garantir que elas sejam expostas a mais e mais anúncios – a plataforma usa algoritmos para organizar o conteúdo e circular vídeos novos, gerando uma demanda diária por novo material. Esses algoritmos usam uma combinação de dados para recomendar vídeos que visam, literalmente, prender e viciar as pessoas.
https://theintercept.com/2019/01/09/youtube-direita/
Intervenção Federal: um modelo para não copiar
Relatório do CESEC e do Observatório da Intervenção sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro.
https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view
Boulos recebe ameaças, intimações judiciais de casos do passado e vê clima político para colocá-lo na cadeia
Além das ameaças, Boulos também sente a chapa esquentar para o seu lado. Nos últimos tempos, recebeu duas intimações judiciais referentes a episódios ocorridos há mais de 7 anos.
https://epoca.globo.com/boulos-recebe-ameacas-intimacoes-judiciais-de-casos-do-passado-ve-clima-politico-para-coloca-lo-na-cadeia-23457639
Guias e Ferramentas
Mapeamento tático [Texto em inglês]
A ferramenta de mapeamento tático prepara os ativistas para expandir colaborativamente sua compreensão das relações e desenvolver ações estratégicas e eficazes. Ao diagramar as relações que cercam os abusos dos direitos humanos, podemos ver uma visão geral interativa de onde estamos e o caminho para a mudança.
https://tmt.newtactics.org/
Comunicaciones Secretas y Autónomas de Voz/IP con Mumble
Mumble é una ferramenta de software livre que permite criar conferências de voz. Ou seja, 2 ou mais pessoas participando de uma reunião em tempo real. Este serviço funciona bem com conecções limitadas e permite o seu funcionamento através de serviços ocultos de Tor.
https://medium.com/@facceso.ca/comunicaciones-secretas-y-aut%C3%B3nomas-de-voz-ip-con-mumble-3b3d3bad06c5
Guia Prática de Estratégiase Táticas para a Segurança Digital Feminista
Como reação a crescente ocupação do ambiente digital, ativistas e coletivos feministas passaram a sofrer com a vigilância e diversas manifestações de violência. As mulheres, estão sujeitas a diversos tipos de violências e na internet não é diferente. Neste sentido, evidenciar essas violências e entender como nos defender é um dos primeiros passos para criarmos um ambiente digital mais seguro para as militantes feministas. Confira a Guia produzido pelo CFEMEA abaixo:
https://feminismo.org.br/guia-pratica-de-estrategias-e-taticas-para-a-seguranca-digital-feminista/
Você precisa saber sobre segurança na internet
Neste episódio o Olhares podcast, fala sobre os riscos de se expor na rede e também sobre medidas que podem ser tomadas para evitar tentativas de silenciamento das falas engajadas das mulheres.
http://olharespodcast.com.br/campanha-ativismonaweb-voce-precisa-saber-sobre-seguranca-na-internet/
[Versión en español]
Boletín #17
Bienvenido al boletín de noticias del Núcleo de Cuidados de la Escuela de Activismo. ☺ ☻
Usted está recibiendo este boletín porque está en una de nuestras listas de comunicación.
Si usted prefiere leer esto desde su navegador, o acceder a las ediciones anteriores, haga clic aquí: https://ativismo.org.br/boletim
Resistencias ♥
CryptoRave 2019
La sexta edición de CryptoRave, el mayor evento gratuito de seguridad y cultura digital para activistas, está con su campaña de crowdfunding abierta! El evento, que dura 24 horas seguidas, es financiado de forma colaborativa y no sucede si usted no apoya.
https://www.catarse.me/cryptorave_2019
# Tuíra 01
Una revista que es muchas a la vez. Que no cuenta lo que sucede a la hora que sucede. Que toma distancia, pero que no es distante. Que hace una evaluación, que hace un análisis, pero que (casi) no hace citaciones. Que extrapola la situación.
En esta primera edición: Activismo indígena, Mayo de 68, Cuidado, Persona activista, Feminismo negro, Tecnociencia feminista y ocupaciones.
https://escoladeativismo.org.br/project/tuira/
Mapa Komun [Texto en castellano e inglés]
Es un mapa colaborativo que ofrece una visión global de diversas iniciativas que orientan la economía de las comunidades: lugares y servicios que aceptan monedas alternativas, FairCoin, puntos de cambio, monedas sociales, redes ecológicas, grupos de comida, rutas de productos y vehículos compartidos.
Contribuya con una alternativa generosa que transforme nuestro entorno por medio de la Revolución Integral.
https://mapo.komun.org
Noticias
Internet en Rusia: país planea ‘desconectarse’ de la red mundial para hacer pruebas de seguridad
El proyecto de ley, llamado Programa Nacional de la Economía Digital, requiere que los proveedores rusos adquieran una capacidad para operar en el caso de que potencias extranjeras tomen medidas para aislar al país del mundo online.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47206927
Fuga enorme afecta 800 millones de emails y contraseñas
Llamada de Collection #1, esta brecha es la mayor que ya se presenció. No envuelve apenas la fuga de 1 servicio y es denominada de “brecha de las brechas“.
* ¡Recuerde que al poner su contraseña en páginas web verificadoras de fuga usted puede estar exponiendo su contraseña!
https://www.poder360.com.br/tecnologia/vazamento-de-dados-expoe-800-millhoes-de-emails/
Bolsonaro ignora Abin y usa WhatsApp para comandar el gobierno en Brasil
Bolsonaro usa la aplicación como medio de comunicación entre sus ministros, autoridades, gobernadores y para cualquier tipo de comunicación presidencial. Abin no cree que esta sea la salida más segura como forma de comunicación.
https://www.tecmundo.com.br/seguranca/138691-bolsonaro-ignora-abin-usa-whatsapp-comandar-governo-brasil.htm
Cámara aprueba proyecto que acelera el bloqueo de bienes relacionados al terrorismo
La propuesta determina el cumplimiento inmediato, por parte de Brasil, de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas al crimen por terrorismo. Diputados aprobaron el proyecto en Plenario en medio a polémicas sobre la posible criminalización de movimientos sociales. La propuesta todavía será analizada por el Senado.
https://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572322-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-ACELERA-BLOQUEIO-DE-BENS-RELACIONADOS-AO-TERRORISMO.html
Artículos y Análisis
Una guía de código abierto para la investigación sobre la transferencia de conocimientos especializados en vigilancia [texto en inglés]
El nuevo informe de Privacy International muestra como países con poderosas agencias de seguridad están capacitando, equipando y financiando directamente a agencias de vigilancia extranjera. Impulsada por los avances de la tecnología, el aumento de la vigilancia es impulsado y autoriza el creciente autoritarismo globalmente, así como los ataques a la democracia, a los derechos de las personas y al estado de derecho.
https://privacyinternational.org/feature/2225/open-source-guide-researching-surveillance-transfers
Acoso Sexual en las Universidades: investigación revela números preocupantes
Una investigación realizada por el Instituto Avon apunta que el 42 % de las mujeres ya sintieron miedo de sufrir violencia en el ambiente universitario y el 36% dejó de hacer alguna actividad por miedo a la misma violencia.
https://falauniversidades.com.br/assedio-sexual-universidades-pesquisa/
Privacidad
Jeff Bezos y la privacidad en la web.
El dueño de Amazon y de Washington Post, fue chantajeado para hacer una declaración pública falsa a la prensa afirmando que ‘no tenía conocimiento o base para sugerir que la cobertura de American Media fue políticamente motivada o influenciada por fuerzas políticas'”, bajo el riesgo de que nudesilegalmente obtenidos sean difundidos.
https://oglobo.globo.com/mundo/dono-da-amazon-do-post-denuncia-que-foi-chantageado-com-fotos-intimas-por-amigo-de-trump-23437096
Como las aplicaciones de su celular interactúan con Facebook
Una investigación de Privacy International revela que el 61 % de las aplicaciones probadas automáticamente envían datos a Facebook así que la app es abierta. Esto sucede aunque la persona no tenga una cuenta en la red social.
https://privacyinternational.org/campaigns/investigating-apps-interactions-facebook-android
Deje de usar apps de pronóstico del tiempo –estas están vendiendo sus datos
Diversas veces, aplicaciones como las de Weather Channel, Accuweather y WeatherBug fueron sorprendidos compartiendo sus informaciones de localización.
https://www.vice.com/pt_br/article/gy77wy/pare-de-usar-apps-de-previsao-do-tempo-eles-tao-vendendo-seus-dados-por-ai
Vigilancia: Nunca apague el teléfono: Un nuevo abordaje a la cultura de seguridad
Si una cultura de seguridad tradicional no nos protege como antes, ¿cómo nos adaptamos? El texto no trae respuestas, pero está repleto de provocaciones.
https://write.as/55mvtvvs5b3bg.md
Arte
Documental “Espero Tua (Re)volta” (Espero Tu Rebelión) es destaque en festival de Alemania.
El largometraje de Eliza Capai, cuenta la historia de los casi 60 días de la ocupación en las escuelas de São Paulo, en 2015, por parte de estudiantes de secundaria contra las medidas anunciadas por el entonces gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).
Y nosotros esperamos el lanzamiento aquí en Brasil.
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/luta-dos-secundaristas-e-destaque-em-festival-na-alemanha/
Medios
Rastreamos la hashtag (etiqueta) que difundió fake news sobre Jean Wyllys
Fake newsiniciados por anónimos, rumores relacionaban al ex deputado al ataque a Bolsonaro estallaron con la actuación de Olavo de Carvalho, Alexandre Frota y Lobão en Twitter y Facebook
https://apublica.org/2019/02/rastreamos-a-hashtag-que-espalhou-fake-news-jean-wyllys/?fbclid=IwAR2yBH3hcEUpW5lYyEG7Xcq1pytMl3FCA-QeHX5pd7anB9DGjd5AyePaHWA
Tecnopolítica #4: Control, Redes Digitales y Activistas
Podcastsobre la actuación política en las redes: ¿Es posible separar la vida privada de la actuación política? ¿Los activistas están siendo monitoreados y atacados?
https://www.youtube.com/watch?v=eEIVppVpRSM
Driblando la democracia
Steve Bannon, director de la campaña de Donald Trump es también el asesor de la campaña de Jair Bolsonaro. La película cuenta en detalles las estrategias basadas en fake newsy el robo de datos personales, que fueron usados para llevar a Trump a la victoria, engañando así a América.
https://vimeo.com/295576715
Don’t LAI to me: el primer informativo sobre Ley de Acceso a la Informaciónde Brasil
La propuesta de difundir noticias, consejos y reportajes producidos sobre o basados en datos obtenidos vía LAI. El servicio es quincenal, de distribución gratuita y tiene como objetivo crear una red para fomentar la transparencia pública y el control social.
http://www.fiquemsabendo.com.br/transparencia/newsletter-dont-lai-to-me
Política
Cómo youtube se volvió un semillero de la nueva derecha radical
Para mantener el interés de las personas en los canales –y garantizar que estas sean expuestas a más y más anuncios–, la plataforma usa algoritmos para organizar el contenido y circular vídeos nuevos, generando así una demanda diaria por nuevo material. Estos algoritmos usan una combinación de datos para recomendar videos que buscan, literalmente, llamar la atención y viciar a las personas.
https://theintercept.com/2019/01/09/youtube-direita/
Intervención Federal: un modelo para no copiar
Informe de CESEC y del Observatorio de la Intervención sobre la intervención federal en Rio de Janeiro.
https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view
Boulos recibe amenazas, órdenes judiciales de casos del pasado y ve un clima político para meterlo en la cárcel
Además de las amenazas, Boulos también siente que la plancha se calienta para su lado. En los últimos tiempos, ha recibido dos órdenes judiciales referentes a episodios ocurridos hace más de 7 años.
https://epoca.globo.com/boulos-recebe-ameacas-intimacoes-judiciais-de-casos-do-passado-ve-clima-politico-para-coloca-lo-na-cadeia-23457639
Guías y Herramientas
Mapeo táctico[Texto en inglés]
La herramienta de mapeo táctico prepara a los activistas a expandir colaborativamente su comprensión de las relaciones y desarrollar acciones estratégicas y eficaces. Al diagramar las relaciones que cercan los abusos de los derechos humanos, podemos tener una visión general interactiva de dónde estamos y el camino hacia el cambio.
https://tmt.newtactics.org/
Comunicaciones Secretas y Autónomas de Voz/IP con Mumble
Mumble es una herramienta de softwarelibre que permite crear conferencias de voz. O sea, 2 o más personas pueden participar de una reunión en tiempo real. Este servicio funciona bien con conexiones limitadas y permite su funcionamiento a través de servicios ocultos de Tor.
https://medium.com/@facceso.ca/comunicaciones-secretas-y-aut%C3%B3nomas-de-voz-ip-con-mumble-3b3d3bad06c5
Guía Práctica de Estrategias y Tácticas para la Seguridad Digital Feminista
Como una reacción a la creciente ocupación del ambiente digital, activistas y colectivos feministas pasaron a sufrir la vigilancia y diversas manifestaciones de violencia. Las mujeres, están sujetas a diversos tipos de violencias y en internet esto no es diferente. En este sentido, evidenciar estas violencias y entender cómo defendernos es uno de los primeros pasos para crear un ambiente digital más seguro para las militantes feministas. Vea la guía producida por CFEMEA a continuación:
https://feminismo.org.br/guia-pratica-de-estrategias-e-taticas-para-a-seguranca-digital-feminista/
Usted necesita saber sobre seguridad en internet
En este episodio Olhares podcast, habla sobre los riesgos de exponerse en la red y también sobre la medidas que pueden ser tomadas para evitar los intentos de silenciamiento de mensajes comprometidos de las mujeres.
http://olharespodcast.com.br/campanha-ativismonaweb-voce-precisa-saber-sobre-seguranca-na-internet/
Multiplicidade encarnada
De Tuíre a Tuíra Kayapó, o encontro com a onça
Luciana Ferreira

Escolhemos deixar esse texto fluido em respeito aos acontecimentos e suas reverberações. Optamos por obedecer a um conjunto de palavras novas que aprendemos, todas no idioma Mēbengokrê, mesmo correndo o risco de cometer equívocos ortográficos, tendo em vista nossa infância no universo Kayapó. Tais palavras estão marcadas graficamente em itálico. Em notas de rodapé acrescentamos mais elementos a determinados pontos de nossa narrativa.
Ainda assim, queremos aproveitar essa nossa infância indígena para ousar um registro com a temperatura e a intensidade que uma multidão de atravessamentos mobilizaram e modificaram em nossos corpos. É no corpo, e sobretudo em nossa pele, que carregamos as marcas do encontro com Tuíra. As pinturas que marcam nossa pele nos movimentam, de tal modo que nos produzem outra pessoa. E, nesse sentido (quer dizer, no sentido de que as marcas que estão em nosso corpo nos fazem devir-outra), entendemos também o pensamento como um corpo. Tentaremos, com este texto, descrever um pouco de nossa aventura e, ao mesmo tempo, narrar os acontecimentos que nos atravessaram. Desta forma, tentamos registrar uma experiência singular.
O caminho
Desde que decidimos ir ao seu encontro, demos seguimento aos nossos estudos e pesquisas. Buscamos referências sobre sua vida, sua história, sua militância, e localizamos muitas coisas: fotos, vídeos, reportagens, textos, livros e toda sorte de registros genéricos sobre a vida de Tuíra. Ir ao seu encontro, vê-la e ouvi-la foi um modo de falar desta importante liderança indígena.
Nossa expedição para encontrá-la teve pitadas de emoção. Obviamente não poderia ser diferente, já que estávamos prestes a conhecer um mito. Deixo o céu cinzento de São Paulo e sua garoa que anuncia a chegada do inverno; outro companheiro de empreitada, Cássio, parte de Belo Horizonte, ambos com destino à quente e úmida Marabá. A temporada de chuvas atingiu seu ponto alto: chuvas torrenciais caíram dia e noite sobre a cidade durante nossa estada.
Uma ponte destruída pela força da chuva inviabilizou nossa passagem, fazendo com que tivéssemos que dar a volta em outros municípios para chegar à Terra Indígena Las Casas, o que tornou nossa viagem ainda mais demorada. Foram cerca de 12 horas de carro com dois ótimos companheiros – Wallassy, o motorista especialista em estradas alagadas, e Adriano, mais conhecido como Pingo, coordenador geral da Associação Floresta Protegida (AFP), criada pelo povo Kayapó em apoio à sua formação política e econômica, para a proteção e conservação de seus territórios e em defesa dos direitos e da cultura indígena.
Segundo o site da Associação Floresta Protegida1, o povo Mēbêngôkre-Kayapó está distribuído em mais de 50 aldeias, localizadas em seis terras indígenas (Badjônkore, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti), que compreendem uma área total de 11 milhões de hectares entre o centro-sul do Pará e o norte de Mato Grosso. Estes territórios estão localizados em uma região também conhecida como “arco do desmatamento” e vêm sofrendo nas últimas décadas enorme pressão de mineradoras, madeireiras, usinas hidrelétricas, grandes fazendas de gado e obras de infraestrutura.
Tuíra vive na aldeia Kaprãnkrere2, na Terra Indígena Las Casas, situada no município de Pau D’Arco, a cerca de 340 quilômetros de Marabá, um percurso que demora aproximadamente cinco horas de carro. A Terra Indígena leva esse nome por conta de um antigo posto de atração do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) estabelecido na região na década de 1940 e que homenageava o Frei Bartolomeu de Las Casas, um dos primeiros defensores dos direitos dos indígenas à época da chegada dos colonizadores europeus no novo continente.
2 A escrita das palavras é resultado de um pacto entre os professores Kayapó em curso de formação apoiado pela AFP. Todas as demais formas de representar as palavras em Mēbêngôkre cabem no mesmo argumento.
Pelo caminho atravessamos lugares marcantes na história do Brasil. Alguns deles são caminhos obrigatórios para qualquer um que deseja chegar até a terra de Tuíra. Outros foram caminhos que o acaso dos alagamentos proporcionou.
Primeira Paragem: Eldorado dos Carajás
Passando por Eldorado dos Carajás, observamos muitas barracas de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O movimento realiza anualmente, em abril, atos em memória dos 19 mortos em uma marcha que reuniu cerca de 1.500 trabalhadores sem-terra na região, sendo que dez deles foram executados à queima-roupa pela Polícia Militar do Estado do Pará, no que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996.
O tempo parece não passar em Eldorado. Ao retornar da viagem, busquei na internet vídeos e imagens que me pudessem confirmar esta sensação. Algo que se confirmou. A estrada, o acostamento, o monumento com as estacas fincadas no chão continuam lá. Como que nos dizendo o óbvio: que não podemos esquecer o que aconteceu naquele local. Mesmo 22 anos depois, o povo sem terra e suas bandeiras seguem ali fazendo seus memoriais para exigir justiça e garantir que barbáries como aquela não voltem a acontecer.
Em uma bandeira pude ler os dizeres: “Lutar não é crime!”.
Segunda Paragem: Pau D’Arco
Na sequência passamos por Pau D’Arco, onde ocorreu a execução de 10 trabalhadores rurais em maio de 2017. Diferentemente de Eldorado, a cidade de Pau D’Arco não tinha bandeiras, barracas ou sinal de memorial por seus mortos. O lugar, bem pequeno e com pouco comércio, desenvolveu-se à beira da BR-155.
Um caminho sem dúvida marcado por uma trágica história. Um estado feito de disputas de terra, de violência e muita desigualdade. Os meses de Abril e Maio seguem Vermelhos no sul do Pará.
A chegada
Finalmente, na noite de 11 de abril, chegamos à aldeia de nossa liderança indígena: Kaprãnkrere, na Terra Indígena Las Casas. De cara, vimos poucas luzes, sinal de que a energia elétrica não chega ali. Há apenas um gerador, ligado parte da noite, que ilumina os rostos pintados das crianças sob o céu noturno estrelado. Neste momento percebemos que um dos motivos pelos quais os povos indígenas são contra as usinas hidrelétricas é extremamente material: a energia elétrica não chega até eles. A energia dita “limpa” gera impactos diretos na vida do povo indígena e sequer ilumina esta aldeia.
Nos chama a atenção o posto de saúde indígena, grande e iluminado. Um prédio moderno como os que encontramos nas cidades.
Uma aldeia típica Kayapó: o centro vazio, certamente para as festas e rituais, com as casas no entorno, uma ao lado da outra, algumas atrás, formando uma segunda fileira de moradias. E, olhando mais de perto, do lado de fora do carro, vimos casas de alvenaria sendo construídas ao lado de casas de palha. Uma imagem que muito nos intrigou.
A casa de Tuíra estava cheia. Algumas mulheres estavam lá no entorno dela. O mistério aumentava pois não conseguimos vê-la rapidamente. Até que a vimos, nua, com as mulheres pintando seu corpo. Deixando-a bonita e preparada para nos receber? Talvez…
Seriam pinturas de festa? Pinturas de guerra? Não sabíamos…
Cumprimentamos Takaktô (Dudu), seu marido e cacique da aldeia. Cumprimentamos as mulheres, as crianças. Pingo, nosso guia, nos ensina os cumprimentos: Akàmatmej3 (“boa noite” em Mēbêngôkre, a língua do povo Kayapó, como vamos chamar daqui em diante). Tuíra nos olha e sorri. Um sorriso tímido, sorriso de uma senhora.
3 Na grafia das palavras em Kayapó, o j possui som de i.
A revista
Depois que as mulheres concluíram a pintura no corpo de Tuíra, sentamos em círculo e contamos um pouco a ideia da revista. Falávamos pausadamente enquanto Pingo, Dudu e Kaprãnpoi (outra liderança da aldeia), faziam a tradução e ouviam atentamente nossa apresentação. Para tornar nosso encontro mais tranquilo, propusemos iniciar nossas conversas para composição do texto da revista na manhã do dia seguinte, parando para o almoço e continuando no período da tarde. Tuíra ficou animada! Sorriu e nos acompanhou até a casa de costura, onde ficaríamos hospedados.
A casa de costura
Encontramos uma casa organizada, com várias máquinas de costura e alguns retalhos. Descobrimos então a origem dos vestidos que as mulheres Kayapó vestem no dia a dia. Pingo nos conta a história de que uma indígena foi até a cidade consultar um médico. Ela estava nua4, o que espantou uma senhora que igualmente aguardava o atendimento. A mulher foi até sua casa, costurou um vestido com os retalhos de tecidos de algodão que tinha e vestiu a índia Kayapó. No retorno à aldeia, sucesso! O vestido foi aprovado pelas mulheres indígenas, sendo adotado por todas. São coloridos, divertidos, leves e possuem cada um uma singularidade interessante, uma vez que elas não usam vestidos iguais apesar de serem todos do mesmo modelo: reto, cavado, formato de tubo, bolsos laterais e uma aba na frente. Lindo!
4 Lembramos do texto Erro de Português, de Oswald de Andrade: “Quando o português chegou/ Debaixo de uma bruta chuva/ Vestiu o índio/ Que pena!/ Fosse uma manhã de sol/ O índio tinha despido/ O português.”
Pensamos nesta ação antiga de “vestir” que os portugueses tiveram há mais de 500 anos, ao impor sua cultura, seu modo de vida aos que aqui viviam. Mais uma vez e tantas vezes vimos isso acontecer, nós estamos sempre a vestir o índios, mesmo nas manhãs de sol…
Os vestidos, que já tiveram confecção na cidade, hoje são feitos na aldeia pelas mulheres Kayapó, que os costuram rapidamente em máquinas sem motor.
Descobertas
A noite foi algo completamente mágico. Quente e úmida como de costume nas regiões amazônicas, céu estrelado de um tanto que era impossível contar. Assim como estava impossível contar ou discriminar os sons dos bichos que estavam à nossa volta – eram tantos que o sono demorou a aparecer – percebemos o quanto nossos sentidos ficam confusos na cidade. Os sons comuns dos carros, ônibus, buzinas, música alta, dos aviões, das ferramentas, das pessoas conversando, silenciados pelos sons assustadoramente altos da floresta, dos anfíbios, insetos, aves noturnas, animais grandes e pequenos, uns mais próximos, outros bem distantes, que rondavam nossos corpos esticados nas redes.
Amanheceu um dia lindo. Clima ameno, pouco calor, muita umidade. Os pássaros nos acordaram com berros infinitos. Os galos, moradores da aldeia também apareceram para demarcar seus territórios!
Tuíra nos trouxe uma garrafa de café e nos saudou com um bom dia:
“Akátimej!”
Rapidamente tomamos e agradecemos: “Mejkumren” (que significa “muito bom”), e seguimos com ela para sua casa. Dudu e Kaprãnpoi nos esperavam sentados.
Ligamos o gravador e combinamos de conversar sobre três assuntos principais: História de Tuíra; Luta – Tuíra Guerreira; Vida atual – Tuíra mãe e avó, aprendizados e ensinamentos.
A história de Tuíra
O pai de Tuíre nasceu na aldeia Kubēnkrãkêj – a aldeia-mãe. A mãe nasceu em Kokrajmoro, lugar onde conheceu o pai de Tuíre e onde Tuíre nasceu. Quem lhe deu este nome foi sua avó, dito e grafado deste modo: Tuíre5, com “E”. Ao perguntá-la sobre a origem de seu nome, ela confirma: “foram os kubēns6 que começaram a me chamar de Tuíra” – e neste momento não conseguimos identificar se havia um incômodo por parte dela quanto a esta mudança em seu nome.
5 Esta revelação em relação ao nome de nossa entrevistada sofrerá alterações ao longo do texto. Deixaremos mais evidente nossa intenção ao chamá-la hora de Tuíra, hora de Tuíre.
6 Kubēns é o modo como os Mēbêngôkre referem-se ao homem branco.
Sua família morou na mesma aldeia até Tuíre completar 17 anos, quando então mudaram-se para Kubēnkrãnkêj, aldeia de origem de seu pai, onde Tuíre permaneceu até seus pais falecerem. Mudou-se de lá ainda jovem, já com um filho nos braços, para a aldeia Àukre. Um dia foi visitar sua irmã na aldeia Gorotire e conheceu Dudu. Casaram-se pouco tempo depois. Os pais de Dudu e Tuíre são da mesma aldeia. A mãe de Dudu era de origem Xikrin-Kayapó. Os avós de Tuíre, tanto materno quanto paterno, eram caciques das aldeias Kubēnkrãkej e Kokrajmoro e se dedicaram a defender bravamente seus territórios. Guerreavam entre si antes do contato relativamente recente com os brancos.
Tuíre nos contou com pesar que seu avô Betikré, muito conhecido entre o povo Kayapó, resistiu e lutou o quanto pôde. Ao estabelecer uma relação de amizade com um kubēn, foi iludido e acabou caindo em uma armadilha. Mataram o avô, cacique, guerreiro, e o povo percebeu o quanto esta relação poderia ser perigosa. Tuíre revela que essa amizade com um homem branco “amansou” o avô e sua morte enfraqueceu a luta, deixou os guerreiros desorientados. A morte dos mais velhos e a aproximação dos brancos deixaram o povo Mēbêngôkre mais vulnerável: “Tudo foi ficando mais difícil”, revela.
Tuíre considera que a morte do avô materno está diretamente ligada à aproximação dos kubēns. Seu avô não pôde ser substituído: era único, um guerreiro valente. O modo amistoso como aquele homem branco se aproximou do avô de Tuíre, sem brigas, pelo contrário, com grande amizade, deixou a aldeia quieta. Perguntamos a Tuíre: “O que mudou de lá pra cá? Como você vê esta aproximação dos brancos?”
Ela nos conta que os brancos de antes vinham atrás de onça. A pele que custava caro. A seringueira e seu ouro branco, o látex, que também é extraído de uma árvore chamada Caucho. Hoje o homem branco procura outras coisas: ouro, madeira, minérios que estão nas terras dos indígenas. Para Tuíre, “os homens brancos do governo são mentirosos. Oferecem coisas para o povo. Mas o que precisamos mesmo, que é nossa terra, eles tiram da gente! O governo não consulta os indígenas. Ele decide de longe e manda! Nós índios continuamos aqui defendendo nosso território. Esta é a terra dos meus pais, dos meus avós. Os brancos não são daqui, não podem vir aqui pegar a nossa terra!”
Quando Tuíre se torna Tuíra!
Segundo Tuíre, seus avós e seus pais sempre a incentivaram a se tornar uma guerreira. Ela foi formada para defender o território de seu povo. “Aqui tem remédio, tem comida, tem peixe, tem tudo. Tem aqui alimento nativo que fortalece o índio. Os kubēns trazem doenças, veneno, agrotóxico.” Quando teve seu primeiro filho, se deu conta de que precisava proteger a floresta, a terra, a água, tudo isso também para os novos que chegavam. Neste sentido ela percebe que as crianças representam a continuidade, o futuro do povo Kayapó.
Seguimos com a conversa. Fomos tateando os movimentos dela, os sinais de disposição em avançar na produção de nossa relação. Atentos, buscamos nas lembranças de Tuíre aquele dia, mais de uma década atrás, em que ela usou seu facão contra a instalação de uma usina hidrelétrica, em favor do povo indígena. Ela nos conta que os Kayapó souberam da construção da Usina Hidrelétrica de Kararaô, hoje Belo Monte, por dois antropólogos que trabalhavam com algumas aldeias. Eles explicaram para a então liderança Bepkororooti Kayapó, também conhecido como Paulinho Paiakã7, primo de Tuíre como seria o projeto. Rapidamente mobilizaram recursos para levar o máximo de indígenas à audiência pública agendada na cidade de Altamira. Segundo a narrativa de Tuíre, chegaram indígenas de todos os lados, cortando caminhos pela terra, riscando as águas dos rios com suas canoas, flutuando entre nuvens. Vieram de ônibus, barcos e aviões pequenos, todos lotados de guerreiros Kayapó.
7 Liderança Kayapó, internacionalmente conhecida na década de 1990, pela denúncia contra a exploração da Amazônia, exposto na mídia pela acusação de abuso, hoje reside na aldeia Aukrê como referência do povo.
Perguntamos então a Tuíre: “Você já sabia o que fazer? As lideranças indígenas combinaram o que fariam na audiência?” Nossa expectativa era de compreender o sentido das táticas usadas naquela ação ainda viva quase três décadas depois. Mas Tuíre, com aqueles olhos miúdos e profundos, como uma onça em descanso, apenas sorri e responde:
“Eu já sabia o que fazer. Fui com o espírito preparado!”
Tuíra revela que, durante a audiência, quando o diretor da Eletronorte José Antonio Muniz começou a falar sobre o projeto, ficou muito brava. Sentiu que estava sendo desrespeitada por ele. Levantou-se e caminhou até a mesa onde estava o diretor e esfregou o facão nas duas faces dele demonstrando que estava pronta para o confronto: “Vocês podem vir.”
“Mas e depois?” – perguntamos a Tuíre o que as lideranças e demais indígenas, presentes naquela oportunidade que ganhou repercussão mundial, disseram.
Neste momento, Dudu, que estava sentado, pediu para falar. Disse-nos que todas as lideranças que estavam ali levantaram e saudaram Tuíre. Fizeram uma dança e cantaram o canto da vitória! A partir deste dia, Tuíre, uma indígena valente, guerreira, conhecida apenas por seu povo, passa a ser reconhecida internacionalmente. É a partir deste dia, deste ato, que Tuíre torna-se Tuíra, com “A” no final, e passa a ser uma referência. Nasce o mito, mulher, guerreira, indígena Kayapó. Para nós, esta é uma marcação importante da história e do texto.
Tuíre é a pessoa que nos conta sobre sua vida, sobre seu nomadismo, sobre sua família, expõe suas preferências, sua pintura, seus filhos. TuírA é a imagem, o símbolo, a guerreira do povo Mēbêngôkre, que tem disposição para lutar, caçar, brigar para defender o território e a cultura de seu povo.
Tuíre é a mulher, indígena Mēbêngôkre.
TuírA é a imagem, a guerreira que empunhou seu facão pelo povo Kayapó.
Denominada pelos kubēns, vamos adotar este nome como referência às ações de luta, de guerra, de relação com a sociedade branca.
Mas, para termos certeza, perguntamos a ela: “E como você gostaria de ser chamada, então?”
Ela responde com um sorriso: “Tuíre foi o nome que minha avó me deu!”
O gesto
Queríamos entender melhor os sentidos daquele gesto. O que seria este facão encostado nos dois lados da face?
Perguntamos à Tuíra, mas é Dudu quem encena e narra exatamente o significado destes objetos projetados ao alto ou que encostam em uma face.
Dudu busca uma borduna – uma espécie de cajado muito utilizado pelos indígenas nas manifestações, nas atividades fora da aldeia8. Falava ao mesmo tempo que encostava o objeto em meu companheiro de Escola, Cássio. Ele faz o gesto e seu corpo dança. Ele narra o sentido de passar o facão na face dos dois lados para pedir que o outro o respeite. E reforça que a borduna é utilizada pelos homens e o facão pelas mulheres.
8 É sempre curioso, quando encontramos indígenas em Brasília, especificamente em alguma audiência pública na Assembleia Legislativa, vermos ali na porta diversas bordunas que não podem entrar, pois são consideradas armas.
Dudu diz:
“Se kubēn fala com respeito, elas abaixam o facão [e neste momento ele salta para trás e abaixa a borduna]. Se kubēn fala com desrespeito, não deixa a mulher falar, ela ergue o facão” – e salta novamente, agora com a borduna para cima.
O medo
A conversa me impactou profundamente. Meus olhos sentiram a vibração dos gestos de Dudu, do dedo indicador de Tuíra que ajudava a explicitar seus pensamentos. Seus olhos que se apertavam para afirmar sua valentia. Tamanha intensidade no movimento de seus corpos, uma agitação que me atravessava ao ponto de marejar os olhos. Começava a perguntar a mim mesma se Tuíra sentiu algum medo. Porque eu sentia: sentia medo da borduna que se levantava, sentia os olhos energizantes de Tuíra que daquele momento em diante se transformara na onça que esperávamos encontrar desde nossa partida. Como no momento em que o onceiro vai se transformando em onça em Meu tio o Iauareté, de João Guimarães Rosa9. A presença dela nos trazia um medo diferente: uma espécie de encantamento, um agito no peito, uma descarga de adrenalina, um arrepio. O efeito Tuíra tomava meu corpo. Ela nos atravessava com uma energia impressionante. Então, venço meu medo e pergunto:
9 Conto presente no livro Estas Estórias, de João Guimarães Rosa, publicado pela editora Nova Fronteira em 2015.
“Tuíra, do que você tem medo?”
“Não tenho medo de nada!”, ela responde com a serenidade das onças, afirmando que, se alguém deve temer, são os brancos. Os brancos é que devem ter medo dela. E continua: “Não tenho medo nem de onça! Um dia eu estava com Dudu e Paiakã, passando pelo Rio Vermelho, quando duas onças vieram ao nosso encontro. Eles ficaram com medo, não gostaram não. Eu estava com meu facão e olhei para elas. Elas olharam para mim e se foram!” E acrescenta: “Não tenho medo de morrer! Estou pronta para caçar, para lutar, para me defender e defender os meus!”
Ela conta (e Dudu confirma) que ele é bem mais medroso do que ela. Lembram que um dia, na aldeia Gorotire, Tuíre estava com bebê pequeno no colo quando ouviu um bando de porcões (porcos selvagens) passando. Ela deixou o bebê, pegou um machado e saiu para pegar um dos porcos. Tuíre não só abateu um dos porcos selvagens, como também trouxe a caça para casa. Esta é uma atividade tipicamente masculina entre os Kayapó. Mas Tuíre estava desde 1989 acima das convenções, das divisões do que era próprio destes universos. Tuíre mistura as dimensões do masculino e feminino. Após aquele ato da audiência pública em Altamira em que Tuíre tornou-se figura pública, constituiu-se também em liderança indígena, participando das reuniões com os caciques e sendo convidada para as atividades, atos e manifestações de toda ordem. Tuíre passou a ser ouvida pelo seu povo e pelos líderes, tornando-se uma nova Betikré do povo Kayapó.
Até os dias de hoje, Tuíra é reconhecida como a única mulher Kayapó com tal notoriedade. No cenário nacional, temos hoje Sônia Guajajara, mas até então tínhamos apenas o nome de Tuíra como referência feminina em torno da causa indígena.
Tuíre mãe, avó e guerreira!
Perguntamos como funcionava este acúmulo de atividades. Tuíre nos disse que passou por diversas aldeias. Esta condição do nomadismo, presente no modo como ela explica seu pensamento e sua história, é bastante interessante. Tuíre tem dois filhos, um neto de três anos e outro a caminho.
Nos diz que está contando a sua história para o neto. E vai fazer isso também com o que está para nascer. Está contando sobre ela e seus antepassados para que ambos também sintam vontade de lutar pelo seu povo, encorajando-os assim como ela foi encorajada por seus avós.
“Não sei escrever, não sei falar português, mas eu luto! Meus netos vão estudar e vão ser guerreiros melhores do que eu!”, diz Tuire.
Ela manifesta muita preocupação com o futuro do povo. Segundo Tuíre, de modo geral os Kayapó procuram manter a cultura viva, a língua, os rituais, as músicas e danças. Mas revela também que alguns elementos estão se perdendo. Hoje em dia realizam somente uma festa com as mulheres, as demais são todas com homens. Sente também que a juventude poderia estar mais engajada nas atividades da aldeia: “O futebol está mais interessante para os mais jovens do que as danças, os rituais… Tem menino aqui que não sabe mais a música do milho”, acrescenta.
A luta, os aprendizados
Fizemos uma provocação à Tuíra sobre os aprendizados ocorridos com as lutas. Por muitos anos, os indígenas conseguiram impedir que o projeto de barramento no Xingu acontecesse, mas Belo Monte saiu do papel, então temos aí um cenário de talvez pequenas vitórias, seguido de uma contundente derrota. O que teria Tuíra a dizer sobre isso? O que diria aos povos que estão enfrentando situação semelhante de barramentos em outros rios, como o povo Munduruku no Tapajós?
Tuíra revela a percepção de que a Funai (Fundação Nacional do Índio) e o governo estão sempre em acordo, um acordo contra os interesses dos indígenas. Ela conta a história de um representante da Funai na época da construção da Usina de Belo Monte. Ele foi até ela e a convenceu de que todos os demais povos do Xingu estavam em comum acordo sobre a construção da usina, que apenas ela estava em desacordo. Eles disseram que a construção traria muitos benefícios para o povo Kayapó.
“O governo prometeu nos ajudar se a usina fosse construída. A promessa era de fazer somente uma barragem! Nada disso foi cumprido, nosso povo continua sem nada. Tem muita barragem sendo planejada e nosso povo virá com força! O telhado da escola caiu, as crianças aqui estão sem estudar. Eles mentem! Não acredito mais no governo. Não negocio nada com o governo!”
Parece que Tuíra neste momento começa a elaborar pela primeira vez a questão que lançamos. Ela visivelmente expressa no olhar os possíveis aprendizados desta relação entre indígenas e Estado e nos faz lembrar o texto clássico de Pierre Clastres, A Sociedade Contra o Estado10, em que o filósofo e etnólogo expõe a ideia de que as sociedades ditas primitivas deixam de ser pensadas a partir da imagem do Estado como doador único de sentido e, com ou sem Estado, passam a ser reconhecidas como sociedades contra o Estado por trilharem um caminho natural de não afirmar as instituições como fundamentais para sua sobrevivência.
10 Pierre Clastres. A Sociedade Contra o Estado. Ubu, 2017
Tuíra continua:
“É preciso ter cuidado com o governo. Nós estamos longe do Xingu aqui, mas vamos continuar cuidando dele. As barragens são muito perigosas, precisamos cuidar dos nossos rios.”
Tuíra afirma que, apesar de estarem distantes do Xingu, continuam a zelar por ele. Percebemos que o povo Kayapó sempre esteve muito ativo na interrupção dos barramentos, principalmente no Xingu. Hoje os povos mais atingidos por Belo Monte é que têm buscado seus direitos, e as grandes manifestações já não contam com o mesmo volume de indígenas Kayapós. No entanto, continuam travando suas batalhas.
Revelam Tuíra, Dudu e Kaprãnpói que um projeto da Ferrovia Paraense, um empreendimento do governo do Estado do Pará, está em andamento. A ferrovia vai passar a três quilômetros da Terra Indígena Las Casas e existe grande preocupação por conta das crianças. Outro empreendimento que tem unido não só o povo Kayapó, mas também o povo Munduruku e outros, é o empreendimento da Ferrogrão, obra que impactará cerca de 19 povos devido ao seu traçado, que pretende ligar o Mato Grosso ao Pará por trilhos.
Os Kayapós estão atentos. Sabem exatamente como as coisas acontecem no governo do Pará: não há abertura para conversas, para ponderações. O recado é claro:
“Não vamos aceitar nada. Aqui não vão existir obras grandes que venham do governo. Esta ferrovia não será construída aqui! Vamos à luta e vamos bloquear esta construção.”
“O que fazer, então?”, pergunto, preocupada com os empreendimentos que vão impactar todos estes povos.
“Precisamos estar juntos!”, diz Tuíra.
Uma provocação: “E se o presidente viesse aqui com bastante dinheiro para fazer outras barragens, o que você diria?”
“Nós liberamos uma barragem com a mão esquerda. Sou representante Kayapó e venho defendendo tudo o que temos. Eu deixei a barragem acontecer e eles tinham que arcar com o compromisso deles: melhorar a vida dos Kayapós. Hoje eles estão ricos, a energia está funcionando, mas e aqui na minha aldeia? Aqui não tem energia. Aqui não tem nada. Vou conversar com os outros parentes e vamos cobrar isso!”
Nesta parte final da conversa Tuíre era já Tuíra, a onça encarnada, a gesticular e falar alto. Uma voz aguda penetra nossos ouvidos disputando com a chuva forte que cai do lado de fora da casa de costura. Esta mudança de comportamento de Tuíre foi percebida por nós aos poucos. Ao chegarmos, encontramos uma senhora, uma Tuíre calma, tranquila, tímida, sorrisos frequentes numa face relaxada. Uma onça em estado de anestesiamento, como quando precisa de cuidados. Onde estaria a guerreira? À medida que Tuíre recorda suas memórias, as perguntas vão fazendo seu pensamento vibrar e algo se passa. Ela passa a olhar-nos fixamente nos olhos, ela gesticula, ergue a voz. Afirma com o corpo suas posições. Nos impõe sua presença guerreira: Tuíra está aqui! A onça agora acordada. Acabou-se o efeito do anestésico estamos inebriados do efeito Tuíra! Sua presença forte, determinada, despossuindo a nossa subjetividade ao impor a sua e dizer que não sente medo. Ao dizer que vai acertar as contas com o governo. Ao dizer que está sempre pronta para a guerra!
Essa energia em defesa da vida é o que mais nos falta neste ambiente opaco, que chamamos de civilização. _
Se preferir, baixe o PDF da revista Tuíra #01.
Tuíra, a imagem
Se a fotografia necessita do acontecimento para existir, ela por si só pode produzir ou inventar um acontecimento
Cássio Martinho
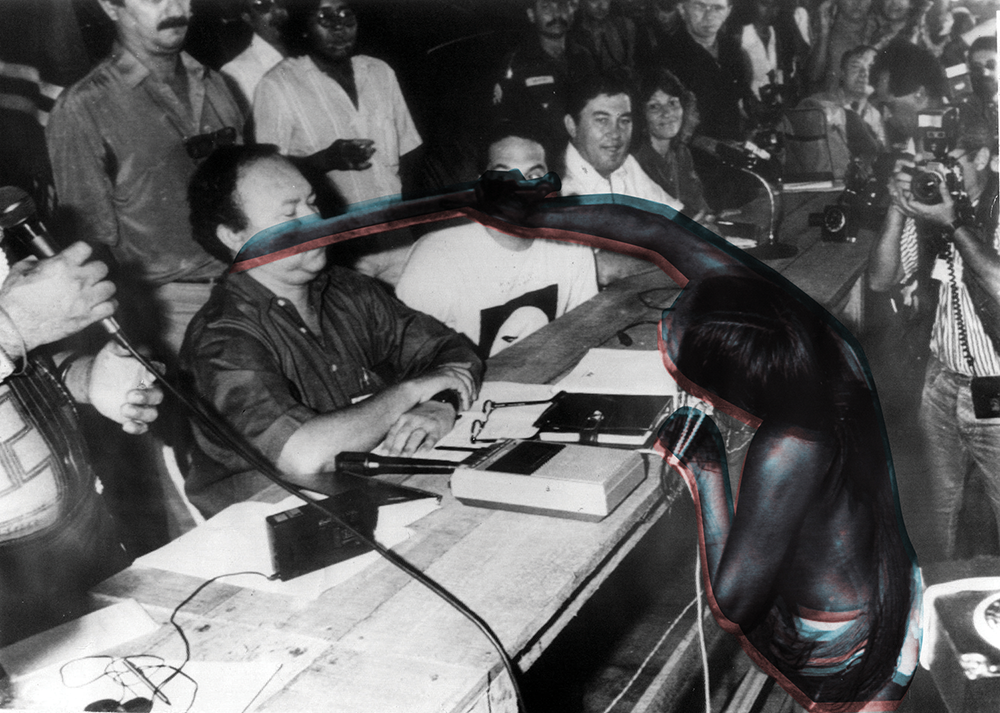
Tuíre, a mulher Mēbêngôkre, preexiste a qualquer fotografia que capture um breve instante de seu cotidiano, seja um momento político de luta num auditório longe de casa, seja na lida diária entre parentes, na intimidade da aldeia. Tuíre, mulher e liderança Mēbêngôkre, persiste e sobrevive a toda fotografia, ainda que possa ser transformada em alguma medida por ela. Tuíra, signo, é outra coisa; pode ter vida independente numa espécie de esfera das imagens ou no imaginário coletivo de uma luta ou de uma constelação de ativistas. Tuíra, mito, pode emergir da circulação dos signos e das imagens de luta em circuitos de mídia e sociabilidade, de redes de interação sociopolítica para além das fronteiras de seu território de experiência. Tuíra, mito, pode aliás viver em outros territórios existenciais com atributos notadamente distintos da Tuíre “original”.
Tuíre, a pessoa, cujo nome foi grafado erroneamente pelos kubēn, existe na condição irredutível da singularidade de sua própria vida. Tuíra, o símbolo, é um móvel nos fluxos de enunciação política que múltiplos atores operam em seus jogos de poder e contrapoder.
É claro que a separação entre os planos da existência concreta e do símbolo desaparece em algum ponto: Tuíre se alimenta de Tuíra, há um devir-Tuíra de Tuíre, na experiência humana o corpo e o signo são indissociáveis, e é só para facilitar a reflexão que às vezes colocamos de lado temporariamente as camadas de um mesmo fenômeno.
Na casa de Tuíre, em Kaprãnkrere, sua aldeia na Terra Indígena Las Casas, no sudoeste do Pará, há um grande pôster de Tuíra encostado a um canto a “decorar” o ambiente ou a sinalizar a convergência possível entre a pessoa e seu próprio ícone glorioso.
Do mesmo modo, pode haver um devir-Tuíre de Tuíra: o símbolo saindo em busca da pessoa. Este é um desafio que o pensamento político do ativismo de hoje (tão hábil que é em manejar os discursos e as imagens) pode vir a confrontar num tempo de crise do (próprio) espetáculo.
+
É possível considerar, para prosseguir numa análise livre do tema Tuíra, estes três elementos: a cena, o ato, a foto.
A cena
Há um vídeo que mostra a cena. Flashes de câmera espocam; há uma barreira de fotógrafos e participantes em torno da mesa de uma audiência pública em Altamira, no dia 21 de fevereiro de 1989. O cacique Kayapó Paulinho Paiakã e o ambientalista (à época deputado federal) Fábio Feldmann ladeiam o engenheiro, então diretor da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes. A jovem Tuíre está ornada com uma faixa de contas no cabelo sobre a testa, dois longos colares de miçangas (um azul, outro, vermelho). Suas mãos estão pretas pela mistura de carvão e jenipapo. Tuíre fala palavras indignadas primeiro batendo a lâmina do facão contra a superfície da mesa, depois brandindo-o no alto em frente ao engenheiro. Feldmann, em pé, então se senta. Tuíre, neste momento, pressiona a lâmina na face direita, em seguida na face esquerda de Lopes, cuja cabeça cede ligeiramente para os lados sob a pressão do instrumento. Tão logo realiza seu ato, Tuíre vira as costas para a mesa e sai. Por trás da mesa, um bloco de corpos masculinos permanece estático enquanto tudo se desenrola: os homens não se mexem, nenhum braço se levanta. Feldmann observa a reação do engenheiro e a saída de Tuíre.
Lembrando: trata-se de uma cena de vídeo. Há duas tomadas, dois planos. Há um burburinho como ruído de fundo: o lugar parece cheio, movimentado. Quando Tuíre termina seu ato, o vídeo também termina. O contato físico do facão contra o rosto do engenheiro não dura mais do que três segundos.
Há uma fotografia da cena: na mesa do encontro de Altamira encontra-se Paiakã em pé, a barriga enfeitada com o tradicional grafismo Kayapó, com um microfone na mão, o que sugere que nesse momento é ele quem tem a fala. Paiakã observa a ação de Tuíre. Feldmann, também em pé, de camiseta branca, mira o engenheiro. Sobre a mesa, gravadores, alguns fios, caderno, papéis. Um homem de camisa clara olha Tuíre com um meio sorriso. Ao fundo, vê-se um homem de camisa escura que bate palmas, um soldado de bigode, um rosto de mulher, uma faixa que trata da “vida” dos índios (a palavra “vida” é só sugerida: um punho erguido oculta a primeira sílaba presumida), onde se pode ler também “CIMI”, a abreviatura do Conselho Indigenista Missionário. Há muita gente no recinto. O cenário do fundo do “palco” é revestido por um emaranhado de folhas de palmeira. Um outro homem de bigode testemunha o facão sendo balançado no ar e traz a mão sobre a boca e o nariz. Um esperto fotógrafo aponta a câmera para a jovem indígena em ação. Tuíre é vista de lado, o braço do facão esticado em frente ao engenheiro que recua um pouco a cabeça para trás, olhar baixo, braços cruzados sobre a mesa, impassível. Um braço de Tuíre cruza o corpo logo abaixo de um seio; vemos os colares rodeando o tronco da moça; a boca está aberta porque ela fala (ou grita). A fotografia registra a cena em preto e branco.
Há outra fotografia da cena, tirada de um ângulo ligeiramente à esquerda da primeira: a camisa do engenheiro é azul; Feldmann está agora sentado e seu rosto é ocultado pelo cabo do facão que corta o quadro. Do homem ao fundo que batia palmas com os braços erguidos agora só se vê o rosto e os óculos. Um pequeno gravador é preto; outro gravador de mesa é branco. Os colares azul e vermelho caem ao redor de Tuíre; fios pendem dos cabelos, brincos de contas pendem da orelha esquerda; é possível notar o tom avermelhado da pintura corporal à base de urucum. A luz do dia atravessa uma treliça de cobogós que cerca o espaço (um ginásio, uma quadra?) do evento. Há muitas pessoas. A faixa está lá e a primeira sílaba da palavra “vida” surge; a segunda está oculta pelo que parece ser também um punho erguido. “Pela vida dos índios” diz o texto pintado no pano. Uma linha quase completamente horizontal divide a fotografia em duas metades: o braço estendido de Tuíre sustenta o terçado longo e rijo e o pressiona sobre a face do engenheiro. O punctum da imagem, segundo o famoso conceito de Roland Barthes1, situa-se na bochecha do homem: sob o peso da lâmina, um naco redondo de pele brilha. Ele parece ter os olhos apertados, mal respira. A linha tesa e tensa – uma linha de força – segue da ponta do nariz de Tuíre até a testa lisa e acentuada do representante do Estado. O dedo indicador de Tuíre, que dirige o facão, aponta o engenheiro. A ponta do facão ultrapassa o limite da orelha do homem.
1 Roland Barthes. A câmara clara. Edições 70, 1981. Talvez não seja por coincidência que o punctum surja aqui. Para o semiólogo francês, em contraposição a uma forma genérica, ampla, analítica de ver as imagens – chamada de studium –, o punctum é um elemento da foto que “salta da cena, como uma seta” e que vem perturbar quem a olha. Punctum, em latim, designa “essa ferida, essa picada, essa marca feita por um instrumento aguçado”, diz ele (p. 47).
Extracampo
Voltando à cena. Existe um relato de indígenas presentes ao encontro que dão conta de algo que as imagens não mostram. Enquanto Tuíre se indignava em frente à mesa, guerreiros Mēbengokrê tomavam posição de alerta com suas bordunas e flechas, meio agachados, as pernas flexionadas para dar um bote.
Tudo isso que não se encontra no quadro habita o extracampo da foto. A cena, factual, irremediavelmente se perdeu; remanesce apenas na lembrança de quem participou do evento 29 anos atrás. Esse extracampo está perdido.
Uma legenda explicativa pode construir uma atmosfera ou cenário e assim elaborar um contexto de referência para a visualização de uma fotografia. Mas há um extracampo (o exterior para além do quadro) que, mesmo não estando no quadro, habita a fotografia e a compõe. Toda imagem convoca um extracampo para constituí-la, sem o qual seu sentido deixa de existir plenamente. Na medida em que recorta um quadro, os limites da imagem bordam a própria interface entre o que está ali e o que não está. O extracampo é uma extensão inventada pelo “campo” de visão. Toda imagem solicita o olhar para reconstruir a totalidade da cena, da qual a foto é apenas uma parte destacada.
Isso quer dizer algo mais: a cena onde se desenvolve a ação de Tuíra pode também ser produzida pela imagem. A fotografia também pode fazer a cena. O fenômeno fica mais evidente neste caso em que um registro torna emblemático um momento e transforma uma personagem viva em ícone. A cena factual irremediavelmente perdida retorna na forma de uma “cena substituta” – e é essa que passa, para todos os efeitos, a valer. O famoso encontro de Altamira de 1989 com suas cores e seu clima tenso! Há, assim, um processo novo apresentado aqui: se a fotografia necessita do acontecimento para existir, ela por si só pode produzir ou inventar um acontecimento.
O ato
Há atos brandos e há atos de força. Há uma gramática dos atos de força e, portanto, é preciso considerar antes o código que organiza e situa os atos no amplo quadro de referência que confere a eles a força que têm. O ato de força depende de uma cena e carece de uma plateia e de uma audiência. A força sem a cena é nada. Há também uma relação forte, que passa pela cena, entre a força e a imagem. Uma imagem forte exige uma cena forte, um ato forte. Um ato forte exigiria por sua vez a força de uma imagem correspondente.
Tomando como base a tese de que uma imagem pode produzir a cena, é possível aventar a hipótese de que também a imagem pode produzir a força.
+
Tuíra costuma falar uma fala rápida, aguda e abrasiva, com o dedo indicador em riste. A língua Mēbengokrê, de modulação curta e um tanto dura, com muitos “R”, parece acentuar o discurso eloquente. O dedo em riste é reforço da contundência. O timbre agudo da voz de Tuíra torna-a mais “incisiva” (como narra o locutor de um vídeo sobre os fatos de 1989).
Tuíre um dia conta, quando perguntada sobre como se deu seu gesto disruptivo naquele dia distante, que tudo foi espontâneo, sem planejamento específico, que o ato apenas emergiu – num impulso gerado pela indignação, podemos interpretar. Tuíre diz que a preparação para a ação é algo incorporado nela desde a infância. Está pronta para a luta desde sempre. A luta a constitui.
Se o impulso existiu, se a indignação gestada ao longo do tempo em que passou ouvindo a fala enrolada dos homens do Estado está na origem do impulso e o produz como espasmo, pelo que mostram as cenas do vídeo, seu ato de força não é propriamente espasmódico; Tuíra exibe um controle fino: no manejo do instrumento, no compasso da fala, na precisão do afago forte da lâmina na bochecha brilhante do engenheiro. O controle fino transparece também na duração do gesto: são três segundos de drama, que encerram toda a potência da cena (uma multidão de indígenas armados de bordunas e flechas se esparrama ao redor do pequeno palco, como mostra outra imagem de vídeo). É também com precisão calibrada que Tuíra encerra o ato. O afago do facão é o último gesto, a exclamação final do discurso, depois do qual é preciso retirar-se para deixar que seu impacto ressoe ali, se desdobre no tempo, como um eco, contamine a atmosfera, se misture ao lugar. Parece ter sido esta a tentativa: fazer persistir o sentido para além da vida útil de seu suporte, mensagem que sobrevive a seu mensageiro.
Tuíra precisa sair de cena para deixar na cena o afago do facão. Puro gesto calculado, ato político total.
Está lá, numa hipotética gramática dos atos de força, que é preciso suspender de algum modo o continuum do tempo para deixar reverberar a força como símbolo. É o mesmo recurso utilizado pelo orador eficiente quando eleva a voz para lançar sua bomba retórica final e a encerra com um silêncio.
Em geral, no mundo das manifestações políticas, hoje o clímax é sucedido quase imediatamente por uma explosão de palmas e gritos, após o que, fingindo modesto constrangimento, o orador é cumprimentado por colegas de palco numa típica firula autocongratulatória. Em 1989, Tuíra escapuliu dos holofotes, se misturou à turba de cocar. Podemos imaginar ali, depois do fechamento do gesto, um grande urra em uníssono indígena, talvez uma bateção de pés no chão, um pancadão de índio atordoante. Pelo vídeo não se pode saber o que aconteceu. Mas o gesto, em sua radical teatralidade, ficou, em flutuação significante, pairando sobre a cena, num tempo congelado de silêncio.
O entorno (vamos chamá-lo assim) do ato de Tuíra é curioso quando analisado por meio das imagens. Ninguém parece ter antevisto a “ameaça”: nenhum braço se levanta, Paiakan não se mexe, Feldmann decide sentar-se, o diretor da Eletronorte emula um Buda. Ou o gesto de ameaça pega a todos de surpresa, ou, o que parece mais provável, ali opera um código compartilhado que mantém a possibilidade do ato circunscrita ao campo próprio da retórica política (mesmo indígena). O afago do facão teria sido um procedimento discursivo previsto no código daquele momento tenso e, desse modo, passível de ocorrência, em suma: um ato normal. Ninguém contava, porém, com o tamanho do silêncio que se seguiria.
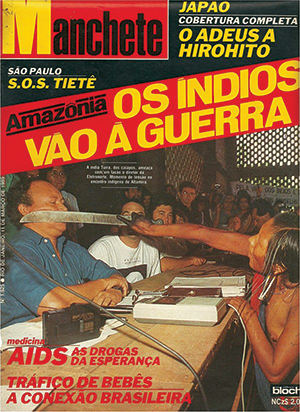
O título anuncia: “Os índios vão à guerra”.
A foto
Alguém um dia disse que uma foto é o tempo congelado (ou “o instante contínuo”, como afirma o título de uma história particular da fotografia do ensaísta Geoff Dyer). O tempo congelado deve ser, possivelmente, um lugar silencioso.
Pelas cenas de vídeo, quando Tuíra susta teatralmente o gesto do facão e some, quer convocar um tipo de interrupção congeladora do ato político para potencializá-lo. Mas o tempo o consome e também some com ele. O urra dos índios (a cena imaginada) toma o lugar; há caos, alarido, distúrbio. O silêncio é um recurso escasso, frágil.
Já a fotografia, não, ela extrai o silêncio e o sustenta firme ali onde Tuíra desejou que flutuasse. Na capa da revista Manchete, mesmo com a balbúrdia gráfica dos títulos em amarelo e vermelho, há um silêncio congelante que mantém vivo, permanente, constante, contínuo, talvez eterno, a faca-só-lâmina do instrumento político de Tuíra contra a pele reluzente do Diretor. Está lá agora. Encontrar-se-á ali daqui a pouco. O “instante decisivo” de Cartier-Bresson. Em sua minúcia, em todo seu drama. O Diretor-do-Estado como estátua. O deputado sem rosto. O público apartado. A índia em gesto tenso. A pele vermelha. O contato. O objeto que é/não é uma arma. A pressão contínua. O afago eterno do facão.
+
A fotografia de Tuíra com seu facão em ação sobre a face do Estado evoca tudo o que se espera da luta. A luta continua, decerto, e o tempo congelado a sustenta. A luta é constante, sabemos, mas há um momento, que se anuncia no tremor da bochecha que por enquanto resiste, em que a pressão, a força empregada de forma sutil pela mulher que o confronta, fará o Estado ceder e tombar de lado, sem sangue, sob o peso da precisão, da tenacidade e da astúcia.
A imagem de instante decisivo, como essa, realiza um fenômeno de condensação; faz parecer que “tudo” está ali: a história inteira. A imagem parece conter o conteúdo todo.
Em 2018, outra imagem histórica, de Francisco Proner, que mostra do alto Lula sendo carregado pela multidão no dia de sua prisão em São Bernardo, vem condensar toda a narrativa sobre um mito. Os extracampos da cena e outros recursos analíticos podem colaborar na composição do relato da história, mas o drama está todo inscrito ali em seus múltiplos tons e cores, na hiperatividade dos pontos, no deslizamento das linhas de fuga da imagem. O fenômeno dessa condensação simbólica primeiro opera por reter na imagem toda a força do drama (do sonho ou do desafio); em seguida, desencadeia os fluxos da narrativa e faz rolar para fora da cena (na imaginação ou na memória) os nexos que unem a cena à vida. Há uma pulsão da narrativa no tempo congelado. Descongelar o tempo, derretê-lo, é narrar.
A foto do facão de Tuíra fez crescer a narrativa de uma luta. Junto, fez nascer um mito.
O mito, se sabe, é narrativa.
Gramática
Uma imagem é compreendida no âmbito de um regime das imagens. Uma imagem é escolhida, destacada, tornada emblema, no âmbito desse regime. Do mesmo modo, uma imagem é produzida levando-se em conta uma possível (projetada) posição relativa da fotografia que se vai produzir na constelação de todas as imagens.
“A fotografia transforma e amplia nossas noções sobre o que vale a pena olhar e o que efetivamente podemos observar”, afirma Susan Sontag2. “Constitui ela uma gramática e, o que é mais importante, uma ética do ver”. Assim como há uma axiologia e um sistema técnico dos atos de força, há essa mesma gramática que baliza toda foto, todo ato de fotografar. Naquele dia em Altamira, a presença daquele “batalhão” de fotógrafos não era à toa, pulsava algo de muito fotografável no ar. Aliás, pelas imagens que nos chegam, tudo era fotogênico e interessante. A massa de índios: uma imagem faz você sentir o cheiro e a temperatura da multidão. Uma jovem Tuíre quieta surge, o fundo desfocado, facão na mão, olhar marejado e perdido, numa placidez inusual (cf. pág. 39). Valia a pena olhar.
2 Susan Sontag. Ensaios sobre a fotografia. Arbor, 1981, p. 3.
Um regime expressa uma economia política das imagens. É nesse circuito que se pode inserir um mito; é a partir e dentro desse âmbito que o mito, feito imagem e pela imagem, pode ser construído. Toda câmera apontada, suspeito, desejava revelar um mito ali.
+
Do mesmo modo como o significado de uma fotografia só se dá na relação com as imagens que a precederam, uma fotografia dispara outra série de imagens a partir dela – e pode, se bem sucedida, fundar uma linhagem. É assim, também, com o mito. Para o bem e para o mal, uma fotografia retroalimenta o fluxo de produção de imagens: ora inova o código visual e abre novo campo de possibilidades; ora faz reforçar um viés, cristalizando uma perspectiva, contribuindo para tornar hegemônico um modo de ver. É certo que na origem de todo clichê existiu um dia algo novo; o estereótipo nasce sempre de um original.
Depois de quase vinte anos do primeiro episódio do facão, tivemos outro, em maio de 2008, também em Altamira. Nas imagens de vídeo disponíveis, podemos assistir Tuíra circulando pelo ginásio em frente à mesa a brandir no ar, em grandes voltas enérgicas, o seu instrumento (então já icônico). O gesto, devidamente codificado, carregava na ocasião o sentido produzido e transformado pelas imagens e sua circulação. Tínhamos ali a reencenação do acontecimento inaugural, seu retorno como mitologia.
No repertório dos atos de força indígena, o facão de Tuíra passara a ter outro lugar; ganhara um verbete próprio.
No ginásio de Altamira em 2008, importam menos os resultados da exortação de Tuíra à luta (um grupo de guerreiros toma a cena, cerca um novo engenheiro representante do Estado, derruba-o, rasga suas roupas e o fere com um corte no braço). Do mesmo modo como uma palavra produz efeito conforme o contexto em que é proferida, o facão-no-ar só foi lido como foi por conta daquela circunstância. Importa é que o signo foi compreendido, porque incorporado ao léxico da luta em sua nova dimensão.
Pode-se presumir que também a cena de 2008 adicione ao signo outra carga de sentido – em 1989, o afago-do-facão ajudou a sustar o projeto de Kararaô; em 2008, o facão-no-ar compôs o quadro-do-engenheiro-ferido numa linha do tempo que culmina com a derrota em função da construção de Belo Monte –, qual seja: a de que o signo é instável, e, talvez por isso, mais perigoso.

Clichê
Uma rápida busca na web vai revelar outras imagens de Tuíra e seu facão. Elas contam um pouco da dinâmica de fabricação do mito. O fato de as fotos terem sido feitas daquele modo indicam sua condição intertextual. Uma Tuíra jovem numa aldeia, vestindo um típico vestido Kayapó vermelho, segura de um lado uma criança; de outro, seu facão ereto. É um mau retrato, burocrático, mas tem a clareza de remeter seu sentido diretamente ao evento inaugural do mito – uma foto apenas remissiva, por isso tão explícita acerca do jogo que ela joga. O olhar baixo da criança, da imagem, talvez diga mais sobre as outras dimensões da luta e da experiência indígena, mas, no circuito das imagens políticas da causa, ela é apenas subsidiária da primeira grande foto, caixa de ressonância da primeira, seu eco tardio.
Outra imagem mostra Tuíra de baixo para cima, o facão no alto da cabeça. Ela veste um vestido estampado com círculos, tem nos braços listras pintadas de carvão e jenipapo e, nos punhos, duas pulseiras de miçangas amarelas. Tuíra agora é uma mulher de meia idade. O modo de exibir o facão é diferente: sobre a cabeça, na horizontal, segura com uma das mãos o cabo; com a outra, a ponta da lâmina. A série intertextual dessa foto traça um percurso mais distante. Ela não só remete, claro, à foto de 1989, mas carrega na composição do quadro todo um conjunto de procedimentos discursivos visuais de uma tradição política ocidental de luta. É uma figura típica dessa tradição – a conotar força, às vezes, vitória, triunfo. Já vimos muitas vezes armas empunhadas dessa forma. Trata-se, aliás, de um grande e antigo clichê. O fato de ser antigo não o impede de ser atualizado dia a dia.
Se se pode concluir que essas duas imagens míticas de Tuíra são essencialmente ocidentais – e, portanto, brancas, não indígenas –, não é possível afirmar que a luta indígena não se valha deliberadamente delas. É aqui, de alguma forma, que há um nexo entre Tuíre e Tuíra. Pode aí haver um encontro – uma tática da luta; pode aí também encontrar-se uma separação, que talvez nos escape.
+
O clichê tem poder. É o poder do símbolo: seu compartilhamento intersubjetivo, seu reconhecimento, sua função de agregação e de organização, seu apelo ao corpo, sua capacidade de mobilização. O clichê tem uma fraqueza: é o símbolo degenerado, enfraquecido; o símbolo banal. Ocorre que nem todo símbolo decai a clichê – aí, nesse caso, encontramos outro tipo de força, sua resistência à banalização.
De fato não é tão simples precisar a condição do valor simbólico de um signo (ou de um mito) nesse continuum da flutuação símbolo/clichê. Tudo pode mudar: a circunstância histórica, os agentes, a importância relativa do discurso, as razões, os propósitos. A questão que permanece desafiadora para o ativismo é justamente essa flutuação e, em geral, a precisão e a pertinência que a luta simbólica exige do manejo dos símbolos. O cliché é fácil, o uso do clichê é fácil, é possível até um uso inovador do clichê. Difícil é o caminho que o recusa.
Resta dizer, de todo modo, que as imagens de Tuíra e seu facão já encontram-se devidamente repertoriadas, talvez enquadradas. Uma questão é se estão destituídas de força, se mantêm sua força – ou se há um modo de operação que condiciona a força que têm ou possam vir a ter.
+
Há um campo vasto de reflexão sobre o mito e o clichê. E estudos de casos fascinantes a fazer ou examinar – Che Guevara, Frida Kahlo, o pasa-montañas zapatista, Marielle Franco – e sua re-incidência sobre o mundo. Há outro campo vasto sobre os quase-mitos, ou sobre a potência irrealizada do mito que nunca chegou a ser. Há o campo vastíssimo da vigência da ausência do mito.
+
Numa conversa em sua casa na aldeia Kaprãnkrere, Tuíre se exalta ao dizer que os kubēn são mentirosos, todos mentirosos, falseiam tudo, tudo o que dizem é mentira. Ela repete essas variações da mesma ideia com o dedo em riste, apontado, como um facão.
Há uma foto de Tuíra numa sessão do Congresso Nacional em que ela eleva a ponta de sua mão, seu instrumento, na direção de um (outro) representante do Estado. Todos compreendemos a virtualidade e sabemos qual objeto Tuíra de verdade empunha ali.
É o que, da imagem, salta para o real. É o que, uma vez despencado sobre o real, segue com ele sempre.
In/Visibilidades
O que muda num acontecimento quando se “eleva” a capa da revista Manchete? Muda certamente sua influência sobre os demais acontecimentos. O que se pode dizer sobre ele também é que passou no teste da noticiabilidade: provou ser capaz de superar uma multidão de outros acontecimentos na competição por um espaço escasso de visibilidade. Chegou lá.
A noticiabilidade é um critério de seleção – estabelecido socialmente e, como tal, compartilhado e reproduzido. Sabe-se que grande parcela da luta política tem como objeto a própria reorientação dos pressupostos valorativos que culminam mais à frente na noção de noticiabilidade. Uma luta pode ter a necessidade de criticar o que e quem pode dizer o que é notícia ou o que não é, quando o fato é bom ou ruim, útil ou imprestável para ser notícia.
Que Tuíra tenha sido ungida como mito a partir de um processo de circulação de sentidos pela mídia não retira dela ou da luta indígena ou da situação crítica do enfrentamento contra Kararaô/Belo Monte qualquer atributo específico; atesta que a imagem (ou a luta) acedeu a determinada instância por uma relevância que lhe foi conferida socialmente. Uma meta de toda luta é dotar-se de relevância. Por si só esse é um desafio posto a todo ativismo. É um trabalho árduo – especialmente quando luta contra a própria noticiabilidade hegemônica.
+
De novo, eis o problema da produção e da circulação das imagens e de sua contribuição para fortalecer o sistema hegemônico dos símbolos ou, numa outra perspectiva, para enfraquecê-lo ou transformá-lo. Um problema teórico e um problema tático. Que podem ser expressos pelas perguntas: Para quê visibilidade? Qual visibilidade interessa? O que é passível de visibilidade? O que é digno de ser visto? Cada imagem produzida e publicizada responde a essas questões de alguma forma.
+
No ativismo, a visibilidade tornada regra, e assumida irrefletidamente como ingrediente padrão de uma fórmula pronta da tática, muitas vezes só leva a um impacto pífio. O ir-para-a-rua como tática default se enquadra nesse caso. Realizar uma ação espetacular para a mídia, igualmente. Foto-oportunidade, idem. Atos que têm o propósito de produzir visibilidade acabam muitas vezes apenas por serem reconhecidos como atos-que-têm-o-propósito-de-gerar-visibilidade; visam produzir um efeito e são lidos apenas como atos de efeito. A disfuncionalidade não reside somente aí. A repetição estereotipada das táticas produz, em seu conjunto, uma decorrente diminuição geral da capacidade de impactar dessas táticas, uma dessensibilização, a erosão da condição de sensibilizar. A inflação simbólica gera perda de valor. Torna-se mais difícil ainda comunicar.
+
Para Roland Barthes, uma “imagem veicula fatalmente outra coisa que não ela mesma, e essa outra coisa não pode deixar de ter relação com a sociedade que a produz e consome”3.
3 A informação visual. Publicado em: Roland Barthes. Inéditos, vol. 3: imagem e moda. Martins Fontes, 2005, p.74.
Quando o ativismo age sobre e na produção das imagens, é sobre essas outras coisas que ele deve ou pode atuar.

+
Parece óbvio que ativistas escolham para compor o imaginário de uma causa os signos que evoquem a bravura, a agilidade, a força, a resistência, a astúcia. Falamos de um regime das imagens, mas elas combinam-se também a outros elementos discursivos no âmbito da esfera mais ampla da significação política lato sensu. As imagens se referem a esses signos – gestos, palavras, emblemas, coisas – bem como são referidas por eles. Qualidades como agilidade e força, inteligência e astúcia são valores da política do conflito, do confronto e da negociação.
Outros critérios passam a valer quando mudam os quadros de referência e outros valores fundam os fluxos simbólicos necessários para os fins em jogo. Por isso, abundam as imagens que evocam colaboração, senso de conjunto, ação coletiva e comunidade nas cadeias semióticas do trabalho de desenvolvimento social das ONGS, por exemplo. Para cada segmento, digamos assim, há um projeto de imaginário que prevalece, sintaxes visuais particulares, mitos e estereótipos diferentes. O empreendedorismo pede figuras de pessoas vencedoras de olhar altivo; a educação, gente sorridente e ativa; o sindicalismo, multidões reunidas em assembleia; e assim por diante, numa série numerosa e variada, nas quais praticamente clichês sempre estão presentes mas são sempre diferentes. A convencional família de margarina da publicidade de mercado não cai bem, por exemplo, num panfleto de luta. Os códigos visuais se estabelecem por diferenciação recíproca. São escolhas.
A fotografia documental há muito tem sido forçada a enfrentar as questões éticas da visibilidade. A “ética do ver” de Sontag pressupõe uma política ativa da visão, recorta previamente os contornos do que torna visível e do que deixa ficar na invisibilidade. Toda ação de iluminar é também ato de jogar sombra sobre as coisas. Uma política da visão e da visibilidade requer, num outro enfoque, que, num caso particular, seres humanos possam também decidir controlar ou interferir sobre o uso ou o destino das imagens nas quais habitam como objetos fotografados.
A invisibilidade como direito é a outra face do direito à visibilidade. Na sociedade do espetáculo, há quem deseje fugir ao espetáculo. Na luta política, agir ou não no âmbito da espetacularidade é uma decisão de amplas consequências para a vida.
Instante decisivo
Brasília, 25 de abril de 2018, Acampamento Terra Livre. Entre as tendas onde se reúne um grupo de Mēbêngôkre da aldeia de Tuíra, uma mulher “branca”, de ascendência Aranã (mas disso ninguém sabe), acaba de ser pintada por uma mulher Kayapó. Ela pede uma foto com o grupo da tenda, onde se encontram Tuíra e o cacique Dudu, seu marido. As mulheres vestem lindos vestidos típicos, faces e braços pintados, adereços de miçanga amarela; os homens exibem o peito coberto pelo grafismo bicolor Kayapó; o cacique carrega um cocar de penas cor-de-laranja, colar azul, braceletes de miçanga verde-amarelas. À sombra das árvores, sentados, se ajeitam para a pose.
É uma foto de celular. Algo de perturbador percorre a imagem: um ineditismo, uma presença incômoda, uma espécie de falha, uma linha de fuga, uma disparidade. As pessoas da foto riem. Todas riem. O cacique ri. Você olha fixamente, olha de novo.
Tuíre ri.
+
A pessoa que opera a câmera dispara o obturador naquele instante. Quem decide qual é o “instante decisivo”?
Na busca do preciso momento que pode dizer tudo, sabe-se que uma imagem não conta toda a história e que o registro do “decisivo” diz mais sobre nós do que sobre tudo o que acontece. Pois Tuíra poderia ter nascido dos olhos úmidos de Tuíre naquele dia de 1989 em Altamira?
Poderia haver um mito construído a partir de um molhado olhar indígena? Se uma gramática das imagens da luta impede uma formulação assim, talvez seja necessário trocar de gramática. _
Se preferir, baixe o PDF da revista Tuíra #01.
A guerra invisível e o facão no rosto do desenvolvimentismo
O ato guerreiro de Tuíra, para além das chaves de leitura convencionais, se recusa a falar a linguagem política dos brancos
Salvador Schavelzon
e deve ser lido a partir dos próprios pressupostos da luta indígena
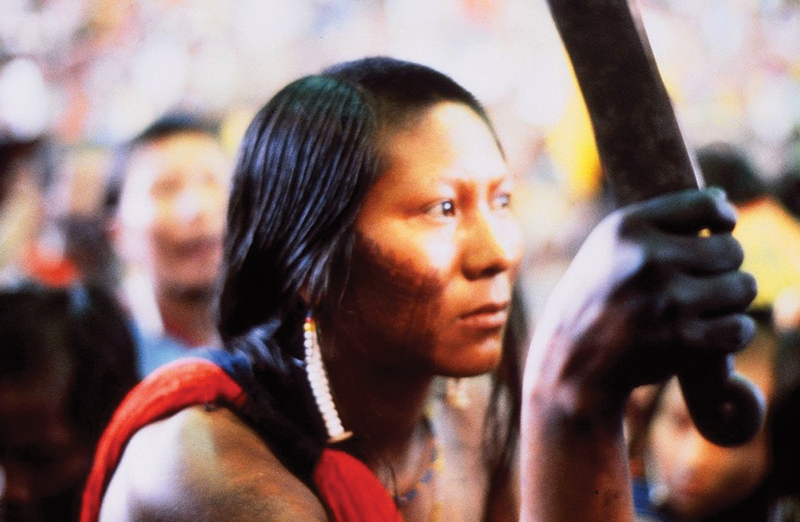
1
Qual o efeito de uma ação simbólica, como aquela que protagonizou Tuíre em 1989, quando encostou um facão no rosto do diretor da Eletronorte?
O que nos diz essa ação hoje, depois que a represa de Belo Monte foi construída e inúmeras hidrelétricas, dutos, estradas e plantações avançam sem parar sobre a Amazônia?
É apenas um gesto performático que representa uma oposição política, nos remetendo assim ao campo da política institucionalizada para entender seu sentido? Ou podemos ver no gesto uma força que fala desde outro lugar?
Entre as populações tradicionais do Brasil e o desenvolvimento econômico promovido pelo poder econômico e o Estado, existe um conflito. Podemos dizer que os conflitos têm uma dimensão pragmática e material, e outra dimensão simbólica, ritualizada, formal. Nesse sentido, a ação simbólica pode ter efeitos práticos numa negociação, e simbólicos dentro de um campo de disputa entre os índios, as empresas e o Estado.
Os índios têm sabido se posicionar no cenário político nacional, traduzindo sua resistência em demandas legislativas, por políticas públicas e garantia de direitos.
Mas os conflitos são também vividos nas profundezas do ser, individual ou coletivo, no corpo e na constituição subjetiva que nos determina. No caso dos povos indígenas, o ser coletivo se define longe da linguagem do mundo formatado pela modernidade ocidental, a política nacional e a influência das relações capitalistas de produção, trabalho e mercado.
Nessa medida, o conflito político é também um confronto que está além da política. Não se reduz a um campo codificado de disputas ou relações determináveis. É o campo daquilo que não pode ser entendido, organizado e classificado pela racionalidade dos conflitos internos em um mundo político convencional. A sua política, assim, aparece como grito, violência sem forma e sem sentido. Só assim se manifesta uma civilização que de fato não é sintetizável e inteligível em termos da outra.
Quando o conflito avança para além da disputa de interesses políticos mais diretos, e exprime a oposição entre mundos, histórias e experiências vividas, memórias e espaços essenciais de funcionamento social, os símbolos podem superar a força de uma simples representação, ou ritualização, do confronto político, mobilizando e fazendo presente uma verdade material em ato.
Um símbolo, assim, vai além da representação de posições políticas ritualizadas ou da simbolização metafórica de algo ausente na situação. O ato simbólico pode ser entendido como uma bomba que, jogada contra o vidro de um prédio, se introduz, gerando um incêndio que pode fazer esse mundo interno do prédio – fechado, estruturado, separado do fora – arder.
As lutas indígenas têm essa potência. Trazem outro mundo e se impõem fortemente, ativando essa realidade ancestral que nunca deixa de se reinventar e estar.
Não solicita apenas “inclusão”, “participação” no mundo dos outros. Não é gesto estético que passa a formar parte de uma sociedade multicultural que incorpora sempre de forma controlada, localizada e tergiversada.
O gesto guerreiro encontra sua força numa civilização não subsumida pelo capitalismo e pela modernidade de matriz europeia. Faz essa civilização estar presente, como possibilidade e realidade alternativa, na forma da resistência e insubordinação.
Os povos indígenas podem ter tido seus sistemas de organização social desarticulados, suas roças tomadas e territórios invadidos, mas se mantêm como espaços de diferença que sempre encontram a forma de continuar, fugir, se refazer.
Numa guerra de conquista que leva séculos, a vida indígena convive e se encontra com a civilização invasora. Às vezes é incorporada, desarticulada ou arrasada. Às vezes também compõe com ela territórios intermédios de convívio. Mas também existe autônoma, como virtual-real que se mantém nas margens, invisível, ou que parte para o confronto e pode nesse mesmo ato de guerra, existir.
O gesto de guerra é em si mesmo um ato guerreiro, de materialização da sociedade indígena contra o Estado, com efeitos materiais que não somente representam, mas também performam e criam essa possibilidade de mundo não moderno, não subordinado, não conformado a entrar nos mecanismos de negociação de compensações por obras.
A força do gesto da Tuíre, na mesma direção de muitas lutas ameríndias do continente, não reivindica compensação. Ele simplesmente diz não. Recusa. Foge. Nega com um ato. O gesto é guerreiro porque se opõe sem medir consequências nem se rebaixar a falar na língua do outro. Ao mesmo tempo, ele pode ser um símbolo que nos mobiliza do outro lado da fronteira. Na sociedade dos brancos, onde também abrimos trincheiras contra os mesmos inimigos que cercam o povo Kayapó.
2
Qual é a guerra da Tuíre? Ela não é uma guerra estatal ou entre nações. O povo Kayapó não se encontra em guerra com o Estado brasileiro, embora este tenha sido governado sempre pelos poderosos que questionam o mundo Kayapó.
O poder que enfrenta o povo Kayapó não o questiona quando é considerado folclore, “cultura”, ou “diversidade que compõe o povo brasileiro”, mas se opõe a um mundo Kayapó levado a sério, com outro tempo e espaço, com outras formas de sociedade/natureza que interfiram na lógica capitalista da exploração, espoliação e valor.
A luta dos índios no Brasil também não constitui uma guerra de guerrilhas, nem uma luta anticolonial que busca expulsar os invasores para criar uma nação independente no coração da floresta. Os Kayapó, e outros povos indígenas, não buscam disputar o controle do poder político da sociedade.
A guerra de Tuíre é uma guerra não declarada e, portanto, sem direito a tréguas, armistícios, intercâmbio de prisioneiros ou processos de paz. A guerra que ameaça os povos tradicionais tem para o mundo do poder branco e invasor o nome de “paz”.
Da colônia à república, da república velha aos distintos gestores do capitalismo no Brasil, a pacificação modifica as linguagens com que se apresenta, incorpora novos personagens nas castas aristocráticas ou de elite, reconhece novos direitos e permite, inclusive, uma certa abertura e capacidade de circulação que situações de poder anteriores bloqueavam.
Mas toda pacificação não demora muito em se constituir como nova centralização e busca de monopólio. Os povos indígenas viram isso acontecer muitas vezes. É uma guerra perigosa porque se apresenta como formas de vida mais convenientes, como progresso, liberdade, civilização. A guerra que ameaça a sociedade indígena se apresenta como possibilidade para empreender, receber benefícios do Estado, se integrar num mundo onde nada falta e tudo é confortável, como uma propaganda de TV.
O último embate, pós-ditadura, neoliberal, globalizado, se mostra especialmente perverso. Reserva para os índios o lugar da mercadoria cultural. Não outorga mais o lugar de passado da nação nascente, também não trata do índio a civilizar. Os poderes políticos da formação de nação retrocedem e apenas contam o que pode circular como discurso, como mercadoria, como imagem espetacular sem conteúdo, numa sociedade que se imagina como grande mercado sem fora.
O fim da sociedade da floresta tem um rosto violento, de extração de recursos naturais que secam a terra e matam a vida, com o qual o convívio cosmopolítico de seres não humanos se efetua. Como exorcismo que também a sociedade dos brancos propõe da espiritualidade da floresta, a colonização mostra uma face bélica inocultável.
Mas a guerra também se apresenta de forma amiga. Como benefícios e integração num mundo avançado. É contra essa forma de invasão contínua e conquista invisível que é preciso mostrar o facão.
Simbolizando a oposição a um mundo de energia, progresso e desenvolvimento, Tuíre e os povos indígenas mostram que estão atentos e bem cientes das distintas formas com que a guerra se apresenta como impossibilidade de existir de todo um mundo que não é apenas humano e ameaça o território não apenas em termos econômicos.
O embate que hoje ameaça as populações indígenas, camponesas, ribeirinhas é o da imposição de uma forma de vida que transforma tudo em mercadoria sem saber bem para quê. É um sistema econômico e social contrário à vida, que acumula, produz, desfloresta, ocupa, cerca, vende, mata e desconhece, nega e descaracteriza tudo que não se adapte a esse funcionamento e organização de uma ordem social unificada.
A guerra que enfrentam os índios é a de uma ordem sem ideologia, sem história, sem sentido, a não ser aquele dos indivíduos que concorrem para obter mais, das empresas que buscam se expandir numa fuga desesperada para nenhum lugar, onde quem não escapa é alcançado pelas dívidas, pela carreira onde todos devem superar os outros, inferiores, lentos, incapacitados, para chegar antes, para serem melhores. Do outro lado, para quem não corre e não deixa tudo no plano da autovalorização, resta o deserto que o crescimento econômico e a busca por produzir mais vão deixando por onde passam.
3
O que pode ser hoje uma luta indígena, à qual possamos vir a somar, conseguindo não ser vetores da incorporação deles ao mundo que ainda eles olham de fora?
Poderemos nós também olhar esse mundo de fora?
Poderemos abrir essas formas fechadas para nós, que impõem individualismo, concorrência e narcisismo por todo lado… num regime aberto para o outro, da relação e do gosto antropofágico pelo diferente?
Poderemos ver a força atual, e não simbólica, ritual, folclórica nem cultural, de um gesto, de uma ação, e de formas alternativas vividas por eles, na sua constituição coletiva da pessoa, na imaginação perspectivista e multinaturalista que ainda circula na cosmopolítica que está além da política e que não pode nunca ser traduzida para nossa política?
Como entender, na chuva contínua de informações e dados, a importância de um símbolo como Tuíre, a índia que mostrou que eles resistem, apesar da força dos inimigos, com dignidade e força, não como símbolo estético e espetacular que se soma a essa chuva de informação, mas na abertura de possíveis para eles e para nós – desde que saibamos abandonar tudo aquilo que levamos mesmo sem querer e que faz parte da impossibilidade do mundo deles?
Como fazer com que esse mundo apareça, não seja eclipsado na fragmentação que costumamos impor entre o que seria político, econômico, do campo das artes, das formas culturais, da religião, da espiritualidade, da economia e do que tem valor ou não?
Cosmopolítica de uma floresta habitada, num mundo onde tudo é conexão e não separação… tudo está feito das mesmas forças e formas e tensões… onde o universo está em nós e nós no universo…
Por isso a realização de uma grande obra, estrada, jazida de mineração, porto, barragem, hidrelétrica, não é apenas uma intrusão física, que invade um território. Ela também invade um mundo. Não interrompe uma cultura, que faz do jeito deles o que nós fazemos do nosso. Interrompe um mundo, onde a própria forma de estar no mundo, um tempo, um espaço, se articulam de forma diferente.
Podemos fazer, no Brasil, com que Belo Monte e todos os crimes civilizacionais do Estado e do poder econômico não sejam esquecidos?
Que a floresta e uma sociedade que não se opõe à natureza não se dilua como simbologia retórica! Que seja simbologia que cria mundos e se organiza como materialidade de outros regimes de vida!
Entre a antropofagia e a guerra, o espírito indígena sabe tecer uma forma social que incorpora, sintetiza, processa e dialoga com o mundo do qual faz parte, mas também se opõe, em defesa.
Do outro lado, destruição da floresta e das condições de existência de outras sociedades…
A morte de um índio… de um rio, de um guerreiro…
Somos contemporâneos de uma luta de empobrecimento do mundo. O capitalismo se expande de acordo com uma lógica própria de valorização e lucro que é contra a vida.
Do outro lado encontramos quem diz “não!”. O facão do povo Kayapó, na mão valente da Tuíre. É um símbolo que nos coloca o desafio de criar outro mundo onde caibam muitos mundos e onde o desenvolvimento destruidor do capitalismo seja desarticulado pelas formas selvagens de luta, de vida, e de bem viver comum. _
Se preferir, baixe o PDF da revista Tuíra #01.
tuiragens _ EDITORIAL
Uma revista que é muitas. Que não faz contar o que acontece na hora em que acontece. Que toma distância, mas não é distante. Que faz avaliação, que faz análise, mas que (quase) não faz citação. Que extrapola a situação. Que faz paradoxo, que transita pelo arco do devir. 1968, 2018. 50 anos de paradoxos. Nada mudou, nada está no (mesmo) lugar.
Anarco-situacionista-caiapó. Facão na cara do desenvolvimentismo. Violência é o que cometem contra nós. Inundam nossa história, matam nossa comida, nos expulsam de tudo aquilo que somos nós: nossa terra, nossa vida. Para gerar luz que não ilumina nossas casas. Que nos joga diretamente nas sombras. Não nos enganemos: do coração das trevas, e não da pacificação, nasce a rebelião.
Não só Tuíra, mas tantas tuiragens: múltiplas vozes – da aldeia para o mundo – fazem das lutas poesia e revolução. Colocar a revolução a serviço da poesia!
Quando vozes negras, indígenas, trans, das bordas se levantam, o mundo estremece! Fazem ruir o mundo de mentiras erigido pelos kubēn. E não nos peça para termos calma! Amplificaremos nossas vozes por todos os meios necessários. O que pode uma ação?
Somos tantos ativistas, tantos são os ativismos. Um mosaico. Não tem encaixe perfeito. Perfeito é o encaixe que buscamos no sentido de multiplicar essas lutas e essas vidas que se encontram na vida e nas lutas. Qual é a sua forma de lutar?
Corpos ativistas. Co-fundimos e confundimos: corpos e prazeres. Somos experimentação, atravessamento tecno-ciência-xamã, acelerando as partículas do pensamento. Transformar o mundo segundo nosso desejo: eis a carne da teoria!
Quanto custa entregar o cuidado de nossos corpos aos impérios? Quanto custa entregar o tempo a uma causa? Quanto custa manter a opacidade disso que chamamos civilização?
Ocupar, ou desocupar, as terras, as casas, as escolas, as ruas, os imaginários e os corações. Inventar outra gramática. Destruir a organização dominante da vida. Criar outro mundo – um mundo onde caibam muitos mundos.
Se preferir, baixe o PDF da revista Tuíra #01.
#TÁTICA _ Intervenção Visionária
Desenhando o futuro no chão da cidade

Faça você mesmo: ciclofaixa surpresa
Em uma manhã de fevereiro de 2018, em São Paulo, passantes desavisados em uma via movimentada da cidade encontrariam um insólito incentivo à mobilidade por bicicleta: em velocidade relâmpago, um coletivo instalou uma ciclofaixa cidadã. Em apenas 45 minutos e sem qualquer incidente ou imprevisto, foi feita a pintura de um quilômetro de ciclovia e 20 bicicletas sinalizadoras, colocação de balizadores, a pintura de um muro que acompanha a via e a cola de lambes explicando os motivos da transformação. A ação provocou alegria coletiva e conquistou considerável espaço na mídia nas primeiras 48 horas após sua execução, extrapolando a esfera do bairro e ecoando pela cidade como fato político.
Intervenções ao estilo “faça você mesmo” têm por vezes o mérito de colocar o oponente – no caso, o poder público municipal – em um dilema de decisão: ao apagar a ciclofaixa e destruir o trabalho não-oficial, porém claramente funcional dos ativistas, a prefeitura iria restaurar a carência de estrutura cicloviária na região e expor de forma brutal seu débito com a sociedade; de outro lado, manter a intervenção seria uma rendição da ineficiência estatal ao engajamento daqueles que se apropriam radicalmente da cidadania.
Os esforços dos ativistas para garantir que a ciclofaixa tivesse uso possível e seguro não eram apenas instrumentais: eram uma reivindicação da legitimidade da ação cidadã. A chave não está em vencer a autoridade do Estado, nem em complementá-la, mas sim em tensioná-la. Os autores da ação sabiam que empregar a sinalização cicloviária oficial jamais impediria que a ciclofaixa fosse eliminada ou substituída por uma estrutura da Prefeitura. Ao mesmo tempo, ao empregarem a sinalização ao lado de elementos inusitados, como o muro pintado e os cartazes ilustrando as razões da ação, instauram no local uma intervenção visionária: não basta que tenhamos uma ciclofaixa segura e funcional na cidade, porque também não nos basta um Estado autoritário, negligente e impermeável à atuação cidadã. A ação dos ativistas ensaia um passo além, sugerindo um outro futuro possível.

Lotes ativos nada vagos

Um projeto da artista mineira Louise Ganz, em colaboração com artistas, profissionais da arquitetura e moradores locais, passou a ocupar temporariamente lotes vagos de Belo Horizonte e Fortaleza para outras finalidades e usos públicos. A ideia era “ativar” um uso público possível de espaços naturalizados como propriedade privada, em ações de criação e engajamento tipicamente locais, ao mesmo tempo que se apontava para soluções de ocupação pública do espaço urbano em escala mais ampla. “Os lotes vagos são pequenos campos (cercados ou abertos) que possibilitam produzir e viver numa esfera distinta da especulação, do planejamento urbano regulatório e da hegemonia de construções e rotinas”, diz o blog da artista. Em Belo Horizonte, lotes foram transformados em praças temporárias, lugares de lazer, convivência e contemplação (como um “praia”) ou em espaços de serviços (cabeleireiros ao ar livre). Em Fortaleza, além de jardim comunitário, os terrenos tornaram-se redários para descanso de trabalhadores e palcos de arte e música. As ações aconteceram entre 2004 e 2008.

Eu Acho É Caro: a Busona
Em campanha carnavalesca contra o aumento das passagens de ônibus do Recife, ativistas organizaram em janeiro e fevereiro de 2018 o bloco Eu Acho É Caro. Em alusão ao bloco recifense Eu Acho É Pouco, a ação colocou na rua um ônibus gratuito (a Busona) que fazia trajetos pela cidade, buscando passageiros pelo caminho em pleno clima da festa. A ação conquistou a imprensa local, que enviou jornalistas a bordo do coletivo para acompanharem a inusitada união entre protesto, serviço e comemoração. A iniciativa se articulou com outras diversas ações diretas e batalhas judiciais contra o aumento da tarifa, interrompendo as negociações e impedindo que ele sequer fosse votado. Foi a quebra histórica de um período de cinco anos de aumentos ilegais do valor do transporte público na cidade. _
Se preferir, baixe o PDF da revista Tuíra #01.