Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
Entre o muro e a roda
Um ensaio sobre os fenômenos do isolamento e do contato social
Por Mario Campagnani*
O movimento, os caminhos abertos, os encontros. A invenção da roda é uma revolução sempre lembrada. Com ela se abre a possibilidade de chegar a locais até então inacessíveis, de circular. Certamente não tão admirado quanto sua companheira histórica, o muro é outra invenção humana cuja origem se perdeu no tempo. O primeiro ser a pegar uma pedra, não para lascá-la como ferramenta de corte, mas em busca da retidão, da possibilidade de que uma ficasse sobre a outra, não teve noção do que essa proposta significaria para seus bilhões de descendentes, milhares de anos depois. O objetivo cartesiano, alinhado. O movimento não só não é meta, como também é adversário. O que se busca é a solidez estática, a separação, a impossibilidade de contato de um lado com o outro.
O muro e a roda seguiram na história de diversas formas, mas as sociedades – salvo algumas civilizações nômades cada vez mais raras – tiveram no primeiro e não na segunda, o elemento central de sua constituição. E a evolução dessa tecnologia seguiu se sofisticando tanto que em algum outro momento perdido na história um ser teve a ideia de uma parede que existe para além da fisicalidade: uma fronteira, uma linha imaginária que usa ou não algum elemento da geografia para se basear, uma abstração que ganha concretude em como as relações humanas se estabeleceram a partir do momento em que ela foi riscada. Uma caneta num papel na Europa rasgou milhares de quilômetros na África. Decretos para impedir, até mesmo por assassinato, qualquer um que não respeite as paredes fronteiriças da modernidade, obra humana muito mais poderosa do que qualquer Grande Muralha.
Uma vez que a humanidade se sente protegida, cabe o debate sobre o que nos ameaça. Não há necessariamente uma relação direta entre proteção e ameaça, por mais que possa parecer natural. Para se sentir protegido, não é necessário que exista uma ameaça, um ataque. Novamente, é a abstração que dá conta de construir aquilo que o físico, o material, o que é tocado e o que pode tocar não representa.
“Sinto mais medo ao pensar em permitir a entrada do inimigo do que perder a toca”
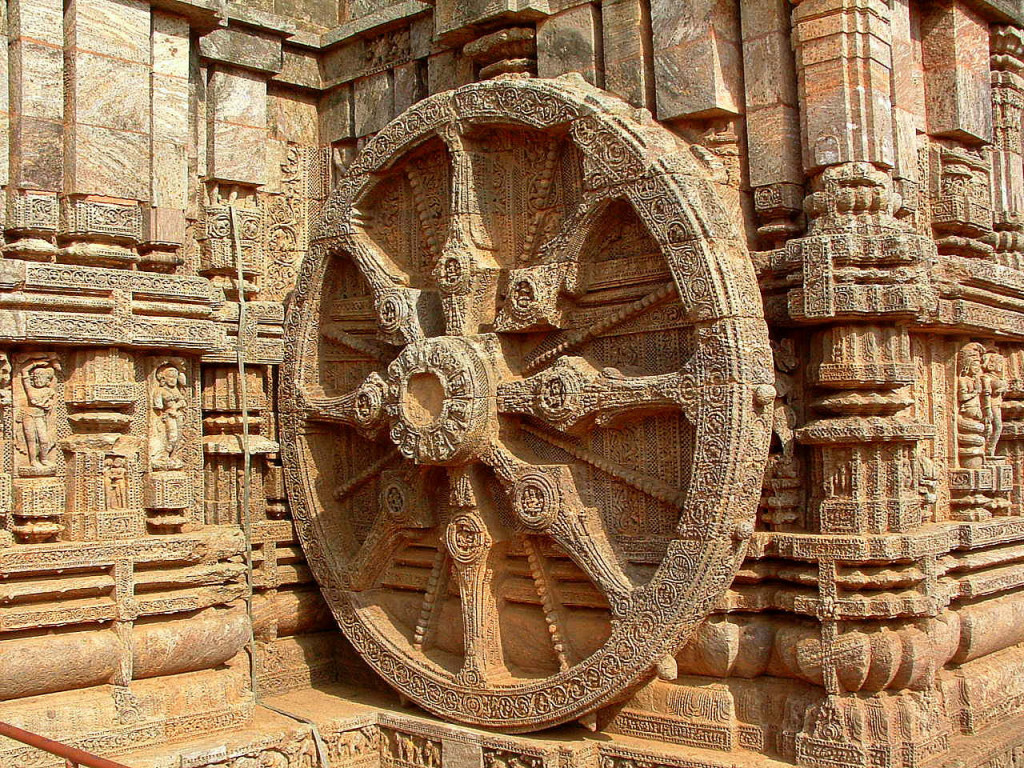
Em seu conto “A Toca”(1), Kafka apresenta a história de uma criatura que despendeu a maior parte de sua vida construindo sua morada, sua proteção em caverna entranhada na mata, coberta de musgos, contra ameaças do exterior. Apesar de haver traços humanos na descrição do personagem, as linhas vagas em relação à sua imagem reforçam ainda mais essa condição indefinida, talvez de algo que já foi homem e hoje é um ser novo, constituído darwinianamente pela relação e adaptação ao ambiente. Numa narrativa estreita e escura como os túneis da criatura, somos levados até sua cabeça e seus medos.
De alguma forma ele sabe que sua vida está entrelaçada com a do seu lar, feito de labirintos e do “Meu reduto”, espaço principal e preferido dele na toca. Foi o sangue de suas mãos e de sua própria testa cavando a terra por incontáveis anos que criou todo aquele espaço de proteção. E algo precisaria justificar todo aquele esforço ao final. A justificativa surge por meio de um som, baixo e intermitente, cuja origem é desconhecida. É o que basta para despertar todo o medo do ser que ali vive.
Não é a ameaça que cria o medo de ter seu território, sua casa, seu corpo, sua toca invadida. Para isso basta a imaginação. Saber que o outro pode chegar por meio de um leve sussurro, ou então por gotículas espalhadas pelo ar, é uma possibilidade que já basta para efetivamente despertar o medo.É esse sentimento primordial, que brota de profundas cavernas interiores, que Kafka utiliza para conduzir o protagonista em sua jornada contra o inimigo invisível. Ele imagina o possível encontro com esse invasor. Não há outra possibilidade que não seja a morte dele ou do outro. Não haverá qualquer diálogo ou busca por compreender o que se passa. Adentrar as paredes da toca é a única informação que basta para definir que é um inimigo.
A toca ou a parede por si só nunca garantiram qualquer separação ou segurança. Essa sensação somente advém, ao fim, da vigilância da estrutura. Nos melhores momentos, a criatura de Kafka somente consegue sentir uma paz que se assemelha a dos países que nunca vão abdicar de exércitos, armas, controle. Por maior que seja o muro, ele sempre pode ser atacado. O inimigo está lá, sempre esteve, mesmo que apenas como um som que só você consegue escutar.
Para permanecer seguro é preciso estar atento e confiante na parede que nos foi ofertada ou feita por nossas mãos. O Estado, a casa, a toca. Templos erguidos sem altar, deuses em si mesmos. Símbolos de uma proteção que estátua alguma pode oferecer.
Se trata de fé, certamente. Não é necessário provar que deuses existem ou não. O ponto é o quanto eles atuam pela simples crença em sua influência na nossa vida. Como todas as divindades, essa também comprova seu poder, não por linhas tortas, mas pelas retas, altas, duras e vigiadas. Se fazemos algo porque acreditamos que estamos protegidos, por uma parede ou um deus, essa escolha já é um resultado direto dessa metafísica.
“Você vive em paz, aquecido, bem alimentado sendo o proprietário, o único dono de todas as suas múltiplas passagens e quartos, e evidentemente não está preparado para renunciar, ou melhor, a arriscar tudo…”
Estar do outro lado do muro é estar exposto, arriscar a misturar-se com aquilo sobre o que não se tem controle. Cercado por barreiras, é possível dimensionar o que pode afetar, atingir. No exterior, o fluxo é independente, incontrolável.
É também a possibilidade de encontrar com a diferença, causa de deslumbramento e incômodo. É nessas possibilidades de trocas entre casas, povos e continentes que o mundo constituiu seus maiores feitos e orgulhos. Também é a partir desse encontro que genocídios e dominações foram feitas. O muro, afinal, nunca parou de ser ampliado, apenas se sofisticou, assumindo a porosidade seletiva que interessa àqueles que o construíram.

Para alguns povos, certamente, essa constituição de muros e propriedades nunca fez sentido. Em 1500, quando um grupo de portugueses chegou ao território que foi batizado posteriormente de Brasil (após alguns nomes menos criativos), já havia um tratado assinado em 1494 dividindo um território sobre o qual ainda nem se sabia o tamanho. Possivelmente, os indígenas que encontraram o grupo de brancos mal nutridos não entenderam bem o que se passava, mas se houvesse uma possibilidade de explicar que uma linha reta do norte ao sul do planeta dividia aquele território, certamente eles tomariam os portugueses como loucos.
Essa divisão, porém, funcionou. Se não em termos práticos imediatos, como ideia que foi sendo trabalhada, tijolo por tijolo, durante séculos. A propriedade do Estado, do rei, do latifundiário, do empresário, do pai de família. O que está cercado por meus muros me pertence, mesmo que sejam vidas.
A guinada epistemológica pode não ser exclusiva, mas é europeia por excelência. Não é o homem que pertence à terra, é a terra que pertence ao homem. E algo só pode pertencer a alguém se houver as linhas, físicas ou imaginárias, que demarcam a propriedade. Não existe terra comum, de todos, “sem dono”. Serão elas sempre prioridades nossas, de aliados, adversários ou dominados.
A reprodução dessa lógica chega até as microrrelações entre as pequenas tocas que ocupam os mesmos espaços nas grandes cidades. Quando nos vemos frente a ameaças concretas, o valor dos muros ganha uma dimensão concreta. Condomínios, seguranças, câmeras, alarmes. No momento em que é o outro que traz a doença e a morte, o discurso separatista ganha força. Afinal, temos que nos proteger em relação ao que é distinto.
A culpa então seria da roda. Uma afirmação simples de fazer a partir do momento em que é difícil definir quais são as mortes, quais são as perdas que a escolha pelo muro acarretou. Morrer ao circular é mais fácil de identificar do que morrer por se cercar, palavra que virou sinônimo de se proteger.
Não há aqui a possibilidade nem a necessidade de discutir a eficácia do muro, especialmente no contexto da pandemia, no qual isolar-se é sim uma questão de sobrevivência. A questão é pensar o que seria possível sem ele. A propriedade, a ideia de posse, por exemplo, teria que ser revista, ou mesmo abandonada. Uma mudança que teria que partir do alicerce do como nos entendemos como sociedade, ou da direção que a roda da história segue. E o desafio de fazer isso não como uma construção idílica, mas como a chance de pensar questões diferentes, novos problemas ao menos.
Amamos aquilo que nos cativa, verbo que traz os sentidos de proteção, pertencimento, ligação. Da mesma origem temos o substantivo cativeiro, cujas ligações vêm com sentidos diversos, mas que tem sua acepção mais forte ligada à ideia de prisão. Aquilo pelo que nos sentimos ligados é também o que nos aprisiona. Casa como cativeiro, lar como detenção. É preciso lidar com o fato de que a Síndrome de Estocolmo que nos acomete é fruto do nosso reflexo, da nossa relação com os espaços que construímos com o sangue das nossas mãos ou das de outros.
Notas:
1 Franz Kafka, O bestiário de Kafka, Bertrand Editora, 2016.
*É importante ressaltar, no contexto de pandemia, que tanto o autor como Tuíra defendem o distanciamento social e todas as práticas cientificamente comprovadas de combate e prevenção ao coronavírus.

Novas lutas em tempos de desilusão programada: contra a tibieza da crítica e o conformismo solidário
Por Alexandre Filordi de Carvalho e Carlos Eduardo Ribeiro
O ganhador do Oscar de documentário de 2020, Indústria Americana (Steven Bognar e Julia Reichert), mantém um contraste no mínimo notável em relação ao nosso então concorrente ao prêmio americano, Democracia em Vertigem (Petra Costa). Depois do fechamento de uma fábrica da General Motors em Dayton (Ohio), os diretores estiveram três anos com os trabalhadores da fábrica. Período que compreendeu a aquisição da empresa pela Fuyao, produtora chinesa de vidros automotivos que viria absorver parte da mão-de-obra desempregada da cidade. Para além do conteúdo deste documentário – que certamente denuncia a nova espécie de vida disciplinar e a expropriação de corpos cotidianos submetidas aos trabalhadores no século 21 – há um dado interessante: é permitido ali que as pessoas falem por si mesmas. Democracia em vertigem se comporta de outro modo neste ponto. Petra Costa preferiu assumir uma opção totalmente diferente ao portar, manifestamente, a voz da crítica. A voz que dá corpo em um e outro documentário indica uma diferença importante, embora sutil, no que diz respeito aos lugares da crítica e da resistência no Brasil.
Há algum tempo tentamos convencer um colega docente a tomar parte de nossas assembleias, já então muito esvaziadas. Diante do contexto, argumentávamos que precisaríamos fazer circular as informações, defendendo que as assembleias cumpriam, apesar de suas limitações, com tal papel, para dizer o mínimo. Ouvimos como resposta que aquela era uma forma esgotada da política que ficara nos saudosos anos 1980. Sem contato direto com as lutas, uma assembleia nada poderia realizar de novo, dizia ele.
Há um dado importante revelado na fala daquele colega: processa-se um efeito de desvinculação absoluta entre discurso público e ação política, assumindo certa descrença no uso público da razão e na força dos agenciamentos coletivos. Paradoxalmente, nisso poderíamos acenar que um dos tentáculos paralisadores do neoliberalismo é precisamente apresentar o espaço comum como ineficaz e incentivar uma espécie “renovada” de ação política às avessas, uma politização da apolitização: lutas verdeamarelistas que ocupam ruas com coreografias, bravatas de escolas sem partido, militâncias parlamentares pelo dia do orgulho heterossexual, bravatas orquestradas paranoicamente contra os “esquerdopatas”, defesa de limpeza étnico-indígena, normalização do insuportável, como as aulas em ambiente EaD durante a pandemia, dentre exemplos sobejamente conhecidos. Em meio a tudo isso, faz sentido o fenômeno da dessindicalização, acompanhado do narcisismo individualista. Logo, no lugar do fortalecimento dos vínculos capazes de fortalecer o objetivo social de uma luta, contribuindo para a produção de uma identificação em torno do trabalho e da socialização, dá-se lugar aos contratos com empresas privadas de negociação laboral, para, “democraticamente”, dirimir conflitos entre patrões e empregados. Não queremos dizer que o recurso crítico de Petra é a voz politicamente desgastada tal qual expressou o tom de renúncia pessimista de nosso colega, representando tantas vozes que negam a força de qualquer coletividade. Muito menos assinalamos que Democracia em vertigem é uma crítica envelhecida do passado de certo progressismo esclarecido, do tipo acadêmico-sindical. É que o recurso que liga a voz biográfica às injunções políticas que levaram à ascensão da nova extrema-direita brasileira nos permite refletir sobre este nosso lugar mediano e pouco implicado da crítica e da resistência no país.
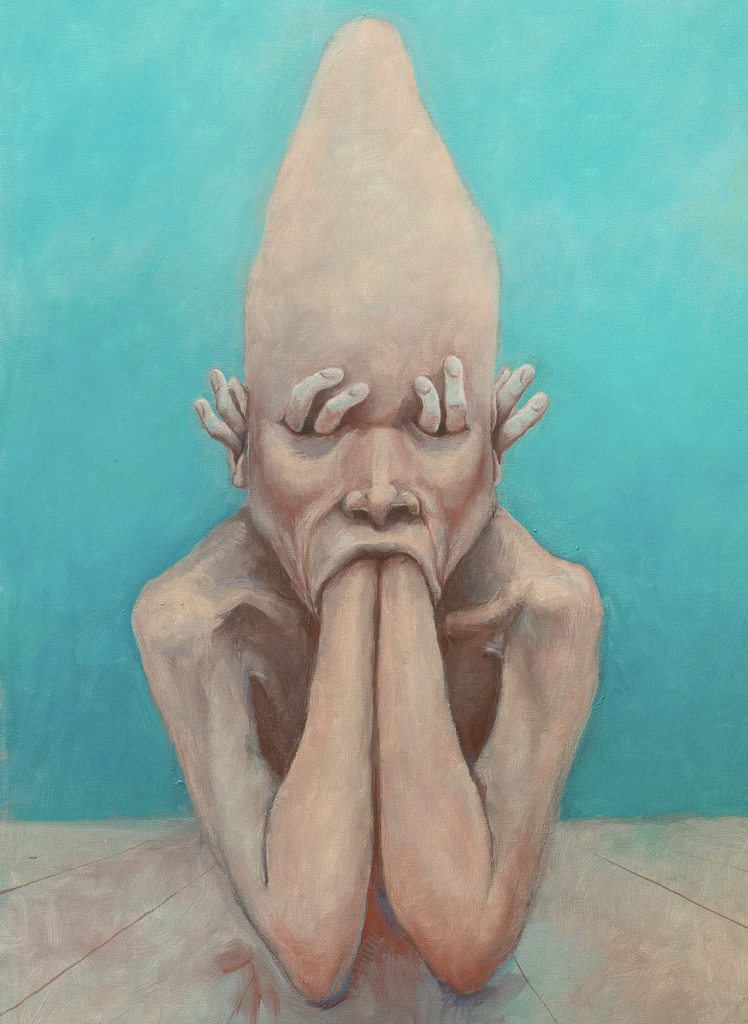
A pergunta fundamental seria: quem historicamente faz a crítica entre nós e para nós? Quem se encontra na linha de frente nas resistências? E, malgrado toda transformação social em curso, quais novos espaços de resistência são possíveis de serem concebidos?
Se concordarmos que somos uma sociedade de acomodações históricas violentas; se concordarmos que, dentre as transigências cotidianas, sem nos esquecermos de nosso enraizamento escravocrata como fonte comum para novas formas de conciliação e que elas ganham novas vigências e ordenamentos sociais; se ainda concordarmos que os ressentidos de ontem, que (re)ssentiram apenas e tão-só por um ínfimo ajuste ou adaptação social com essas quase resignações progressistas; bem, se esses são dados que nos conduzem a um lugar social comum, ou seja, à condição social mínima para a garantia dos direitos humanos, do trabalho que assegure planos existências dignos, do anteparo da rede social de proteção – alimentação, saúde, educação, segurança etc. –, então, podemos perceber que, a todo momento, compartilhamos a fala com o adversário que é convidado a nos desautorizar dentro de nossa própria casa. Com efeito, para esses, a marcha do não fazer nada é mais sagaz do que alguma coisa a fazer. Talvez o posicionamento daquele colega, sem exagero algum, seja sintoma de que o lábaro estrelado do experimento assombroso entre formas autoritárias neofascistas e neoliberalismo, tão presentes nas instituições públicas brasileiras, nos tecidos sociais de nossa colonização de pulsão arcaica violenta, com seus racismos cotidianos, e tão acolhidas no consolo de que estamos “amarrados”, funcionem como gás paralisante para qualquer espécie de resistência.
Se assim o for, o lugar da crítica entre nós seria, de saída, o lugar da tibieza, não porque Petra conta uma história partidária cujo recurso é inautêntico ou sem pertencimento a um percurso de resistência; não porque nosso colega não tenha razão em abdicar das “velhas” convicções de participação política que se mostram cansadas, embora não aponte o que devemos fazer como nova forma de combate e de resistência à destruição da educação e da pesquisa públicas. Mas porque conhecemos um único expediente para descarregarmos nossos conflitos: o conformismo solidário, ainda que de boa-fé. Ou ainda, porque fomos historicamente convencidos que mudanças profundas e permanentes são mudanças graduais quando, na verdade, nosso reformismo moderado inverte-se, invariavelmente, em neofascismo declarado ou em submissão quietista. Ou, quem sabe, porque também crítica e resistência mal engendradas não se abdicam dos rituais higiênicos de seu distanciamento com o que é demasiado humano.
Talvez nosso maior consolo político esteja associado ao alívio, inconfesso e certamente vergonhoso, em perceber haver pouca diferença entre o déspota e o déspota esclarecido, entre o autoritarismo que hoje desinstitucionaliza o Estado e a apatia política que nos assola e confirma a dominação. Nesse sentido, se pensarmos em novas formas de resistências, veremos, a bem da verdade, que, mais do que nunca, precisamos das “velhas” formas de resistências. Talvez porque mal engatinharam entre nós.
Em uma conferência do final dos anos setenta, chamada O que é a crítica? (1), Foucault dizia que a crítica é a capacidade de dizer não ao excesso de governo. Governar não é apenas um lance burocrático presente do Estado. Governar, ao menos para Foucault, relaciona-se com conduzir a conduta da vida das pessoas. Conduz-se a conduta quando se estabelecem parâmetros cujo vigor fazem cristalizar o que se demanda como comportamentos, atitudes, pensamentos, desejos, associações humanas etc.
Desse ponto de vista, a homofobia, o sexismo, o racismo, a violência de gênero e a extensão colonial de toda opressão não passam de artes de governar a vida, incididas no acolhimento infame dos gestos que não enxergam aí nenhum tipo de problema. Assim, mais do que nunca, a crítica deve ocupar lugar premente em nossas resistências. A crítica como exercício digno ao excesso de governo, de mando que sujeitam nossas pulsões vitais e criativas à uma ordem que nos conduz para a apatia, termo redutor de toda conduta aceitável.
Mas como fazê-lo sem a força da expressão de grupo-sujeitos (2)? Sabemos que o neoliberalismo prefigura demandas de papéis sociais individualistas. Infelizmente, as redes sociais potencializaram tal perfil: cada um, ainda que sub-repticiamente, transforma-se em publicitário de si mesmo, autoempreendedor de si mesmo, vendendo a imagem que lhe convém. A crítica deve incidir sobre esses lugares também, no sentido de chamar atenção para o risco que corremos de nos desarticularmos como força social.
Na era da pós-verdade, todo ajuntamento social físico e concreto é uma luta contra os agenciamentos programados das redes, ainda que elas sejam utilizadas como ferramentas para nos organizarmos. É que a presença do ajuntamento convém à solidariedade, ao afeto em carne e osso, à presença simbólica do outro, com seus gestos e singularidades. Assim, os coletivismos já prenunciam a resistência pela luta do lugar comum. Isso será um grande desafio ao medo paranoico pós-pandêmico. Manter isso em mente é fundamental contra o ostracismo que só faz minguar a força dos nexos sociais coletivos.
Vejamos. É inegável que vivemos uma nova curvatura histórica com características de relações sociais idiossincráticas. Alguns exemplos: Nicholas Carr, em The Shallows (3), que poderia ser livremente traduzido por Os superficiais, evidencia como estamos perdendo a capacidade analítica, a destreza da profundidade lógica entre causas e efeitos, a persistência e a espera nos objetivos de longo prazo, desde que o imediatismo da internet vem estimulando as conexões cerebrais para se alimentar do aqui e agora. Sherry Turkle, em Alone Together (4),
algo como Juntos, mas sozinhos, faz o triste alerta acerca de nosso distanciamento da presença humana efetiva. Por exemplo, quando temos uma forte discussão com alguém, ler os seus sinais físicos, o olhar, os gestos, a respiração, o tom da voz etc. aproximam-nos e aperfeiçoam-nos a ver no outro aquilo que faz parte da nossa face humana: a singularidade de cada um/a. Contudo, quando a mesma discussão é entabulada virtualmente, perdemos os fios dessa presença, existente apenas na relação com o simbólico e o imaginário. Por sua vez, Jean Twenge e Keith Campbell, em The narcisssism epidemic [A epidemia do narcisismo] (5) – baseados em várias pesquisas, alertam-nos para o perigo das bolhas de retroalimentação do mesmo. Em outros termos, as redes sociais têm potencializado a explosão de micromundos sustentados por pessoas que, grosso modo, são órbitas concordantes de seus seguidores. Os discordantes são facilmente excluídos, limados, bloqueados, vexados, pois funcionariam como espelho quebrado à uma imagem que, na base do autoengano, não pode ser confrontada. A problematização que emerge desses pontos é a da sobreposição dimensional para a vida efetiva, isto é, aquela que padece de fome, sangra, geme de dor, adoece e morre.
O perigo disso tudo não reside somente no diagnóstico da situação atual. O mais perigoso, contudo, encontra-se no sentimento de impotência. O sentimento de impotência, nesse caso, aquela disposição entre o estupor e a incapacidade de agir, pode nos conduzir à aceitação da normoapatia, ou seja, de ver na apatia um sinal normal de nossos vínculos sociais. Assim, ou nos esconderemos, reação normal visando à nossa proteção, ou pensaremos em formas de combater e de modificar o constrangimento das ameaças de “conduções coercitivas” que se impõem a nós.
Nessa direção, é urgente sairmos de nossas próprias bolhas. Resgatar a presença humana se tornou imprescindível, sobretudo em suas singularidades e diferenças. Trata-se de nos apoiar nas leituras sociais que funcionam como diagnósticos sensíveis para os perigos aos quais estamos nos inclinando: aceitação da banalização da própria impossibilidade de transformação social e, então, de nossa incapacidade crítica de tomarmos as rédeas históricas contra os “excessos de governo”.
Qualquer tipo de mobilização, luta, crítica e agenciamento de afetos a resistir a toda essa sanha de demanda por passividade emerge como sinal de outra forma de vida possível, com desenhos e contornos de resistência aos fatalismos.
Não nos enganemos, porém. A desilusão programada não está apenas na apatia crítica que, em nome da superação do espaço comum como lugar de confiança para as lutas em defesa da res publica (a coisa pública), cada vez mais nos atomiza e, para o bem do neoliberalismo, refunda-nos no lugar do indivíduo isolado e fragilizado. Tal desilusão está também nos afetos. Recusar o espaço comum também compreende dar as costas para a alteridade que confronta a certeza de nosso lugar subjetivo. Não é sem sentido que os afetos neofascistas se retroalimentam por bolhas narcísicas de convicções a bloquear qualquer dissonância com outrem. Enquanto seguirmos recusando a potencialidade mínima de nos organizar para resistir ao que aí está, apenas nos restará o assombro de que nada pode ser feito.
Bertold Brecht, em seus Poemas dos anos de crise: 1929-1933 (6), meditava sobre o desastre que foi para os marxistas – como ele próprio – a luta dos trabalhadores alemães pelos fascistas contra os comunistas, no lugar de encontrarem uma causa comum. O poema Artigo 1 da Constituição de Weimar declarava: “É do povo que emana o poder do Estado”. Mas o poema termina com um assassinato. Após o som de um tiro, o poder do Estado olha para baixo e, então, identifica o corpo: O que jaz aí na merda?/ Algo jaz aí na merda/ – É o povo, ora, é o que é (7).
Poderíamos acrescentar: será que o que jaz aí na merda não são igualmente a crítica e a mobilização? De tão tíbias, recusando-se à ação concreta, já quase mortas também? É urgente prosseguir ligando criticamente nossas biografias a percursos de lutas. Diagnostiquemos a morbidez dos palanques, claro está, contudo, sem a recusa de nos destituir dos lugares em que se faz a história também microfisicamente, como diria Michel Foucault. Mas que, sobretudo, reconheçamos que é preciso deixar falar as nossas vozes diferentes: como professorxs, petroleirxs, faxineirxs, entregadorxes, trabalhadxs todos, além de africanos, sujeitos LGTBQA+, sujeitos racializados, enfim, povo que somos, e na merda! – e, a partir daí, insistirmos radicalmente na interseccionalidade que nos comuniza em resistências compartilhadas.
Se não for assim, não apenas a Democracia em vertigem, mas também passaremos a ver as próprias condições de mudar o rumo desta história vil que nos alcançou cada vez mais distantes, dragados pelo lance vertiginoso de certos conformismos solidários, brilhando com seus raios fúlgidos de vãs esperanças.
Notas:
1 Michel Foucault. Qu’est-ce que la critique? Paris: Vrin, 2016.
2 Grupo-sujeito é noção adotada por Félix Guattari para contrapor ações de grupos ao que ele designou grupos assujeitados. Um grupo-sujeito objetiva uma ação, cuja coletividade não se prima por hierarquia, normas rígidas ou estatutos instituídos, mas a própria ação. Enquanto isso, o grupo assujeitado se “sujeita” às regras externas a ele, a uma hierarquia rígida, a princípios de ação predeterminados.
3 Nicholas Carr. The Shallows. What the internet is doing to our brains. New York: W. W. Norton, 2011.
4 Sherry Turkle. Alone together. Why we expect more form technology and less from each other. New York: Basic Book, 2012.
5 William Keith Campbell e Jean Marie Twenge. The narcissism epidemic. Living in the age of entitlement. New York: Atria, 2013.
6 Referência extraída de Stuart Jeffries. Grande Hotel Abismo: a escola de Frankfurt e seus personagens. São Paulo: Cia das Letras, 2016, p. 173.
7 Stuart Jeffries.
O encantamento da mulher indígena: o contra-ataque ao fascismo
Por Maria Clara Belchior
São as mulheres indígenas que nos ensinam sobre o enfrentamento, a resistência contida na semente do amanhã, destas portadoras da vida e das tradições milenares. Do semear na terra escassa e transformá-la no viver abundante. As benzedeiras centenárias, que curam as almas e corpos em seus encantamentos, que atravessam gerações, sobrevivem aos fascismos – enquanto os golpeiam de frente – com sua tradição e seu poder.
Mulheres cosmológicas, que se chama por PARENTAS, pisaram firme no chão de Brasília em agosto de 2019, durante a 1a Marcha das Mulheres Indígenas.

O evento de 14 de agosto de 2019 fez o Estado brasileiro cair de joelhos fracos enquanto marchavam por território, corpo e espírito.
TEKOHA
para os guarani kaiowás é o território sagrado, ancestral, onde a vida indígena pode existir verdadeiramente.
“Para os povos indígenas, trata-se de requerer os territórios sagrados, dos quais emergem seus espíritos, suas histórias e sua cosmovisão” – Belchior, 2021.
Sem tekoha não há plenitude de vida


Filhas e filhos de guerreiras crescem e se nutrem na luta, como sementes, e desde cedo são alvos de todo tipo de violência.
Apesar de todos os chamamentos, ninguém do governo bolsonarista apareceu durante a marcha. Ao final, só se ouviam os cantos e pés firmes ritmados em frente ao Congresso Nacional.
–



Medicina, conservadorismo e pânico moral
A guerra às drogas e o processo de contrarreforma psiquiátrica no Brasil contemporâneo: duas faces de uma mesma moeda?
Por Rafael Coelho Rodrigues
A proibição do cultivo, consumo e venda de substâncias psicoativas implementada a partir do século XX, é a base para uma política que se tornou conhecida como “guerra às drogas”. Neste texto, buscamos sustentar que tal política funciona como um dispositivo através do qual se torna possível realizar o corte biopolítico que efetua, no contemporâneo, estratégias do racismo de Estado próprias da biopolítica (1). Buscamos demonstrar que esta guerra tem como principais efeitos a criminalização e extermínio da população jovem e negra, assumindo, assim, uma função necropolítica (2).
Nesse sentido, nosso objetivo é realizar uma análise com o intuito de municiarmos nossas máquinas de guerra contra o aparelho de Estado (3). Entendemos que ampliar a análise do presente a partir da análise de documentos, leis, decretos, teorias e práticas que compõem esse cenário, possibilita que ampliemos também nossas práticas de resistência.
Este cenário é intensificado nos últimos anos com o processo de contrarreforma psiquiátrica em curso no país. Considerando que os manicômios sempre foram espaços de violência, tortura e segregação de parcelas indesejadas da população, o retorno da abertura de novos leitos, assim como o investimento maciço em comunidades (que se conclamam como) terapêuticas, que em larga escala possuem denominações religiosas, indicam que há a necessidade contínua por parte do Estado brasileiro de matar, aprisionar e segregar a parcela cada vez maior da população que passa a se tornar supérflua à lógica neoliberal — característica do que foi denominado como devir negro do mundo (4). Desse modo, a segregação como justificativa de cuidado volta à cena, em detrimento do efetivo cuidado territorial em liberdade, pautado pela lógica da atenção psicossocial e pelas diretrizes do SUS.
O PROIBICIONISMO
Desde o final do século XIX e, principalmente, no século XX, se estabeleceu uma regulamentação a partir de uma série de legislações e tratados internacionais que implementaram uma ampla política proibicionista às substâncias narcóticas e psicotrópicas. O proibicionismo teria como objetivo a erradicação da produção de drogas ilícitas e a redução do consumo, mediante um suposto incremento da proteção à saúde pública (5). Segundo Fiore (6), o proibicionismo pode ser entendido como uma forma simplificada de classificar o paradigma que rege a atuação dos Estados em relação a determinado conjunto de substâncias. No entanto, seus desdobramentos vão muito além de convenções e legislações nacionais, modulando o entendimento contemporâneo sobre o que são substâncias psicoativas ao estabelecer limites arbitrários para usos de drogas, que passa a considerar como “legais/positivas” em detrimento de outras, que passa a considerar como “ilegais/negativas”.
Carneiro (7) menciona que estas legislações instituíram a separação atual em três diferentes circuitos de circulação das drogas: as substâncias ilícitas, as licitas medicinais e as licitas recreativas. Segundo o autor, a história das drogas é, antes de tudo, a história de suas regulações, da construção de seus regimes de circulação e das consequentes representações culturais e políticas de repressão, incitação ou tolerância.
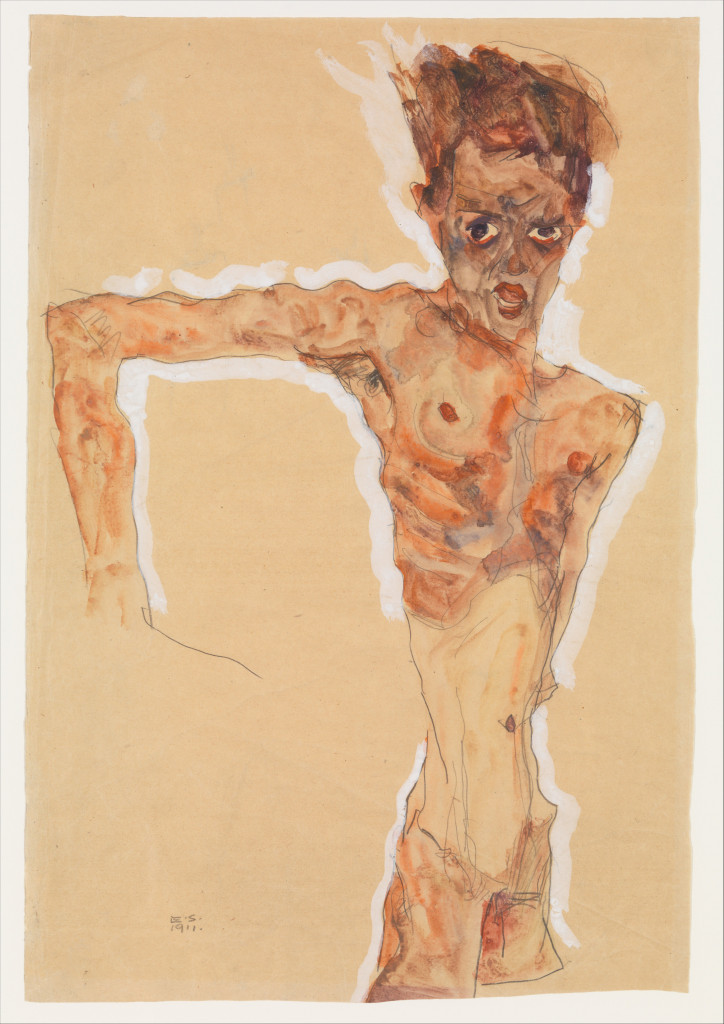
A ampla adesão brasileira aos tratados proibicionistas, diferentemente do que ocorreu em relação a adesão aos sistemas universais e regional de proteção aos direitos humanos, é fruto, segundo Boiteux (8), da violência estrutural praticada pelo Estado brasileiro e sua adesão ao punitivismo como política penal. Como resultado desta política, temos o incremento da violência, a partir da militarização do “combate” às drogas; o aumento de penas de prisão, com o encarceramento em massa; o que provoca, dentre outros efeitos, a superlotação de penitenciárias e o fortalecimento da histórica criminalização da pobreza no Brasil.
Saad (9), ao pesquisar o período anterior à proibição da maconha no Brasil, percebeu que nos discursos presentes no início do século XX havia algo que diferenciava a maconha de outras substâncias, a saber, sua origem africana e seu consumo sempre associado aos negros e seus descendentes, que representavam supostamente o atraso e a degeneração. Tais discursos “apontam para um combate mais direcionado a práticas culturais e grupos raciais específicos do que à substância em si (10)”.
Nesse contexto, continua a autora, “as práticas e costumes negros, tão presentes em uma sociedade recém saída da escravidão, representavam empecilhos para o lema ‘ordem e progresso’ pretendido pela elite política e intelectual”(11). Assim como o candomblé e a capoeira, a maconha estaria associada aos africanos e seus descendentes e seu uso, além de prejudicar a formação de uma República moralmente exemplar, poderia se disseminar entre as camadas ditas saudáveis – leia-se, brancas – e arruinar de vez o projeto dessa nação civilizada. Ainda segundo Saad, a transformação do uso de drogas psicoativas em “problema social” foi cercada por fatores que não podem ser isolados uns dos outros, sejam eles religiosos, políticos, econômicos ou morais. Na virada do século XX, com o processo de consolidação do saber médico institucionalizado e a regulamentação estatal das drogas, foi-se fortalecendo a ideia de que certas substâncias propiciavam estados de loucura e impediam uma vida social saudável e regrada.
Com a regulamentação das substâncias em decorrência da institucionalização da medicina, começaria a ser delineada a linha que passava a separar “droga” de “fármaco”. Com o apoio do Estado, os médicos garantiram a exclusividade de sua atuação em relação a prescrição das drogas. Iniciou-se uma cruzada contra curandeiros e herbolários que exerciam atividades terapêuticas.
Esses médicos também foram fundamentais para a inserção e recuperação das teorias raciais no fim do século XIX e início do XX, adaptando-as ao modelo liberal do Estado brasileiro. O projeto político nacional tinha as teorias raciais como modelo teórico viável na justificativa do complicado jogo de interesses que se montava.
A medicina legal, especialidade que unifica o conhecimento das áreas médica e jurídica, mostrava que uma nação com tanta influência negra estaria fadada ao fracasso caso não fossem tomadas as devidas providências. Através da ciência, buscava-se legitimar o poder do homem branco e promover a manutenção da hierarquia social. A superioridade de uns sobre os outros foi previamente determinada, e a medicina oficial, através de seus métodos, dava o seu aval (12).
Costa (13) estabeleceu em seu livro sobre a história da psiquiatria no Brasil a cumplicidade cientifica da psiquiatria com as razões de Estado, no início do século XX, com a implantação da Liga Brasileira de Higiene Mental. Os programas da Liga passavam pelo desejo manifesto de emprego de medidas repressivas brutais no tratamento e prevenção da doença mental, da instauração de tribunais de eugenia e da defesa das ideias de raças inferiores e superiores, que eram, aparentemente, caucionadas pelas noções de hereditariedade genética dos traços psíquicos e culturais. Uma ideologia da pureza racial que passava pelo embranquecimento racial, predominante na cultura brasileira naquela época.
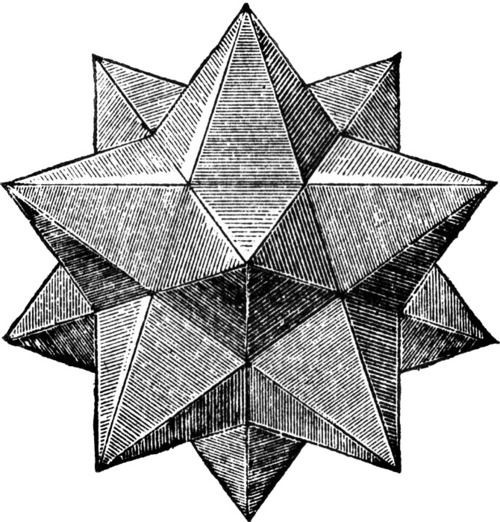
Esse sujeito da raça era o sujeito estudado para sustentar uma suposta existência da natureza humana, uma essência do sujeito, que poderia ser entendida pela decifração das leis da hereditariedade e da noção de degeneração. É nesse sentido que Saad (14) conclui que a proibição da maconha no Brasil se deu com base em argumentos pouco sólidos e com respaldo científico praticamente inexistente, mas a influência médica, o conservadorismo e o pânico moral abriram espaço para o surgimento desse projeto que buscou criminalizar, mais do que a planta, os que faziam uso dela. Os anos seguintes à proibição serviram para que as próprias estratégias de repressão fossem sendo desenvolvidas e adaptadas de acordo com o que se buscava.
Podemos apontar um continuum em relação à produção do pânico moral e do conservadorismo para a segregação e criminalização de grupos sociais mais vulnerabilizados no contemporâneo. Nesse sentido, nos últimos anos do século XX e até o presente momento, temos presenciado a produção do crack e de seus usuários como espécie de bode expiatório das mazelas sociais das grandes metrópoles brasileiras. Esta produção, conveniente quando se trata de construir políticas para higienização da cidade e especulação imobiliária, invisibiliza as inúmeras causas das cenas de usos de crack nessas cidades, como, por exemplo, a profunda desigualdade social e de acesso aos bens da cidade, como moradia digna, serviços de saúde e educação públicas, dificuldade na geração de renda e/ou trabalho, e a “tatuagem hedionda” que marca os corpos que transitam pelo sistema penitenciário, mesmo quando não estão em seu interior.
Consideramos esses elementos como indicativos dos motivos pelos quais o sistema proibicionista e o punitivismo se adequaram facilmente ao modelo repressivo brasileiro. A estratégia de guerra às drogas funciona como “carro-chefe” para a criminalização e extermínio da pobreza, através de um discurso em busca de lei e ordem, que são possibilitados pela produção do medo generalizado atribuído exclusivamente à violência urbana e, esta, à pobreza. Esta equação simplista tem como efeito direto um processo de encarceramento em massa da juventude pobre, negra e marginalizada, assim como também de seu extermínio.
Nas últimas décadas, principalmente, após a lei 11.346, de 2006, conhecida como “Lei das Drogas”, constata-se expressivo aumento do encarceramento no país. A tipificação penal de tráfico de drogas é a responsável pelo maior percentual de prisões, aproximadamente um terço. Em 1990, a população carcerária tinha pouco mais de 90 mil pessoas. Entre 1990 e 2005, o crescimento da população prisional foi de cerca de 270 mil nestes 15 anos. De 2006 até 2016, o aumento foi de aproximadamente 300 mil pessoas (15).
Neste sentido, nos últimos anos a população carcerária brasileira aumentou em 267%, se tornando a quarta maior do mundo, com aproximadamente 800 mil presos (16). Este cenário é ainda mais alarmante, quando realizamos uma análise interseccional (17). O número de mulheres encarceradas, entre 2000 e 2014, aumentou 567%, subindo de 5.601 para 37.380. A relação do encarceramento feminino com a acusação de tráfico ou associação ao tráfico é ainda mais dramática. Cerca de 67% estão encarceradas diretamente devido a proibição às drogas. Ao analisar a relação entre gênero, raça e classe na produção da subordinação social, percebemos a vulnerabilidade da mulher encarcerada no Brasil: jovem (metade tem até 29 anos), solteira (57%), negra (67%), com escolaridade extremamente baixa (50% não concluiu o ensino fundamental) (18).
Conforme ressalta Boiteux (19), as detentas são, em geral, chefes de família e responsáveis pelo sustento dos filhos, sendo que 80% delas são mães. Justamente por representar o perfil mais vulnerável à opressão social no Brasil, apesar de condenadas por crimes sem violência, essas mulheres são mais facilmente selecionadas pelo sistema penal.
Outro efeito nefasto da política de guerra às drogas no Brasil é o extermínio de uma massa incalculável de jovens negros e pobres. Na década de 1990, auge do neoliberalismo no Brasil (pelo menos até agora), somente a polícia do Rio de Janeiro matava aproximadamente mil pessoas por mês, sendo a grande maioria, pessoas com esse perfil. Em 2017, o número de pessoas mortas pela polícia no mesmo estado foi de 1.035 pessoas, o maior índice desde 2009 (20).
Tais números e a reverberação deles em nossa sociedade corroboram a tese de Malaguti (21), para quem vivemos um processo de adesão subjetiva à barbárie. A banalização desse extermínio também evidencia o que vários autores como Nilo Batista (22), Abdias do Nascimento (23) e Ana Luiza P. Flauzina (24) vêm denunciando há várias décadas como sendo efeito direto do processo de racismo estrutural (25) da sociedade brasileira. Quando de sua visita ao Brasil, a pesquisadora e ativista estadunidense Deborah Small (26) definiu a política de guerra às drogas como uma política racista, pois, possibilita ao Estado sua prática histórica de segregação e extermínio da população negra.
Entende-se, neste sentido, que a política estadunidense imposta à América Latina, denominada de guerra às drogas, ao construir e ser construída a partir de uma narrativa de aumento da criminalidade em decorrência do tráfico e de uma suposta epidemia do uso de substâncias psicoativas, principalmente a partir da década de 2010, constrói um cenário propício para os instrumentos de governo que encarnam em nosso dia a dia, o racismo de Estado, assim como pensado por Foucault (27).
Desta maneira, a política de guerra às drogas contribui para uma política de Estado higienista, racista, machista, implementada por um Estado oligárquico, patriarcal e colonialista. Entendemos esta como uma política que produz o corte biopolítico em sociedades como as nossas, atravessadas pelo que Foucault (28) denominou biopoder. Este conceito busca compreender as modalidades de governo da vida que passam por um conjunto de mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais entram na esfera política, numa estratégia política e de poder.
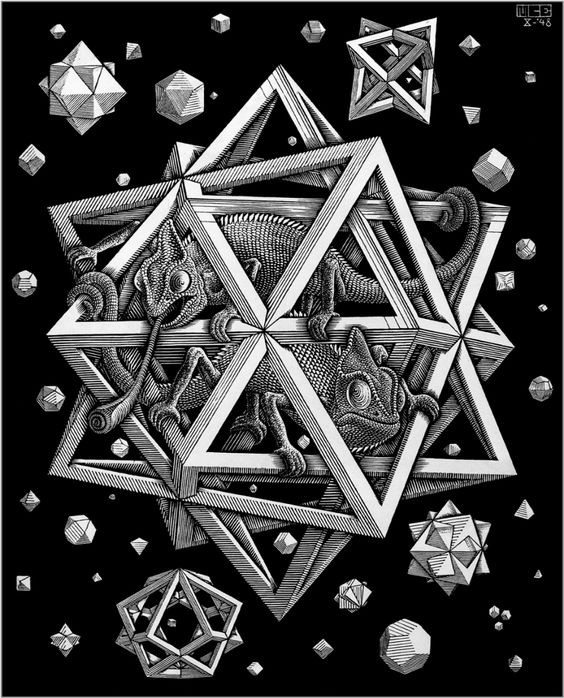
Desse modo, há, segundo Foucault, um grande paradoxo em nossa sociedade: o período em que mais se fala e se defende a vida é também aquele em que mais se mata (29). Os discursos de defesa e cuidado com a vida, nessa nova modalidade de gestão e governo da própria vida, têm sua importância e aceitação através do discurso científico e médico, que passam a pautar os modos legítimos de viver dentro de uma determinada norma. Com isso, há procedimentos de normalização que investem, principalmente, mas não só, contra as categorias que fogem à norma, dentre as quais, hoje, se enquadram os considerados usuários de drogas, especificamente, do crack.
Mbembe (30) entende que na atualidade o conceito de biopoder não é mais suficiente, tamanha a violência do Estado e dos poderes constituídos contra negros e minorias. Este autor denomina como necropolítica as formas contemporâneas da subjugação da vida ao poder da morte.
O CRACK COMO ATUALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DROGA
Como exposto anteriormente, a maconha foi utilizada no final do século XIX e início do XX como dispositivo que possibilitou a criminalização da cultura e do povo negro recém-liberto da escravidão. No final do século 20 e nos primeiros anos do século 21, parece ser o crack a principal substância psicoativa utilizada como dispositivo que propicia tal criminalização. Mas é com a implementação da “guerra às drogas”, a partir dos anos 1980, que se iniciou uma política estatal de extermínio desta população, tendo o combate às drogas como suposta justificativa.
Desse modo, com a radicalização do neoliberalismo e suas consequências sociais, é o crack que passou a operar como dispositivo de gestão da população indesejada das grandes metrópoles brasileiras. Outra função deste dispositivo crack, no contemporâneo, é possibilitar uma determinada forma de gestão destas cidades, tornadas agora cidades-negócio (cidades-espetáculo). O dispositivo crack funciona como ativo no mercado de capitais, contribuindo no processo de especulação imobiliária, de gentrificação e na formação das parcerias público-privadas (PPP), características próprias à racionalidade neoliberal e da gestão das metrópoles.
É através da gestão desta população que parte do gerenciamento da cidade-negócio se torna possível. O discurso de cuidado com os “dependentes do crack” possibilita práticas de segregação e internação compulsória de parte dessa população. Deste modo, os territórios degradados, largados há muito pelo Estado, ocupados por pessoas desprezadas e esquecidas por esse mesmo Estado, vão se tornando matéria prima para as PPPs e para a privatização dos espaços públicos.
Como condição de possibilidade deste modo de gestão da população usuária de crack, o discurso de uma epidemia da droga foi fundamental (31). Tal narrativa era cercada de elementos morais, religiosos e punitivistas, tendo frequentemente a associação entre os usuários de crack a zumbis. É neste cenário de comoção e medo no qual foi erigido e fortalecido o Programa Crack é possível vencer e sua justificativa orçamentária. Entre 2011 e 2014, o governo federal através deste Programa custeou 3,5 bilhões em ações interministeriais de cuidado, saúde e repressão ao tráfico.
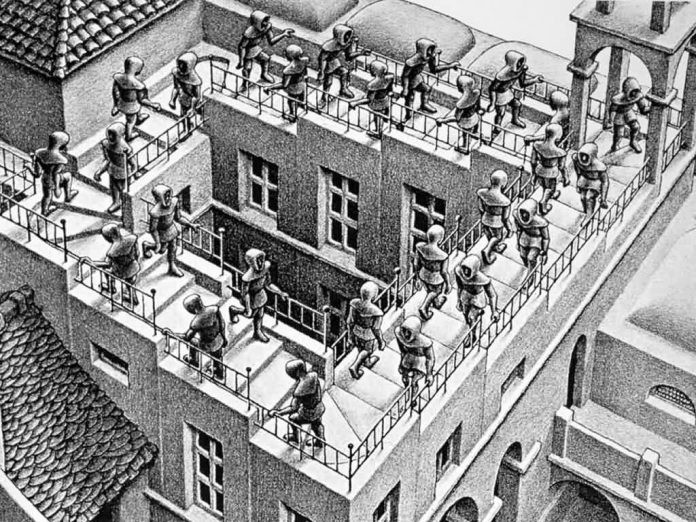
O Programa tinha como base um tripé de ações voltadas para a Prevenção (a partir da educação, com informações e formação), do Cuidado (com aumento da oferta de tratamento de saúde e atenção ao usuário) e da Autoridade (enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas). Neste período de execução do programa, presenciou-se ações, pautadas pelo que Macerata, Dias e Passos (32) definem como paradigma da abstinência (33) em contraste com o paradigma da redução de danos (34). O paradigma da abstinência evidenciou um dispositivo “pouco definido, mas muito propagado e presente nas ruas mais centrais da cidade: a internação compulsória ou involuntária de dependentes químicos do crack” (35). Este dispositivo tem sido utilizado com ampla frequência como justificativa de suposta proteção social. Assim, vem se permitindo o recolhimento e internação compulsória de pessoas que vivem nas ruas das grandes cidades.
Contudo, apenas em 2014 foi realizada uma ampla pesquisa sobre o uso e o perfil dos usuários da substância no Brasil (36). A pesquisa demonstrou que a prevalência de uso regular de crack nas capitais brasileiras era de 0,8% da população adulta. Este dado é preocupante do ponto de vista da saúde pública, evidentemente; porém, encontra-se muito distante das prevalências estimadas de dependência do álcool, de oito a quinze vezes maiores, e distante de caracterizar uma epidemia.
No entanto, segundo Garcia (37), foram os marcadores de exclusão social que mais chamaram a atenção na interpretação dos dados da pesquisa. Oito em cada dez usuários regulares de crack são negros. Oito em cada dez não chegaram ao ensino médio. Essas proporções são bem maiores do que as encontradas no conjunto da população brasileira. Além disso, referem-se a características temporalmente anteriores ao uso de crack. Somavam-se a esses, outros indicadores de vulnerabilidade social, como viver em situação de rua (40%) e ter passagem pelo sistema prisional (49%). Entre as mulheres usuárias regulares de crack, têm-se o mesmo padrão de vulnerabilidade social, com o agravante de 47% delas relatarem histórico de violência sexual (comparado a 7,5% entre os homens). Este mesmo autor conclui que a exclusão social e uso de crack provavelmente formam um ciclo vicioso que se retroalimenta e ainda estende seu efeito mesmo àqueles que sequer fazem uso da droga (38).
Como dispositivo híbrido, o Programa Crack é possível vencer possibilitou o avanço na consolidação de uma rede de atenção psicossocial, em substituição à lógica hospitalocêntrica que regia o cuidado ao sofrimento psíquico no país. Nicodemos e Elias (39) salientam a expansão de novas estratégias e tecnologias de cuidado, como a implantação de Consultórios de Rua, Centros de Referência vinculado às Universidades e Escolas para Redutores de Danos.
Em um movimento paradoxal à expansão dos serviços territoriais calcados nos princípios do SUS e da Reforma psiquiátrica, possibilitou-se também práticas e políticas de exclusão, segregação e violência. Em detrimento das políticas que articulavam serviços intersetoriais para lidar com o histórico processo de exclusão dos usuários do crack, se fortaleceu de lá pra cá um cenário no qual internações voluntárias ou compulsórias foram legitimadas e estabelecimentos autodenominados comunidades terapêuticas (40) foram fortalecidos, muito em função de suas vinculações com lideranças políticas e religiosas (conhecidas como bancada cristã). Ou seja, ao mesmo tempo que fortalecíamos a rede de atenção psicossocial e sua lógica de cuidado territorial, a lógica da segregação e violência a essa camada da população também crescia.

A estratégia clínica da internação se contrapõe a lei 10.216/2001 (41), que regulamentou que são proibidos tratamentos em instituições asilares, principalmente, no que tange ao artigo 4º, que estabelece que a internação, em qualquer modalidade, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, sendo apenas permitida em situações excepcionais e graves.
Diferentemente desta estratégia que segrega os já excluídos, numa linha de continuidade com o proibicionismo e, deste modo, com a política de guerra às drogas, a estratégia de redução de danos (RD) possibilita lidar com esta problemática a partir de outra perspectiva, multifatorial. O uso da substância é mais um dos elementos que compõem a vida do sujeito, e a problemática do uso prejudicial precisa ser entendida junto com os outros elementos, tais como habitação, emprego e renda, segurança alimentar, consolidação de direitos sociais, saúde e educação. O processo de ampliação e definição da RD como um novo paradigma ético, clínico e político para a política pública brasileira de saúde de álcool e outras drogas, a partir de 2003, implicou um processo de enfrentamento e embates com as políticas antidrogas que tiveram suas bases fundadas no período ditatorial.
Segundo Passos e Souza (42), o mais essencial da perspectiva da redução de danos é ser um método construído pelos próprios usuários de drogas e que “restitui, na contemporaneidade, um cuidado de si subversivo às regras de conduta coercitivas. Reduzir danos é, portanto, ampliar as ofertas de cuidado dentro de um cenário democrático e participativo”.
Neste sentido, a estratégia da redução de danos é pensada como política transversal realizada a partir do funcionamento em rede de uma série de serviços intersetoriais. Busca-se, assim, a efetivação da capilarização da democracia nos territórios mais vulnerabilizados da cidade; do déficit de cidade à inclusão pela/através da cidade; democracia e atenção à saúde atravessadas, reforçando-se mutuamente, pois uma não existe sem a outra.
O PROCESSO DE CONTRARREFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL
Nos últimos trinta anos, as políticas públicas de atenção à saúde mental sofreram inúmeras alterações. O processo de transformação social e político nesta área ficou conhecido como reforma psiquiátrica. Este processo buscou desospitalizar e desinstitucionalizar milhares de pessoas, construir direitos e, assim, contribuir no processo de cidadania das pessoas em sofrimento psíquico e criar uma rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, reconhecidamente, violador dos direitos básicos da vida, transformando o cuidado pautado na lógica hospitalocêntrica, por um outro, pautado pela lógica da atenção psicossocial e territorial. Deste modo, a reforma psiquiátrica tem seu alicerce nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e nos anos de luta contra a ditadura civil-militar e pela redemocratização do país.
A partir de 2001, tudo começa a mudar. Com a Lei 10.216/2001, tem início uma real mudança no cenário assistencial em saúde mental, traduzida em uma importante rede de serviços de caráter extra-hospitalar, inseridos na comunidade e programados para ampliar práticas e projetos de cuidado com forte relação intra e intersetorial. “Deu-se uma inversão na curva do financiamento dos serviços, mais precisamente em 2006, de tal forma que os gastos com serviços extra-hospitalares passaram a ser maiores que os gastos com hospitais”(43). As estatísticas são reveladoras.(44)
Amarante (45) afirma que o processo de reforma psiquiátrica no Brasil fechou, aproximadamente, 60 mil leitos psiquiátricos. No início da década de 1980, estimava-se que o país possuía em torno de 100 mil pessoas internadas. Em 2005, tínhamos 40.942 leitos credenciados. Já em 2016, chegamos a 25.097 leitos.
Em 2011, através do Ministério da Saúde46, foi instituída a rede de atenção psicossocial (RAPS) com a finalidade de criar, ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 2019, foram separadas as políticas de atenção à saúde mental e a política sobre drogas. A política sobre drogas passa a ser prerrogativa do Ministério da Cidadania. Neste mesmo ano, foi aprovada a nova Política Nacional sobre Drogas (47) que estabelece a abstinência como objetivo das ações e tratamentos que envolvem a questão do uso de substâncias psicoativas.
Outra disposição presente na nova legislação é o estímulo e apoio, inclusive financeiro, ao aprimoramento, desenvolvimento e estruturação física e funcional das Comunidades Terapêuticas. Com isso, temos um cenário no qual as comunidades terapêuticas que passam a ser diretamente financiadas pelo governo federal em 2011, chegam em 2017, com 2,9 mil vagas financiadas. Em 2019, chegam a 11 mil; a meta é atingir 20 mil vagas.
Em contraponto a este quadro de expansão do financiamento das comunidades terapêuticas, o financiamento dos outros serviços da Rede de Atenção Psicossocial sofre um processo de subfinanciamento e, até mesmo, desfinanciamento a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95 (48). Ao mesmo tempo que encontramos um desinvestimento em serviços escritos como substitutivos ao hospital psiquiátrico, o hospital especializado, inserido na RAPS através da Portaria ministerial (49), obteve aumento de 62% no valor da tabela das internações psiquiátricas. Este quadro contrastante, entre aumento de investimento em serviços ordenados pela internação como direção terapêutica e diminuição do financiamento dos serviços territoriais e regidos pela lógica da atenção psicossocial, demonstra que a inversão na curva de financiamento ocorrida em 2006, na qual os serviços extra-hospitalares passam a receber mais recursos do que os serviços hospitalares, não se manteve, indicando uma inflexão no movimento de fortalecimento do paradigma territorial e psicossocial.
Em 2017 foi elaborado o Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas (50), produzido pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) em parceria
com o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (PFDC). Na inspeção, foram fiscalizadas 28 comunidades terapêuticas, e a conclusão foi de que todas apresentavam práticas consideradas violadoras de direitos humanos, tais como: monitoramento de correspondências, de ligações e de saídas; desrespeito à escolha de credo; regime de punições; internações sem indicação médica; locais para isolamento; ausência de comunicação das internações involuntárias ao Ministério Público; agressões físicas e verbais; laborterapia; estrutura física para contenção; restrição aos vínculos familiares; excesso de medicação; relato de usuários internados há mais de três anos e sem histórico de dependência (pessoas em sofrimento psíquico ou transtorno mentais).
A RETOMADA DE UMA LUTA QUE NUNCA CESSOU
Desde o início da década de 2010, as pressões da indústria da loucura e do mercado da fé já disputavam a construção das políticas públicas em saúde mental. Em 2015, período conturbado da política nacional, a então presidenta Dilma Rousseff nomeou o psiquiatra Valencius Wurch Duarte Filho como coordenador nacional de saúde mental. Esse psiquiatra, notadamente contrário ao processo de reforma psiquiátrica brasileira, tinha sido diretor do maior manicômio privado brasileiro, a Casa de Saúde Dr. Eiras, fechada devido as constantes violações aos direitos Humanos (51). Naquele momento, os movimentos sociais em defesa da saúde pública, de trabalhadores/as da saúde, de usuários da rede de saúde mental e de familiares, ou seja, um amplo leque de movimentos sociais que fazem parte historicamente do processo da reforma, iniciou uma resistência a essa nomeação (que tinha como intuito contribuir no processo de governabilidade da gestão petista).
Os movimentos ocuparam a sala da coordenação de saúde mental no Ministério da Saúde por 121 dias, demonstrando a força de resistência dos movimentos constituintes da reforma. De lá pra cá, os movimentos constituintes tanto da reforma psiquiátrica quanto do Sistema Único de Saúde, imbricados desde seus surgimentos, vem demonstrando força na luta contra o processo de contrarreforma psiquiátrica em vigor e de destruição do SUS. Desse modo, tais movimentos de resistência mostram que continuam vivos e cada vez mais necessários na firmação cotidiana que sinaliza que onde exista poder há e sempre haverá resistência. (52)
Resistir à segregação como modo de suposto cuidado é lembrar que cerca de 70% das pessoas internadas no Hospício Colônia de Barbacena/MG, não tinham diagnósticos de doença mental. “Eram epilépticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder”(53). A indústria da loucura, sustentada por saberes e práticas ditas científicas, que agora volta junto ao mercado da fé, lucrava com essa modalidade de suposto cuidado pautado pela lógica higienista da cidade do capital.
Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes, que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, dezesseis pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo – e também de invisibilidade. Ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para dezessete faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida (54)
Ao visitar este manicômio em 1971, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, um dos pioneiros na luta antimanicomial, afirmou em uma entrevista coletiva que esteve em um campo de concentração nazista. Disse que em nenhum outro lugar do mundo, tinha presenciado tragédia como aquela. Arbex (55) estima que aproximadamente 60 mil pessoas morreram somente naquele hospício.
De nossa parte, como docente e pesquisador de universidade federal, foi necessário sair dos muros seguros da universidade. Ocupar novamente os serviços públicos de saúde mental e contribuir na luta diária dos/as trabalhadores/as da saúde pública, dos/as usuários/as e de seus familiares. Ocupar o chão do serviço público de saúde que passou a ser desfinanciado (56) (desde sua criação foram subfinanciados), com seus problemas no funcionamento do cuidado em rede, na seleção das equipes (muitas vezes funcionando como “cabides de empregos”) e em suas formações continuadas, dos desmandos de gestões preocupadas majoritariamente com o rendimento eleitoral de suas ações; ou seja, ocupar o serviço e perceber que as dificuldades reais de implementação da lógica da atenção psicossocial, baliza da reforma psiquiátrica, estão lá e fazem parte do cotidiano dos serviços e de seus trabalhadores/as, usuários/as e seus/suas familiares. Tais dificuldades são parte do processo de promoção de cuidado em um sistema tão complexo e universal quanto o SUS, ampliadas quando vivemos em uma governamentalidade neoliberal. No entanto, tais dificuldades servem para reafirmamos ali, onde acontece a reforma em ato, que acreditamos nos seus pressupostos e em seus resultados. Reafirmar que o cuidado é e só é possível em liberdade, com a conquista de direitos e exercício de autonomia e corresponsabilização dos usuários/as. Talvez seja por essas características que a reforma psiquiátrica brasileira esteja sendo tão atacada, pelo seu potencial crítico e por possibilitar que a saúde seja exercida em seu potencial de participação política, protagonismo social e resistência (re-existência).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, buscamos evidenciar um continuum entre o proibicionismo de algumas substâncias psicoativas, a política denominada como “guerra às drogas” e o atual processo de contrarreforma psiquiátrica brasileira. Nota-se relação entre setores religiosos cristãos, o Conselho Federal de Medicina, empresas farmacêuticas, os setores de segurança pública do Estado e a lógica neoliberal. O efeito direto deste conglomerado necropolítico é o extermínio de jovens pobres e negros e o encarceramento em massa tanto em presídios e agora, novamente, em manicômios e comunidades ditas terapêuticas.
O crack surge como dispositivo a partir do qual modalidades de gestão da população indesejada e da cidade do capital se tornam possíveis. Esta governamentalidade só é possível através de uma série de práticas laterais ao Estado, legitimando um discurso de cuidado e proteção aos “dependentes do crack”. Colocar estes saberes e práticas em análise é tarefa urgente para a luta por um cuidado efetivo em liberdade, que contribua para a expansão da vida e de suas experimentações vitais.
Há a necessidade de resistir a este modo de governamentalidade de distintas maneiras. Uma delas, que não pode ser menosprezada, é a necessidade de criação de possibilidades terapêuticas e clínicas que sejam balizadas pelas diretrizes do SUS e da reforma psiquiátrica brasileira. Precisamos efetivar a reforma em ato!
Mesmo com todas as dificuldades pelas quais os serviços e equipes de saúde atravessam, é imperativa a criação de estratégias que sejam efetivas de cuidado em liberdade. Grupos de gestão autônoma da medicação, acompanhamentos terapêuticos, práticas de intensificação de cuidado para usuários em crise aguda, são exemplos de estratégias criadas nos últimos anos buscando efetivar a reforma em sua perspectiva terapêutica. Desde modo, mais uma vez, fica estabelecido que toda a prática clínica é também política. A reforma psiquiátrica consolida-se no território a partir desta clínica não mais disciplinar, ortopédica, normalizante, mas sim, por uma clínica peripatética (57), rizomática, plural. Uma clínica que abre possibilidades e não se fecha em diagnósticos. E ao abrir e multiplicar as entradas e saídas possíveis, contribui para uma vida que resiste ao que a constrange e a limita.
As comunidades ditas terapêuticas hoje se encontram no centro da disputa pela direção e sentido das atuais políticas de atenção ao uso de drogas no Brasil. É urgente que consigamos disputar este sentido e direção onde quer que estejamos, seja o chão das cenas de uso de substância psicoativas, conhecidas pejorativamente como cracolândia, seja nos gabinetes das universidades ou nos serviços públicos de saúde, educação e assistência social.
A liberdade é terapêutica! Que ousemos radicalizar os preceitos do SUS e da reforma psiquiátrica brasileira, onde quer que estejamos. Já passou da hora.
Notas:
1 Michel Foucault. Em defesa da sociedade. Martins Fontes, 2005.
2 Achille Mbembe. Necropolítica.N-1 edições, 2018.
3 Gilles Deleuze e Félix Guattari.Mil Platôs. Editora 34, 2008.
4 Achille Mbembe. Crítica da razão negra. Ed. Antígona, 2017.
5 Luciana Boateux. Brasil: Reflexões críticas sobre uma política de drogas repressiva. Revista Sur , v.12, n. 21, pags. 01-06, ago. 2015. In: sur.conectas.org
6 Maurício Fiore. O lugar do Estado na questão das drogas: o paradigma proibicionista e as alternativas. Novos Estudos –CEBRAP 92, março. pp. 9-21, 2012.
7 Henrique Carneiro. A história do proibicionismo. São Paulo: Ed. Autonomia Literária, 2018.
8 Luciana Boiteux.
9 Luísa Saad. “Fumo de negro”: a criminalização da maconha no pós-abolição. Salvador: Edufba, 2019.
10 Luísa Saad.
11 Luísa Saad.
12 Luísa Saad.
13 Jurandir Freire Costa. A história da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Garamond, 2006.
14 Luísa Saad.
15 Juliana Borges. O que é: Encarceramento em Massa? Belo Horizonte/MG; Letramento; Justificando, 2018.
16 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. http://depen.gov.br/DEPEN. Acesso em 24/06/2020.
17 Carla Akotirene. Interseccionalidade. São Paulo: Ed. Pólen, 2019.
18 Luciana Boiteux.Encarceramento feminino e seletividade penal. Disponível em: http://redejusticacriminal.org/pt/portfolio/encarceramentofeminino-e-seletividade-penal. Acessado em 17/09/2017.
19 Luciana Boiteux, 2017.
20 Daniel Cerqueira, D. Atlas da Violência 2017. IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de janeiro, 2017.
21 Vera Malaguti Batista. Adesão subjetiva à barbárie. In: BATISTA, V.M. (org.) Loic Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro. Ed. Revan, 2012.
22 Nilo Batista. Política criminal com derramamento de sangue. In: Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade. Ano 3, n 5 e 6. Rio de Janeiro. Instituto Carioca de Criminologia. Freitas Bastos Ed. 1998.
23 Abdias do Nascimento. O genocídio do negro brasileiro. Processo de um racismo mascarado. São Paulo; Perspectiva, 2017.
24 Ana Luiza P. Flauzina. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro. Rio de janeiro; Contraponto, 2008.
25 Silvio Luiz de Almeida. Racismo Estrutural. Coleção Feminismos Plurais. São Paulo: Pólen, 2019.
26 Deborah Small. Palestra realizada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2016.
27 Michel Foucault. Em defesa da Sociedade. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2005.
28 Michel Foucault, 2005.
29 Michel Foucault, 2005.
30 Achille Mbembe, 2018.
31 Antonio Lancetti. Contrafissura e plasticidade psíquica. São Paulo: Hucitec, 2015.
32 I. Macerata; R. Dias; E. Passos, E. Paradigma de guerra às drogas, políticas de ordem e experiências de cuidado na cidade dos megaeventos. In: V. Batista, L. Lopes, organizadores. Atendendo na guerra: dilemas médicos e jurídicos sobre o “crack”. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2014.
33 Por paradigma da abstinência entenda-se algo diferente da abstinência enquanto uma direção clínica possível e muitas vezes necessária. Paradigma da abstinência, segundo Passos e Souza, é uma rede de instituições que define uma “governabilidade das políticas de drogas e que se exerce de forma coercitiva na medida em que faz da abstinência a única direção de tratamento possível, submetendo o campo da saúde ao poder jurídico, psiquiátrico e religioso”.
34 O paradigma da redução de danos apresenta como princípios constitutivos a busca por contribuir para o exercício da cidadania dos usuários de substâncias psicoativas, corresponsabilizando-os pelo próprio processo de promoção de saúde e autonomia, preconizando o cuidado em liberdade, numa perspectiva de cuidado integral, com a construção de projetos terapêuticos entre equipe de saúde e usuários. Estes projetos terapêuticos singulares são construídos junto com os usuários, não excluindo a abstinência de determinada substância, quando necessária e consensuada entre equipe e usuário e como parte do projeto terapêutico. Já uma política pública pautada pela abstinência exclui a possibilidade de redução de danos, caso o usuário opte pela continuidade do consumo.
35 I. Macerata; R. Dias; E. Passos, E. Paradigma de guerra às drogas, políticas de ordem e experiências de cuidado na cidade dos mega-eventos. In: Batista V, Lopes L, organizadores. Atendendo na guerra: dilemas médicos e jurídicos sobre o “crack”. Rio de Janeiro: Ed. Revan; 2014.
36 Francisco Inácio P. M. Bastos e Neilane Bertoni. Pesquisa nacional sobre o uso de crack. Quem são os usuários de crack e/ou similares do Brasil? Quantos são nas capitais brasileiras? Rio de Janeiro: Lis/Icict/Fiocruz, 2014.
37 Leon Garcia. Prefácio. In: Crack e exclusão social / organização, Jessé Souza. — Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, 2016.
38 Leon Garcia, 2016.
39 J.C. de O. Nicodemos; L. Elia. Análise crítica das políticas públicas brasileiras de saúde mental em uma perspectiva histórica. In: A.C. Souza (org.). Entre pedras e fissuras. São Paulo: Hucitec, 2016.
40 As comunidades terapêuticas, embora, infelizmente, formalmente façam parte dos serviços constitutivos da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, diferencia-se dos demais serviços ao ter como estratégia terapêutica a internação de média e longa duração, pela abstinência obrigatória, por constituir-se como instituições privadas sem fins lucrativos e, na maioria das vezes, possuir vinculações religiosas e, estas, ainda, se tornam atividades dentro das alternativas ditas terapêuticas, assim como, a terapia pelo trabalho (laborterapia).
41 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm Acesso em: 28 jan. 2020.
42 Eduardo Henrique Passos Pereira e Tadeu Paula Souza. Redução de danos e saúde pública: construções alternativas à política global de “guerra às drogas. Psicologia & Sociedade; 23 (1): 154-162, 2011.
43 Mônica de Oliveira Nunes et al. Reforma e contrarreforma psiquiátrica: análise de uma crise sociopolítica e sanitária a nível
nacional e regional. Ciência & Saúde Coletiva, 24(12):4489-4498, 2019.
44 Em 2001, a política de saúde mental registrava gasto de 79,39% com despesas hospitalares e 20,46% nos serviços extrahospitalares. Em 2013, os gastos com a rede hospitalar somaram 20,61%, enquanto os serviços substitutivos tiveram 79,54% do gasto da área de saúde mental. Com a mudança no perfil do financiamento, verificou-se uma curva de crescimento no número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da ordem de 1.722%, passando de 148 em 1998 para 2.549 unidades em 2017. O Programa De Volta para Casa, que regulamentou o auxílio-reabilitação psicossocial atualmente na faixa de R$ 412,00 mensais para egressos de longas internações, também teve aumento significativo: em 2003, eram 206 beneficiados, e em 2014 foram 434918, um crescimento de 2.111%. O número de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) cresceu 200% em três anos, saindo de 289 unidades habilitadas em 2014 para 578 em 2017.
45 Paulo Amarante. Mudanças na Política Nacional de Saúde Mental: participação social atropelada, de novo. Boletim informativo do Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS) e do Centro de Documentação Virtual (CDV), Salvador, n. 15, p. 5-6, jan./fev. 2018.
46 BRASIL. Ministério da Saúde. Decreto nº 3.088 que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS.
47 Brasil. Ministério da Saúde (MS). Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 2017. Disponível em: http://
portalms.saude.gov.br/politicanacional-desaude-mentalalcool-e-outras-drogas. Acesso e:m 27 Jan 2020.
48 Emenda Constitucional conhecida como Emenda do Teto de Gastos Públicos.
49 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.588/2017.
50 Conselho Federal de Psicologia; Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão/Ministério Público Federal. Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas – 2017. Brasília DF: CFP, 2018.
51 A Casa de Saúde Dr. Eiras Paracambi foi fundada em 1963, como filial da Casa de Saúde Dr. Eiras Botafogo, instalada no bairro de Botafogo, região nobre do município do Rio de Janeiro. A unidade Paracambi se destinava exclusivamente a pacientes psiquiátricos, denominados “sem possibilidades terapêuticas”. No período de sua criação, pré-ditadura, a Casa de Saúde Dr. Eiras Paracambi tinha capacidade de receber 2.550 internos. O hospital se localiza em uma zona rural a 90 km do município do Rio de Janeiro. Em 1991, trabalhadores do Hospital de Paracambi denunciaram à Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro os maus tratos e as péssimas condições de assistência em que os pacientes se encontravam na instituição. Esta
denúncia deu origem a uma grande mobilização e a estruturação de uma “triagem” que se configurou em uma porta de entrada municipal responsável pelas autorizações de internação hospitalar. Fonte: Lappis, disponível em https://lappis.org.br/site/um-pouco-de-historia-saude-mental-ja-foi-o-sustento-domunicipio-de-paracambi/2530
52 Michel Foucault. Ditos e escritos vol. V. Estratégia, saber-poder. Manoel Barros da Motta (org.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
53 Eliane Brum. Prefácio, p. 14. In: Arbex, D. Holocausto brasileiro. São Paulo: Geração Editorial, 2013.
54 Eliane Brum, 2013.
55 Daniela Arbex. Holocausto brasileiro. São Paulo: Geração Editorial, 2013.
56 Resultado da implementação da EC 95, conhecida como Ementa Constitucional de Teto dos Gastos Públicos.
57 Lancetti, A. Clínica Peripatética. São Paulo: Ed. Hucitec, 2009.
Espiritualidade como resistência nas encruzilhadas da atualidade política brasileira
Quais alternativas podem ser pensadas para reverter a religião capitalista que agrega mais e mais fiéis a cada dia e como é necessário repensar o lugar conferido à religião em nosso imaginário
Por Alexandre Simão de Freitas
É essa batalha incessante das divindades tomando partido em nossos conflitos mais agudos, que nos jogam nas trincheiras ou dão risadinhas pelas costas de nossos diplomatas, que queremos descrever em dois de seus aspectos mais aparentes: a crise do capitalismo e a história do fascismo (1)
Os deuses ainda vivem e tomam partido em nossas vidas. Essa afirmação aparentemente desprovida de sentido pode ser tomada como um signo, dentre tantos outros, do fechamento de mais um ciclo político em nosso país, e que vem alterando as relações de forças que historicamente regiam o exercício do poder governamental nos últimos 25 anos. Nessa direção, importa lembrar que, logo após ter sido anunciado o resultado das eleições gerais de 2018, o presidente eleito, antes de proferir seu discurso da vitória, delegou a palavra a um senador da República, também pastor e cantor gospel, que começou afirmando que “os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus”. Na sequência, após pedir que os presentes orassem em agradecimento pelos resultados alcançados, foi, ao final, acompanhado em coro ao declamar o bordão da campanha: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos (2).
Há que se atentar, com mais vagar, para as facetas desse deus evocado pelos bolsonaristas e suas implicações tanto para a democracia quanto para as novas formas de resistência social e política. Como lembra Ronaldo de Almeida, além de apresentar uma face “terrivelmente cristã” que, ao minimizar intencionalmente os seus caracteres católicos, exclui quaisquer referências explícitas às religiões afro-brasileiras, incorpora uma relação excêntrica com o judaísmo apreendido à luz do “evangelismo de matriz fundamentalista norte-americana”(3).
Ao mesmo tempo, esse deus bolsonarista ativa forças sociais que haviam sido parcialmente desarticuladas pelas lutas sociais e pelos movimentos políticos orientados pela defesa dos direitos humanos e das diferenças.
Uma vez desrecalcadas, essas forças têm produzido alianças estratégicas com projetos econômicos ultraliberais, apelando à religião para pautar uma moralidade pública definida pela regulação massiva dos corpos, sobretudo no que se refere à sexualidade, ao gênero e à reprodução, inclusive com pretensões de intervenção no âmbito legal. Nesse contexto, as cosmovisões religiosas tornam-se objeto de disputas acirradas em prol da formação de uma comunidade política orientada por códigos binários que simplificam a realidade, ao mesmo tempo em que disseminam sentimentos como o medo e o ódio.
O argumento acionado, como sabemos, é que o Estado é laico, mas a sociedade brasileira é religiosa. Pressuposição que distorce o sentido mesmo de liberdade religiosa, um dos fundamentos das liberdades modernas vigente em nosso dispositivo constitucional, voltada à proteção da diversidade e da liberdade de consciência.

O fato é que nos deparamos com uma militância estrutural e sistêmica ancorada em uma governamentalidade de forte teor pastoral que, inclusive, desafia abertamente o avanço do naturalismo científico.
Em pesquisas recentes, Jünger Habermas tematiza como o processo de racionalização forçou as religiões a renunciarem a suas pretensões de validade absoluta, limitando-as a oferecer uma visão de mundo entre outras igualmente legítimas (4). Essa dinâmica de secularização da vida social apoiou-se em três fatores históricos centrais: o progresso técnico-científico, que fomentou uma concepção antropocêntrica de mundo; a diferenciação dos subsistemas do direito, da política, da arte, etc., que fez com que as religiões se tornassem um assunto privado; e o processo de urbanização, que acelerou a passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial e, posteriormente, pós-industrial. No entanto, desde os anos 1980, “os dados empíricos sobre o significado da religião” não sustentam mais a tese da secularização”(5), uma vez que, não há dúvidas, a religião continua a exercer um papel central no espaço público, seja pela atuação crescentemente politizada de grupos conservadores e neoconservadores, alguns de teor abertamente fascista, seja pela emergência de novos movimentos fundamentalistas.
Na sociedade brasileira, por exemplo, vemos e vivemos em um cenário atravessado pelo acirramento de contendas religiosas que tem modificado a própria consciência pública ao materializar dissensos valorativos no interior das várias formas de vida. Assim, o bordão bolsonarista Brasil acima de tudo e Deus acima de todos nos força a pensar os impactos do processo de tradução, e mesmo de imposição, de determinados conteúdos semânticos religiosos no interior da esfera pública. Como não lembrar os discursos proferidos pelos deputados brasileiros que “votaram em nome de Deus” no processo de admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff(6)?
A tarefa é urgente sobretudo quando se considera que, para além de alguns círculos restritos da esfera acadêmica, os movimentos sociais e os atores políticos institucionalizados, com raras exceções, tenderam a negligenciar ou minimizar os pressupostos teológico-metafísicos carregados pelas religiões para os âmbitos da economia e da própria cultura política brasileira. Isso sem tocar no fato de que a tradição cristã praticamente monopolizou o acesso à metafísica, privilegiando categorias como substância, essência e identidade, enquanto uma parte significativa dos nossos conceitos políticos se constituem como versões secularizadas de antigos conceitos teológicos (7).
Com esse horizonte em vista, desde 2013, temos buscado desdobrar uma especulação ancorada nas chamadas artes neoliberais de governo, visando oferecer fragmentos para uma cartografia cosmopolítica agenciada pela entrada no Antropoceno (8), tematizando o papel da espiritualidade, desconfinada do terreno estrito da religião, na tarefa de interrogar os limites antropoteocêntricos da metafisica política ocidental.
Por razões de espaço, aqui, o argumento foi ajustado para elucidar a seguinte indagação: em que medida a espiritualidade pode se constituir como um fator de resistência política? O ponto de partida compreende que, no contexto político atual, experienciamos uma clivagem abissal entre “nós” e “eles” (9) alimentada por uma visão partidarizada da religião que aciona um imaginário belicoso, onde palavras de ordem e adjetivações agressivas assumem um foco preciso, do antipetismo ao antiesquerdismo, fazendo de qualquer crítico das pautas governamentais em curso um alvo de ataques.
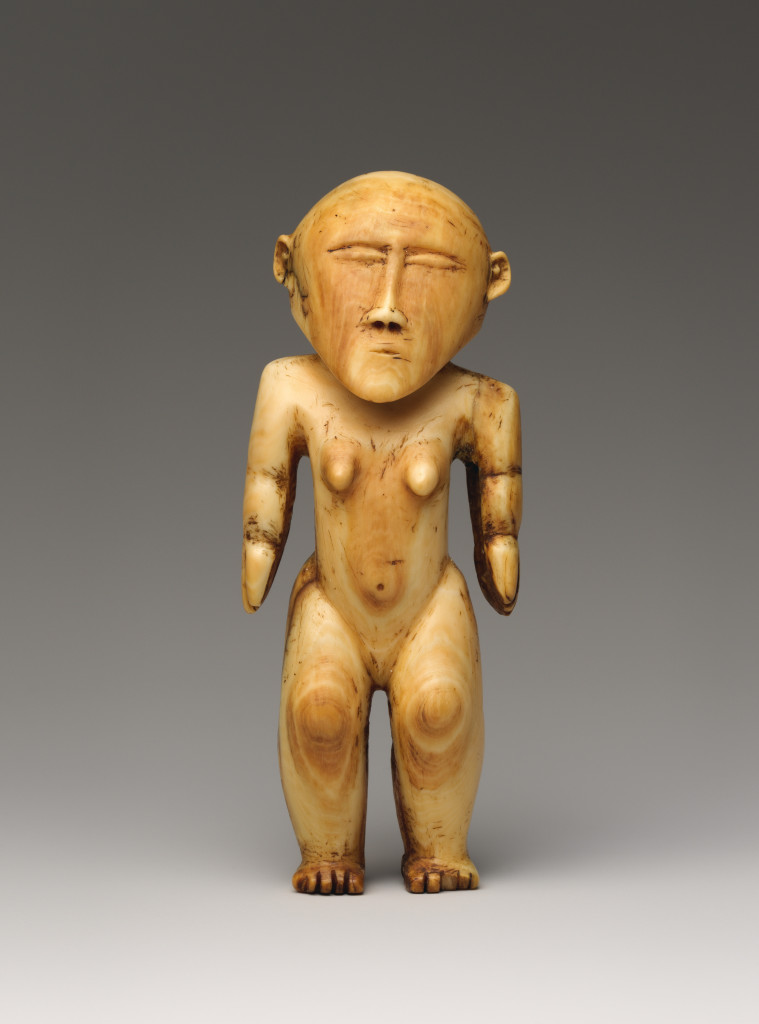
O CAPITALISMO COMO RELIGIÃO : FÉ, CRÉDITO E SACRIFÍCIOS
Para problematizar o modo como a religião tem sido acionada para fazer a política brasileira operar na lógica do inimigo, começo lembrando uma afirmação de Walter Benjamin de que o capitalismo deveria ser visto como uma religião (10). Essa proposição não se constitui como uma simples analogia comparativa. Para Benjamin, de fato, o capitalismo não representa tão somente uma secularização da ética protestante (11), configurando-se essencialmente como um fenômeno religioso de caráter parasitário.
Entretanto, menos que a adesão a um credo, o que conta no capitalismo como religião são as suas práticas cultuais: especulações, operações financeiras, manobras de bolsa, compra e venda de mercadorias. Essas práticas, diz Benjamin, não conhecem trégua, e, por isso, não existiriam mais “dias normais”, dias que não sejam propícios ao culto devorador do deus dinheiro (12). O culto capitalista é realizado ininterruptamente, todos os dias, nas empresas, nos bancos, nos shoppings, nas ruas. Esse movimento monstruoso do capitalismo termina por engendrar uma universalização da culpa, pois diferentemente das religiões convencionais, nele não se visa a salvação, mas, sim, a destruição. O capitalismo como religião expande indefinidamente suas práticas, seja produzindo e acumulando, seja consumindo e devastando. Do que decorre sua relação estreita com a culpa e a dívida, o que torna o desespero um estado do próprio mundo.
[…] o capitalismo é uma religião na qual o culto se emancipou de todo objeto e a culpa se emancipou de todo pecado e, portanto, de toda possível redenção, então, do ponto de vista da fé, o capitalismo não tem nenhum objeto: crê no puro fato de crer, no puro crédito, ou seja, no dinheiro. O capitalismo é, pois, uma religião em que a fé – o crédito – ocupa o lugar de Deus; dito de outra maneira, pelo fato de o dinheiro ser a forma pura do crédito, é uma religião em que Deus é o dinheiro (13).
Ao fazer com que sejamos apanhados em um estado perene de endividamento, o capitalismo como religião nos obriga a sacrificar a própria vida, o que gera um esfacelamento da política convertida em bio-necro-política com tendências totalitárias.
Mais recentemente, ao se converter em uma máquina especulativa e aventurosa dentro do reino das finanças, o capitalismo incorporou pulsões desenfreadas ancoradas no imperativo de gozar sempre mais, cuja representação teológico-política se expressa paradigmaticamente no culto à prosperidade. Quais alternativas então poderiam ser pensadas para tentar reverter a religião capitalista que agrega mais e mais fiéis a cada dia? A resposta não é simples e exige repensar o próprio lugar conferido à religião tanto nas ciências sociais como nas lutas políticas emancipatórias. Pois, como sabemos, em que pese uma parte significativa dos movimentos sociais desdobrados, nas últimas cinco décadas, na América Latina, terem sido marcados por referências que, em certa medida, buscavam se aproximar da religiosidade popular, desdobrando teorias e práticas que alinhavam a mensagem contida no evangelho cristão aos propósitos de emancipação (14), o fato é que esses mesmos movimentos, e suas traduções acadêmicas, permaneceram atrelados a um esquema analítico redutor do papel social e político da religião em geral.
Obviamente, ao contrário do que afirmam conservadores e neoconservadores, nunca se buscou defender, naqueles âmbitos, uma posição dogmática a favor de uma luta política decidida contra a religião. Muito pelo contrário, nas lutas políticas latino-americanas, o ateísmo nunca foi um artigo de fé. A crítica sempre foi posta no uso instrumentalizado da religião em prejuízo da humanização do ser humano. No fundo, a religião aparece, ela mesma, como uma forma de contestação, uma espécie de protesto contra a dor e o desamparo diante das condições sociais impostas pelo capitalismo (15).
No entanto, também prevaleceu até bem pouco tempo, mesmo que de forma inarticulada, a percepção de que o protesto materializado na adesão religiosa, desvinculada de uma tomada de consciência específica, expressava um protesto impotente, incapaz de mover uma transformação radical das estruturas econômicas e sociais. Nesse aspecto, vale ressaltar a força explanatória da análise marxiana, na qual a religião ocultaria o homem com a verdade de Deus, assim como o fetichismo da mercadoria ocultaria a realidade do trabalho social. A religião foi tematizada como um signo da condição trágica do humano em um mundo regido pelos valores do capital. Assim, percepção mistificada da realidade, consciência invertida são apenas algumas das expressões articuladas para indicar o caráter aporético da religião na sociedade capitalista.
O que, insisto, não significa dizer que a religião não possa ter um papel no questionamento crítico dessa mesma sociedade. Mas, na verdade, desse ponto de vista, não é enfrentando diretamente a religião que se engendram as condições para a efetiva emancipação social. A crítica à religião seria um pressuposto da crítica econômica e política, pois ao fazer a crítica da religião estamos, com efeito, contribuindo para criticar a realidade social da qual ela nasce. Encontramos variações dessa ideia não apenas no pensamento marxista tradicional, mas também em autores díspares como Freud e Comte.
Isso significa dizer que, em um mundo secular-desencantado, não há espaço efetivo para a religião, e se esse espaço existe é porque ele deve ter sido ocupado por um fenômeno outro. O afrontamento dessa tomada de posição não deixa de representar um desafio aos cânones ocidentais. Tomemos, mais uma vez, a análise dos pensadores modernos sobre os fetiches, signos exemplares dos deuses do Atlântico Negro.
Ao invés de apreender tais divindades manufaturadas como artefatos portadores de valor intrínseco e imbuídos dos agenciamentos, simultaneamente, sociais, religiosos e políticos que transcendem a sua dimensão material e se expressam como produtores de valor coletivo, o pensamento crítico ocidental persistiu em apreender esses artefatos em função de suas próprias agendas teórico-políticas, esquecendo ou fingindo esquecer que as próprias teorias que manejamos, com tanto orgulho, também são fetiches projetados para significar a sua existência, e, através dos quais os intelectuais ocidentais foram colocados na posição privilegiada de desmistificadores das culturas, cosmovisões e religiões dos outros (16).
Por isso, em que pesem as nuances e a complexidade subjacente à crítica religiosa é preciso reconhecer, mesmo na leitura esquemática que delineamos, uma das razões pelas quais os movimentos engajados nas lutas políticas não enfatizaram a possibilidade de uma relação mais estreita entre emancipação política e religião. No limite, a religião ainda continua a aparecer, para nós, herdeiros dos esquemas de pensamento ocidentais, como um meio de evasão, de refúgio, o ópio espiritual (geiste Opium) do povo oprimido, adormecendo e apaziguando sua consciência diante de sua miséria real.
Contudo, existem acontecimentos políticos em que gestos e atitudes escapam às identificações das movimentações políticas institucionalizadas nas sociedades ocidentais, subtraindo-se tanto às “oposições partidárias” quanto aos “programas de governo”(17). Nesses momentos, a religião emerge como o espírito de um mundo sem espírito.

A LUTA DO ESPÍRITO EM UM MUNDO DESPROVIDO DE ESPÍRITO
Com isso em vista, contrariando a gramática política ocidental que obstruiu a possibilidade de pensar as conexões entre o político e o religioso, uma vez que o “Iluminismo político posiciona a religião no terreno do obscurantismo ou, no máximo, no âmbito da indiferença”(18), Michel Foucault recolocou em cena uma questão recalcada pelo discurso político da modernidade: o desejo revolucionário tornou-se refém da máquina partidária, produzindo assujeitamentos típicos do poder pastoral. Resta saber se as lutas políticas podem se articular “sem o monopólio da revolução, ou para além dela”. (19)
A resposta de Foucault emergiu através da noção-enigma de espiritualidade política. Com essa noção, ele nos força a ver “a materialização de alguma coisa estranha ao ocidente moderno” (20), algo que emergindo, na forma de uma revolta, uma insurreição, interrompe o curso normal dos acontecimentos.
Para Foucault, confiscada pelas instituições religiosas e anulada pelas instituições científicas (21), a espiritualidade traz à tona uma experiência radical em que ao colocar a própria vida em risco para lutar pela liberdade, os sujeitos abrem um estado e um tempo, situado aquém ou além da subjetividade, que conecta a ação política diretamente com as forças anímicas do corpo.
É assim que, escavando a contrapelo uma genealogia da alma e de nossas relações com ela, Foucault nos faz ver uma espiritualidade que, diferindo das transcendências clássicas (o mundo das ideias, o Deus escolástico, o imperativo categórico kantiano), ancora-se em uma política do espírito (22) redobrada em uma ontologia histórica que interpela a potência política imanente às vidas dos homens e das mulheres.
Para Foucault, o fato de um povo “que recusa o regime que o oprime” não tenha já garantido o “futuro prometido”, não autoriza que suas lutas sejam deslegitimadas (23). Na esteira dessa compreensão, ele mobiliza a espiritualidade como um diagnóstico das mutações políticas em devir, aquelas que irrompem, às vezes, imperceptivelmente quando no “ardor popular”, as pessoas decidem enfrentar “metralhadoras” com as “mãos nuas” (24).
Nesses momentos, diz Foucault, é possível espiar “um pouco abaixo da história, o que a rompe e agita”, e, ao mesmo tempo, vela “na retaguarda da política, o que deve incondicionalmente limitá-la”, impedindo que os governos se arroguem o “direito de passar à conta de lucros e perdas a infelicidade dos homens”, tratando-a como um “resto mudo da política” (25). Apreendida como uma arte de viver e resistir que tenta impedir que toda vida, qualquer vida, seja relegada à condição de terra estéril, a espiritualidade emerge aqui como “uma arte da não servidão voluntária”, uma forma radical de contraconduta, reativando uma “disposição moral coletiva” que faz com que cada um possa agenciar o desejo de se insurgir diante do que se apresenta como intolerável nas relações de poder (26).
Assim, ao questionar as formas dominantes de autocompreensão do humano, seja como sujeito histórico, agente político ou pessoa moral, a ideia de uma espiritualidade política, como pensada por Foucault nunca se confunde com uma politização da espiritualidade, menos ainda com uma partidarização da religião, visando antes uma “experiência de alteração” encarnada na “vontade de uma vida outra e de outro mundo” (27), vontade essa que se apresenta como experimentação concreta, corpórea, daquilo que “permite fugir das condições de possibilidade de uma época”, mas, trazendo consigo “a virtualidade de um deslocamento, de uma modificação do quadro e do modo de vida” (28).
Por isso, a espiritualidade política se configura sempre como uma experiência do corpo, pois é do corpo e suas alianças (29) que surgem todas as ações transfiguradoras e transgressoras. Tal
como ocorre no domínio do sagrado, e das artes em geral, é por meio da experiência corporal que se vivencia, em ato, os processos de incorporação ou criação de outros mundos. O corpo não é apenas uma superfície de inscrição passiva dos poderes, mas é também o espaço vivo de contestações e dissidências, vetor de “toda uma forma cultural e social de pertencimentos, de ligações, de afetos” (30). Daí que abrir na política uma dimensão espiritual não significa sobrepor religião e política, mas apostar na possibilidade, sempre aberta, de que, politicamente, tudo pode mudar, desde que sejamos capazes de acolher o espírito que nos impulsiona a lutar, pensar e viver diferentemente.
COSMOPOLÍTICAS E A ESPIRITUALIDADE IMANENTE AOS CORPOS E VIDAS INGOVERNÁVEIS
Ao questionar as formas dominantes de autocompreensão do humano, seja como sujeito histórico, agente político ou pessoa moral, a ideia de uma espiritualidade política faz desmoronar as principais distinções da episteme moderna, trazendo à tona seus duplos sobrenaturais, ao mesmo tempo em que desvela a falácia especista, colonial e racista contida na ideia do homem como espécie natural ou essência metafísica.
Como sabemos, a cisão entre as ordens cosmológica e antropológica, resultante do grande divisor colonial-moderno-ocidental, a disjunção entre a natureza e a política, contribuiu para uma despolitização das relações cósmicas, destravando uma desenfreada guerra dos mundos (31): uma guerra entre guerras, guerras de Estado, mas também contra o Estado, como a guerra xamânica em que vivos e não vivos, humanos e não humanos, espíritos e máquinas se imaginam e contraimaginam uns aos outros.
Por isso, o xamã yanomami David Kopenawa afirmou recentemente que o atual presidente do Brasil, de fato, não é gente, pois seu comportamento se configura antes como o de um xauara, uma forma adoecida e enlouquecida de pensamento (32). Dessa perspectiva, não é exagero supor que o imaginário político ocidental tente ignorar ativa e sistematicamente seus duplos monstruosos. Essa ignorância, contudo, cobra um preço elevado pago por meio da desigualdade, do patriarcado, do racismo e da LGBTQIfobia.
Habitando as cartografias liminares dos Estados-nação, os corpos e as vidas ingovernáveis resistem e reexistem compondo alianças e linhas de fuga que permanecem inassimiladas. Não casualmente, são esses corpos e essas vidas os primeiros a tombar nas guerras em curso.
Nesse contexto, Elizabeth Povinelli lembra-nos que a prioridade dada ao metabolismo do carbono fez com que a própria noção de vida passasse a atuar como uma divisão biopolítica fundacional binária e hierarquizante (33), sustentada em marcadores heteronormativos racializados, comumente, mobilizados para oprimir pessoas e grupos.
Isso faz com que os corpos e as vidas precarizadas estejam fadadas a lutar permanentemente por um uso dos corpos sem as assinaturas teológicas que lhe foram impostas pelo projeto da colonial-modernidade, que converte, violentamente, um plano de existência regional, a compreensão ocidental de vida, em um arranjo global com pretensões totalizantes. Em oposição, inumeráveis coletivos afro-ameríndios convida-nos a pensar outras concepções de mundo não marcadas pela dualidade entre humanos e animais ou entre animais e plantas ou ainda entre plantas e rochas, concedendo plena dignidade ontológica e política aos múltiplos seres que transitam no cosmos (34).
A percepção das implicações políticas desse ponto de vista demanda uma mudança radical. Em primeiro lugar, é vital reconhecer que ao destituir de valor outros modos de existência, acabamos por replicar, pragmaticamente, as exclusões sociais que denunciamos. Em outros termos, toda política de resistência ao capitalismo como religião, e às artes de governo neoliberais em curso, precisa ser capaz também de suspender os hábitos (maus hábitos, de fato) que nos fazem acreditar que sabemos, em um sentido absoluto, o que significa ser um sujeito. Esse tipo de crença é inseparável do gesto soberano que reduz a agência e os modos de existência de inúmeros povos subalternizados, valorizando saberes que controlam seus devires e suas contraciências.
Em segundo lugar, é urgente reaprender a pensar em termos de agências coletivas de enunciação (35) que não separem natureza e cultura, o que exige acossar nosso entendimento do que significa ser então um sujeito político. Para tanto, é vital lembrar que a subjetividade não cobra forçosamente uma forma humana. Um sujeito político é constituído pela “capacidade de tomar posição, multiplamente” (36). Consequentemente, em uma perspectiva cosmopolítica, a única forma de resistir à feitiçaria do capitalismo é ultrapassando os limites entre o que chamamos natureza e sociedade (37), fazendo-nos ver os marcadores sociais, mas também os marcadores cosmológicos da diferença.
A lição é dura. O acolhimento de alteridades, a multiplicação de sujeitos políticos exige tornar inoperante a máquina antropoteo-política ocidental, tecendo e destecendo cartografias de lutas políticas não antropocêntricas, por meio de alianças inter-, multi- e transespecíficas capazes de desafiar nossa ontologia mononaturalista.

A ARTE DE FERVER AO TOQUE DO OUTRO… BRUXAS, IOGUES, XAMÃS
Na esteira de autores como Mbembe (38) e Federici (39), é preciso aprender a distender as análises biopolíticas para mostrar como, nas colônias de povoamento, se configurou um aparato estatal mórbido e mortífero que produz formas de terror corporal sob o influxo de desregulações neoconservadoras que militarizam a vida cotidiana e partidarizam a religião, construindo um opositor sexualizado, generificado e racializado exposto à violência do Estado e suas políticas de segregação, silenciamento e destruição.
Navegando na contracorrente, é preciso recuperar outras formas de “corporificar a resistência”, reanimando e reativando toda uma arte de viver que “inflamando certos pontos do corpo” (40) permita restaurar a posição das vidas abjetas à condição de vidas que importam, desestabilizando as matrizes coloniais que ainda vigoram, silenciosamente, em nossa compreensão do fazer política. Nesse âmbito, para surpresa ou inquietação de alguns militantes e ativistas, a consideração de determinadas expressões advindas do campo fenomênico da espiritualidade, permite não só confrontar o discurso religioso, enquanto uma fonte histórica de desprezo e abjeção endereçadas aos corpos dissidentes, mas pode também proporcionar uma abertura expressiva para novas lutas políticas.
Por isso, pensadoras e ativistas como Starhawk (41) e Spargo (42) têm buscado extrair da espiritualidade “uma força especulativa e infundada” para estabelecer as bases de uma resistência ética e política enquanto expressão de uma experiência radical “de se posicionar fora, seja das normas sociais ou de nosso próprio si-mesmo” (43), sempre pressupondo que “o que define a vida é sua incapacidade de assumir definições rígidas, sua plasticidade, abertura a um outro que me é impossível controlar” (44).
Nesse contexto, a espiritualidade desdobra uma nova arte política. Uma arte herdada das bruxas e feiticeiras, dos faquires e xamãs, e que visa expor-nos à diferença e à pluralidade, preparando-nos para uma luta política que principia por nos fazer atentos à precariedade ontológica e política dos corpos. Mas, vale reiterar que, para muitos coletivos espalhados ao redor do planeta, os corpos não têm as fronteiras e os limites fantasmagóricos que o nascimento e a morte emprestam ao que delimitamos como sendo uma vida. Por isso, tanto o corpo morto quanto o corpo em transe desconhecem os limites metabólicos traçados pela ontologia política ancorada no imaginário do carbono.
Como consequência, pensar as lutas políticas no presente implica articular perspectivas (espirituais, cosmopolíticas) nas quais os corpos em fluxo nas teias da vida, da não vida e da entrevida passem a contar como figuras efetivas da ação política. Algumas dessas figuras já começaram a se fazer presentes em nossos sistemas de pensamento: as multidões queer (45), as subjetivações cyborgues46 e transfeministas (47). Outras ainda nos estão sendo apresentadas como estrangeiras: o animista(48) e o deserto (49).
Entre nós, a verdade é que mal começamos a cultivar uma efetiva disposição para acolher as figuras de nossa própria sobrenatureza: os terreiros e seus orixás50; a ayahuasca e suas florestas de cristais (51); os catimbós e os mestres da jurema (52).
Assim, como um convite a trilharmos nessa direção, para concluir, lembro de que tendo viajado a Atenas para participar de um congresso, Davi Kopenawa e Ailton Krenak foram convidados a visitar a Acrópole e o Templo de Zeus. Mas o que teria realmente chamado a atenção desses dois pensadores ameríndios foi o Monte Olimpo, local outrora considerado sagrado e onde caminhavam os deuses entre os mortais, hoje transformado em um parque natural. No final da visita, o xamã yanomami Kopenawa afirmou ter gostado muito de estar naquele local, pois, disse ele, “agora sei de onde saíram os garimpeiros que vão destruir minha floresta… o pensamento deles está aqui” (53).
A observação foi recebida com certo espanto por seus interlocutores e anfitriões, que não enxergavam uma relação direta entre as ruínas de velhas paisagens do mundo grego e a atividade colonial-extrativista-predadora praticada na floresta amazônica. O esclarecimento simétrico foi feito por Ailton Krenak que explicitou a observação arguta do xamã yanomami: “quando despersonalizamos o rio, a montanha… nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos”, pois a desespiritualização do mundo é “muito similar ao processo mental que conduz à desumanização de outra pessoa” (54).
Uma resposta extremamente lúcida para quem, além de conceitos e maquinário filosófico-político, carrega também os olhos cheios de terra. Ora, cultivar os olhos cheios de terra não é essa mesma a tarefa da política, sobretudo uma política que se mostra disposta a transitar nas cartografias abertas pelas vidas e pelos corpos ingovernáveis?
Nossa resposta é um enfático sim. Tanto a noção de espiritualidade política quanto a visão cosmopolítica permite-nos começar a atravessar o abismo que separou, desde o processo de colonização-expropriação-globalização do mundo, “um povo com filosofia e história em oposição aos povos com mito”. Com seus gestos inauditos, a espiritualidade pensada como uma arte de segurar o céu pelas diferenças (55), talvez, possa incitar os movimentos políticos a pensar e a viver novas alianças que tornem possível delinear novos caminhos de luta e resistência ao empresariamento depravado da vida.
Não há dúvidas de que o tempo presente está a exigir, com crescente vigor, perspectivas de ação e de reflexão que tenham a coragem de se valer de um exercício de desinstrução ou destituição para aumentar a voltagem de nossos conceitos e de nossas práticas políticas.
Nesse sentido, a espiritualidade pode se configurar como um caminho para deslocar nossas abordagens para cartografias mais acolhedoras de heterotopias e heterocorpos, inspirando, transpirando e conspirando modos de ação política orientados por uma postura que nos faça lembrar, como bem diz Silviano Santiago, que somos todos parentes por intoxicação, amantes, ainda que muitas vezes desalmados, dos exus, dos xapiris e das onças (56). Reconhecer isso é também uma tarefa ético-estético-política. Reconheçamos então… antes, como lembra a epígrafe de Roger Bastide destacada no início dessa reflexão, que os deuses assumam partido em nossos conflitos políticos, condenando-nos às trincheiras ou abandonando-nos com suas risadas histriônicas.

Notas:
1 Roger Bastide. A Batalha dos Deuses. In: O Sagrado Selvagem e outros ensaios. Companhia das Letras, 2006.
2 Ronaldo de Almeida. Deus acima de todos. In: Democracia em risco? 22 ensaios sobre o Brasil hoje.
Companhia das Letras, 2019, p. 35.
3 Ronaldo de Almeida.
4 Jünger Habermas. Entre naturalismo e religião. Tempo Brasileiro, 2007, p. 307.
5 Peter Berger. The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Eerdmans Publishing Company, 1999, p. 2.
6 Andrea Dip. Em nome de quem? A bancada evangélica e seu projeto de poder. Civilização Brasileira, 2018
7 Giorgio Agamben. O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do governo: homo sacer, II, 2., Boitempo, 2011; e Antonio Ozaí da Silva, Teologia Política do Poder. Revista Espaço Acadêmico, Maringa, n. 125, p. 148-150, out. 2011. Disponível em: http://bit.ly/1Hb0Hs4 Acesso em: 21/11/2020.
8 Debora Danowski; Eduardo Viveiros de Castro. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins. Cultura e Barbárie, 2014.
9 Luiz Eduardo Soares. O Brasil e seu duplo. Todavia, 2019, p. 19.
10 Walter Benjamin; Michael Löwy. O capitalismo como religião. Boitempo, 2013.
11 Max Weber. A ética protestante e o Espírito do capitalismo. Companhia das Letras, 2004.
12 Walter Benjamin; Michael Löwy.
13 Giorgio Agamben. Deus não morreu. Ele tornou-se dinheiro. Entrevista com Giorgio Agamben. Blog da Boitempo, São Paulo, 31 de Ago. 2012. Entrevista. Disponível em: http://blogdaboitempo.com.br/2012/08/31/deus-nao-morreu-ele-tornou-se-dinheiro-entrevista-com-giorgio-agamben/ Acesso em: 20/11/2020.
14 Ignacio Ellacuría. Escritos Teológicos I. UCA, p. 235-245.
15 J. Sobrinho. Cristología desde América Latina: Esbozo a partir del seguimiento del Jesus histórico. CRT, 1977.
16 Bruno Latour. Reflexão sobre o culto moderno dos deuses fe(i)tiches. Edusc, 2002.
17 Cesar Candiotto. A dignidade da luta política: incursões pela filosofia de Michel Foucault. Educs, 2020, p. 135.
18 Cesar Candiotto.
19 Cesar Candiotto.
20 Cesar Candiotto.
21 Michel Foucault. A coragem da verdade. Martins Fontes, 2011, p. 217.
22 James Bernauer. Por uma política do espírito de Heidegger a Arendt e Foucault. In: Revista Sínteses Nova Fase, v. 21, n. 65, p. 319-336, 1994.
23 Cesar Candiotto.
24 Michel Foucault. Repensar a política. Forense Universitária, 2010, p. 369.
25 Michel Foucault.
26 Cesar Candiotto.
27 Christian Laval. Foucault e a experiência utópica. In: Michel Foucault, O enigma da revolta. n-1 edições, 2018, p. 103.
28 Christian Laval.
29 Judith Butler. Corpos em aliança e a política das ruas. Civilização Brasileira, 2018.
30 Christian Laval.
31 Bruno Latour. Políticas da natureza: como associar a ciência à democracia. Unesp, 2018.
32 Davi Kopenawa. Bolsonaro é o que nós, Yanomami, chamamos de xauara, possui um pensamento adoecido. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/591420 Acesso em: 06/10/2020.
33 Elizabeth Povinelli. Geontologies: a requiem to late liberalism. Duke University Press, 2016.
34 Marisol de la Cadena. Natureza incomum: histórias do antropo-cego. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 69, p. 95-117. 2018.
35 Como lembra Guattari, um agenciamento coletivo de enunciação é todo dispositivo que permite unir diferentes fluxos semióticos, materiais e sociais sem precisar fazer dessa unificação um corpus organizado ou uma metalinguagem abstrata. Em outros termos, as subjetivações e as identidades em luta são sempre processos que se produzem e aparecem em multiplicidades (de classes sociais, de faixas etárias, de gêneros e práticas sexuais, etc.). Contudo, essa multiplicidade não precisa se consumar em uma unidade totalizante, pois é a univocidade dos afetos, e não seu agrupamento em torno de objetivos definidos a priori, que funda a unidade das lutas que jamais deveria ser antagônica à heterogeneidade dos desejos.
Ver Félix Guattari. Micropolítica do fascismo. in: Revolução molecular: pulsões políticas do desejo. São Paulo, Editora Brasiliense, 1985.
36 Fabian Romandini. H. P.Lovecraft: a disjunção do ser. Cultura e Bárbarie, 2013, p. 13.
37 Isabelle Stengers. A proposição cosmopolítica. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. Brasil, n. 69, p. 442-464, abr., 2018.
38 Achile Mbembe. Crítica da razão negra. Antígona, 2014.
39 Silvia Federici. Calibã e a bruxa. Editora Elefante, 2017.
40 Tamsin Spargo. Foucault e a teoria queer : orientações pós-seculares. Editora Autêntica, 2017, p. 47.
41 M. Starhawk. Magia, visão e ação. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 69, p. 52-65, 2018.
42 Tamsin Spargo. Foucault e a teoria queer : orientações pósseculares. Editora Autêntica, 2017.
43 Idem, p. 74.
44 Judith Butler. Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. Autêntica Editora, 2017, p. 09-10.
45 Se, por um lado, a sexopolítica é uma das formas dominantes da ação biopolítica no capitalismo contemporâneo ao disseminar várias tecnologias de normalização das identidades, por outro, ela abre um espaço de criação na qual se entrecruzam movimentos feministas, homossexuais, transexuais, intersexuais, transgêneros, chicanas, pós-coloniais… que permitem às chamadas minorias sexuais tornarem-se multidões queer, isto é, a emergência de uma desterritorialização do corpo que afeta o espaço urbano mediante dinâmicas de resistência aos processos do tornar-se normal. Assim, a multidão queer corporifica toda ação de intervenção nos dispositivos biotecnológicos de produção de subjetividade sexual. Cf. Paul
Preciado. Multidões queer : notas para uma política dos “anormais”. Revista de Estudos Feministas, v. 19, n. 1, pp. 11-20. Acesso em: 20/11/2020.
46 As subjetivações cyborgues permitem pensar uma subjetividade processual, isto é, mais afeita ao devir e à capacidade inventiva de fazer-se, e, sobretudo de desfazer-se da forma homem, enquanto figura mitificada do Iluminismo eurocentrado, deflagrando a possibilidade de coexistências e conexões entre diferentes formas de vida, sejam elas orgânicas, humanas, animais, reais ou fictícias. As subjetividades cyborgs criam um espaço intensivo de trocas e experiências nos quais as diferenças estabelecem conversações potentes, seja na criação de outras possibilidades existenciais, seja abalando o que temos como normal, lançando-as no território do híbrido e da inventividade. Ver D. Haraway. Um manifesto para os cyborgs: ciência, tecnologia e feminismo socialista. In H. B. Hollanda. Tendências e impasses – o feminismo como crítica da cultura. Rocco, 1994.
47 As subjetivações transfeministas operam movimentos contraofensivos para fazer frente à violência cishetero-patriarcal-racista contra as mulheres trans e @s sujeit@s feminizad@s, impulsionando estados de trânsito de gênero e de migração por meio de alianças transversais que possibilitem abrir espaços discursivos que nos liberem da reconversão neoliberal e suas necropolíticas de gênero biologicistas. Cf. J. Serano. Whipping girl. Seal Press, 2007.
48 O animista configura uma variedade de posições contrastantes em relação ao imaginário do carbono. O animista recusa não apenas a divisão hierárquica entre humanos e outros animais e a vida das plantas, mas as distinções entre formas de existência enquanto tais. Cf. Hilan Bensusan. Linhas de animismo futuro. IEB Mil Folhas, 2019.
49 O deserto permite configurar a existência como existente, mesmo que não vivida ainda. Em outros termos, trata-se de um ser que não é animado pelo Dasein, o ente que se concede a si mesmo o privilégio excepcional de figurar como o único ente capaz de dar sentido ao mundo. Nesse sentido, o deserto é Marte, a in/hospitalidade, como futuro da Terra. Ver E. Povinelli. Radical worlds: the anthropology of incommensurability and inconceivability. Annual Review of Anthropology, n. 30, p. 319-334, 2001.
50 Luiz Simas, Luiz Rufino, Rafael Haddock-Lobo. Arruaças. Bazar do Tempo, 2020.
51 Beatriz Labate; Sandra Goulart (orgs.). O uso ritual das plantas de poder. Mercado de Letras, 2005.
52 Sandro Guimarães de Salles. À sombra da Jurema: um estudo sobre a tradição dos mestresjuremeiros na umbanda de Alhandra. UFRN, 2004.
53 Ailton Krenak. Ideias para adiar o fim do mundo. Companhia das Letras, 2019.
54 Idem, p. 57.
55 A. Imbassahy. A arte de segurar o céu pela diferença. Suplemento Pernambuco n. 162, p. 12-15, 2019.
56 Silviano Santiago. Genealogia da ferocidade. Cepe, 2017, p. 111.

Bloco Marina
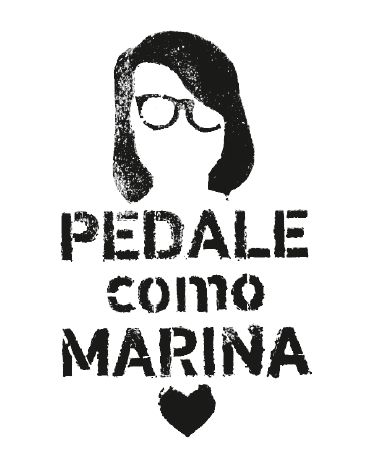
marina vive
Por Luciana Ferreira
Tuíra#3 estava praticamente finalizada quando a notícia de que marina havia sido atropelada chegou. Naquele momento, o susto, a raiva, a tristeza nos paralisaram. Ficamos algumas semanas sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, sem saber como seguir, então a Tuíra parou também.
As notícias com esclarecimentos do que havia acontecido naquela noite, a indignação de ativistas, grupos, de pessoas de muitos lugares do país, o clamor por justiça aumentava a cada dia. Faixas, lambes, fotos, adesivos, matérias deram muita visibilidade ao atropelamento criminoso. Em seguida fomos acompanhando uma sequência de homenagens às marinas que foram surgindo a partir da tragédia que foi a sua morte.
marina de pernas longas, de sorriso largo foi se agigantando ainda mais, seu nome e seu ativismo chegaram em muitos lugares. Fizemos várias conversas, pois, espalhados e trancafiados em nossas casas em plena pandemia, nos conectarmos pela internet ajudava a elaborar a dor.
Em uma dessas conversas a equipe da Tuíra decidiu por realizar uma ação por marina. Faríamos um bloco editorial para ela, falaríamos da marina que esteve aqui na Tuíra, na Escola, da marina com quem convivemos, que lutou ao nosso lado, que cantou, festejou, cozinhou com a gente e tantas e tantas vezes nos fez sorrir com suas zoações.
Queríamos fazer um texto que trouxesse marina, que falasse com marina e não sobre ela. Uma marina com m minúsculo mesmo. A grafia de seu nome aqui não está incorreta; nesta perspectiva, não queremos nos referir à marina de maneira dicotômica pela ordem de grandeza, seja grande ou pequena, ou isso ou aquilo, pois os afetos são muitos. Falamos em uma marina numa perspectiva menor, assim como Deleuze e Guattari falavam da literatura de Kafka (1). Aqui não queremos evidenciar narrativas heroicas, tampouco limitar a presença de marina a determinados fatos ou situações territorializadas como uma fotografia. Queremos a singularidade e a individuação das relações que mantivemos com ela, queremos nos atentar à potência dos encontros com marina e os movimentos moleculares que eles produziram em nós. Falamos aqui de uma submarina, que nem tantas pessoas que a admiram tiveram a oportunidade de conhecer.
Fizemos outras conversas com pessoas que tinham uma relação muito próxima com marina e com Tuíra. Nesse papo, entre choros e saudades, muito carinho compartilhado, uma necessidade de justiça e um desejo grande de dizer ao mundo do nosso amor e afeto, chegamos aos textos.
Construímos um bloco, reunides como num bloco de carnaval puxados por marina. Cada pessoa expressa aqui o que gostaria, uma história, uma sensação, uma declaração, um manifesto, tudo e nada. Sem limite de tamanho.
Nosso enredo é uma escrita em fluxo, intensiva, própria dos encontros. Os textos produzidos por Marcelo, Maísa, Ana Carol, Gabi e Felipe trazem isso tudo. Nos colocam novamente na rua, na bicicleta. Na festa, no frevo. Na casa, na vida com marina. Na cidade, na sala de aula, pois além dos textos produzidos no encontro com marina, temos aqui um recorte de sua dissertação, em que ela nos conta seus estudos, seu ativismo e suas elaborações. marina produziu marcas. Elas vibram em Tuíra.
Notas:
1 Gilles Deleuze e Felix Guattari, Por uma literatura menor. Autêntica, 2015.

Ela seguirá sendo
Marcelo Marquesini
O encontro havia sido marcado num sarau colaborativo que produzíamos de vez em quando na Vilynda, um espaço onde vários coletivos co-habitavam na Vila Madalena em São Paulo. Naquela noite específica convidamos várias pessoas do campo da mobilidade para se conhecerem e partilharem conhecimento, além, claro, de tomar umas e criticar o sistema.
Meu sentimento é que parecíamos uma comissão de avaliação, mas numa versão light, suave. Egressos do Greenpeace, tivemos a oportunidade de conhecer e atuar com a mãe de Marina, Maria Claudia, ex-coordenadora de voluntários/as e uma baita profissional.
Eu estava um tanto ansioso, com muita expectativa, não só pelo fato de poder conhecê-la mas também de saber se ela aceitaria caminhar conosco. As recomendações profissionais e pessoais eram muitas e alguém com os conhecimentos dela contribuiria enormemente na pauta de mobilidade em grandes centros urbanos, locus no qual a Escola de Ativismo viria a atuar nos anos seguintes.
Mas a coisa se embolava, para muito além de meras questões profissionais e da militância, com raízes mais profundas nas relações pessoais. Marina e minha filha chegaram a fazer algumas disciplinas juntas na universidade e, apesar de saber disso, eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Morava na Amazônia. Sua mãe também acolheu minha filha em seu primeiro ano de faculdade em São Paulo.
Marina topou!
Não consigo recordar, porque foi rápido depois daquela noite. De companheires de luta atuando principalmente em três frentes, São Paulo, Belo Horizonte e Recife, viramos amigues. A metafísica e outras correntes podem explicar com mais profundidade a química, a energia que existia. Era leve e divertido quando estávamos juntes. Para mim, ela era como uma filha. Para ela, eu era o tiozão. Vivíamos em estado de bulling permanente um com o outro. Confabulávamos juntos numa sintonia indescritível e aprendemos muito juntes. Ela me aterrava na juventude e principalmente no campo que ela vivenciava dia-a-dia para muito além do ativismo. Algo típico de uma jovem que não se resignava, às vezes era necessário segurar sua ânsia por fazer certas coisas, para que soubesse dar o passo certo na hora certa.
E não tinha tempo quente, não. Aliás, uma boa metáfora para quem atuou e amava Recife e sua região metropolitana. Era a única que pactuava comigo de seguirmos nos hospedando em um dos piores hotéis da cidade, que recebia do grupo a singela alcunha de “Espelunca”. Era barato e bem localizado, isso bastava pra nós.
Nunca esquecerei sua primeira prévia de Carnaval em Olinda, digna de uma caloura universitária ao chegar no campus no primeiro dia de aula. Apesar dela atuar em várias capitais, foi em Recife e região metropolitana que conhecemos gente fera, gente da resistência. Marina ‘voou alto’, experienciando no chão os desafios da luta pela mobilidade, do feminismo e do direito de acesso à cidade numa grande capital nordestina.
Marina era e seguirá sendo uma linda.
Ela não nos deixa saudades, deixa algo mais profundo, algo que ainda não consegui nominar. Sua determinação e dedicação serão sempre lembradas, e que sua brutal partida alimente nossos espíritos para seguir lutando por um mundo mais justo, igualitário e sustentável!
Uma trajetória de cores e frescor
Gabriela Vuolo
“A gente nem percebe, mas a cidade é a tela sobre a qual pintamos nossa trajetória. Uma tela imensa – que jamais foi branca – e que vamos lentamente colorindo, pintando de maneira própria o cinza e as outras tonalidades que lá já estavam. Deixamos marcas únicas através das lembranças do cotidiano, do que vivemos na insignificante existência. Enquanto estamos expostos ao imprevisível que nos proporciona o exterior, abrimos brechas para que a cidade se embrenhe na nossa história.”- Marina Harkot (1)
Era assim que Marina entendia e vivia a cidade – ela sabia que não era possível estar na cidade sem ser transformada por ela, e sem transformá-la. Sua trajetória – cheia de cores vibrantes e frescor – foi pintada em tantas cidades e tantas iniciativas que é difícil saber como coube tanta coisa em uma passagem tão breve por aqui.
Marina circulava. Circulava entre grupos, cidades, países, organizações… Circulava sobretudo entre jeitos de produzir e compartilhar conhecimento. Transitava entre a academia e o ativismo, levando o que fazia e aprendia de uma ponta pra outra a todo instante – algo tão necessário quanto raro. Salpicava cores de realidade nas teorias acadêmicas, e trazia tons mais profundos e robustos pro campo ativista. Era como se não houvesse separação entre uma coisa e outra, e a bicicleta era sua ferramenta pra passear entre esses universos e vivenciar, testar e refletir sobre o modelo de cidade e de mundo em que acreditava.
Foi deixando suas marcas, únicas, em todos os lugares e pessoas que cruzavam seu caminho. Pra mim, além da oportunidade de viver ao mesmo tempo a amizade com ela e com sua mãe, Maria Cláudia Kohler (o que por si só era uma tremenda vivência em diálogos ntergeracionais!), ela deixou de presente o despertar pras questões de gênero e pro fato de que nem todos os corpos se deslocam e ocupam a cidade da mesma maneira. Modulou meu ativismo dali por diante, me ensinou a enxergar e questionar privilégios (inclusive os meus próprios) e me fez compreender que uma cidade só pode ser boa quando for boa pra todas as pessoas. Todas mesmo, inclusive aquelas que a gente não vê, seja por conveniência, conivência ou ignorância.
Sua partida, tão prematura e tão brutal, é só mais uma prova de que ainda não chegamos lá. Ainda há corpos que se sentem e são vistos como mais dignos de direitos do que outros, mais donos do espaço do que outros.
Então seguiremos pintando com as cores e ferramentas que Marina nos mostrou, e desejando que deste imprevisível absurdo doloroso possam surgir as brechas necessárias para que a cidade não só se embrenhe na nossa história, mas se transforme e nos transforme.
Marina vive!
Notas:
1 https:./regadoacafe.wordpress.com/2015/05/05/a-cidade-como-pano-de-fundo-asmemorias-afetivas/
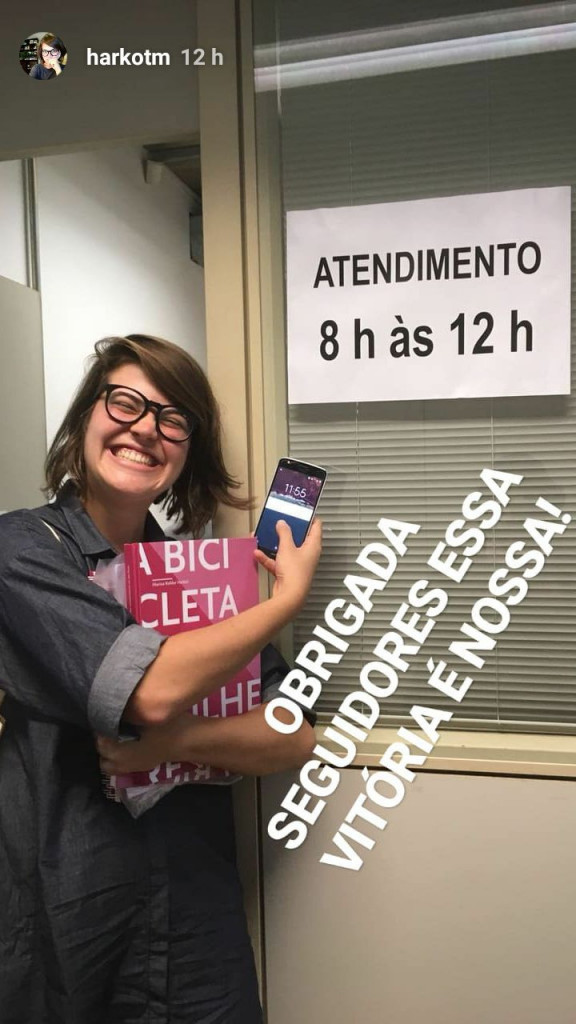
Marina é como um frevo ecoando
Maysa Lira
Lembro de toda a sequência de ações da minha manhã de 8 de novembro. Lembro que, por ser domingo, procrastinei a lida nas mensagens das redes sociais e deixei o telefone desligado por mais tempo que o habitual. Lembro que quando liguei, ele travou com tantas notificações de mensagens e ligações, talvez tenha sido meio instintivo ir até o grupo da Ramo (Rede de Articulação pela Mobilidade), que inclusive estava silenciado desde o começo da pandemia, e ler todas as mensagens, da primeira até a última.
Até que cheguei em uma que trazia o link da primeira reportagem sobre o acidente. “Ciclista morre atropelada na Zona Oeste de São Paulo”. É meio tragicômico falar que mesmo com uma foto de Mari estampando a miniatura da matéria, tudo que eu consegui processar foi “Putz! Mataram mais um dos nossos. E Mari deve ter escrito algo comentando sobre”. Demorou Deus sabe quanto tempo pra todas as informações da matéria se ordenarem e fazerem sentido que não fazia sentido algum: minha amiga tinha morrido, em cima de uma bicicleta. Era Marina ali. Dali pros dias que se sucederam, foram idas e vindas de um grande estado de negação. Foi focar em várias ações diretas, construção de painel, memorial, bicicletada, caminhada, o que fosse. Só não havia opção de parar. Parar tornava aquilo muito real e mostrava o quão imutável aquilo era. Um dia, Mari me ensinou algo sobre “se preparar pro pior cenário possível”.
— Mamá, você planeja uma ação toda, tudo lindo, tudo certo. Mas, e se chover? Você pensou nisso? Você precisa sempre pensar “E se chover?” e se preparar pro pior cenário possível. Se ele acontecer, você vai estar pronta.
Hoje, penso que não haveria “e se chover?” neste mundo que pudesse ter me preparado pra aquilo. A repercussão midiática (necessária, mas não justa) sobre tudo aquilo. A minha amiga, sendo colocada num lugar de símbolo de uma causa, mas ao mesmo tempo tão pouco sendo falado sobre ela.
Conheci Marina numa reunião; acho que a pauta era sobre mobilidade urbana na região metropolitana do Recife. Não tinha como não notar Mari num ambiente, pois a minha amiga não era lá das pessoas mais baixas. Não lembro como nossa amizade evoluiu, mas lembro que trocamos muito rápido os cafés ruins das reuniões pela cerveja gelada no fim delas, idas a cafeterias pra fugir da pressão da dissertação do mestrado, prévias carnavalescas, tour pelos bares duvidosos de Recife, banhos de chuva no Largo de Santa Cruz ao som de Reginaldo Rossi. Isso é o que ficou dela por aqui.
Exímia pesquisadora, que conseguia transpor os muros da academia e levar seu discurso a literalmente qualquer lugar. Sinto falta de vê-la quietinha, no fundo de alguma reunião, com o computador no colo, tomando nota de tudo antes de falar algo. E quando falava, fazia isso de um jeito doce. Lembro de ter falado em algum momento que ela gritava sem levantar o tom de voz. Potente, brava, doce e gentil. Vejo nossas fotos na praia, o aperto no peito é inevitável.
Sei que minha amiga morreu defendendo o seu ponto, defendendo o que acreditava. Mas não precisava que fosse dessa forma, e talvez isso jamais passe. Talvez melhore, mas Marina não é o tipo de pessoa que se acostuma a viver sem ou que deixa de fazer falta. Marina é como um frevo ecoando, aquele mesmo que ela nunca aprendeu a dançar, Marina é carnaval, é alegria e algo que pulsa. Vejo uma continuação de Marina em todos os movimentos que ela ajudou a construir em Recife, na luta da bicicleta, vejo a doçura de Marina hoje em Felipe e lembro da proteção de Marina quando vejo meu filho.
Pra ela e sobre ela só o melhor, e citando a música que poderia ter sido escrita pra ela, Frevo de saudade, de Nelson Ferreira:
“Quem tem saudade não está sozinho
tem o carinho da recordação
por isso quando estou mais isolado
estou bem acompanhado com você no coração
Um sorriso, uma frase, uma flor
tudo é você na imaginação serpentina ou confete,
carnaval de amor tudo é você no coração
você existe como um anjo de bondade
e me acompanha nesse frevo de saudade.”
Que saudade sem fim, minha amiga.
Para um amor no Recife
Ana Carolina Alfinito
É difícil lembrar exatamente a ordem dos eventos que compõem aqueles tempos. Foi um período intenso, denso, feito de lugares conectados e fragmentos situados entre 2016 e 2018. Já não era mais a energia de levante de 2013-2015, época marcada em Recife pelo movimento Ocupe Estelita, pela sua subsequente fragmentação e pela dispersão de mobilizações-ações-coletivos que atuavam no campo do direito à cidade; e ainda não era a atmosfera de inflexão e exaustão dos tempos mais recentes. Foi um ínterim, um entre, um fôlego, um tempo marcado, de um lado, pela profusão de energia, organização, e instiga que tinham brotado nos anos anteriores e, de outro, pela incerteza e receio crescente quanto ao que estava por vir.
Conheci Marina nesse momento. Ela trabalhava na Escola de Ativismo num projeto de aprendizagem sobre mobilidade urbana no Recife; eu trabalhava numa organização que fazia pesquisas sobre o mesmo tema. Nossa aproximação nasceu de uma espécie de parceria institucional – a gente ia trabalhar juntas, abrindo espaços de trocas e aprendizagens com movimentos sociais em Recife sobre mobilidade urbana e direito à cidade. E pra isso, a gente
precisava conhecer a cena, saber dos movimentos, das alianças, dos rachas, das tretas. A Marina já estava mais situada. Eu nunca tinha ido a Recife.
Me lembro agora da primeira vez que conversei com a Marina numa salinha de reunião na Rua Ferreira de Araújo, em São Paulo, na sede da ONG onde eu trabalhava. Eu estava perdida e entusiasmada, inundando a Marina de perguntas, e ela me disse daquele jeitinho lindo e despretensioso que ela tinha, como se nada:
– Mulher, daqui a uma semana tô indo pra Recife com o pessoal da Escola. Acho que você tá precisando vir com a gente, cê não acha?
Eu acho que eu fiquei vermelha de tão feliz com o convite. Como eu disse, eu nunca tinha ido a Recife, mas aos poucos, bem aos poucos, e primeiro naquela viagem, fui me aterrando nesta cidade, virando um pouco dela, e isso tudo a Marina viveu junto, viu e nutriu.
FAZENDO COMUNIDADE
É difícil contar a história de Marina em Recife sem contar a história das amizades, dos sonhos e ações coletivas que nasceram naqueles tempos. É difícil também falar sobre o espaço comum de sonho-ação que germinou sem falar da Marina. A história de um é a história da outra, tudo nasce junto, e Marina, pra mim, veio junto a um emaranhado de gente que se propôs a pensar e fazer a cidade de outra maneira; a viver de outra forma, não fora e nem apesar da cidade, mas justamente por dentro dela e por meio das suas potências. E eram muitas potências.
O projeto de aprendizagem sobre mobilidade urbana se esparramou, proliferou, gerou. A galera foi chegando e trazendo suas experiências, seus devaneios, seus anseios, suas dúvidas. Lembro de uma constelação de alianças e afetos que ia brotando. E lembro da Marina circulando, acolhendo, ajudando a organizar ideias, dando forma sem perder de vista um certo infinito que estava por debaixo de tudo. Os lugares de Marina: no Mercado São José (com um prato de carne de sol e um copo de cerveja), na Mamede, na Espelunca (entendedores entenderão), nos bastidores, quase sempre.
Nos bastidores das oficinas, dos aulões, das pesquisas, das brigas (tantas), das ações diretas, facilitando, mediando, esclarecendo, confundindo, alimentando, dando e desatando alguns dos nós que sustentavam aquela comuna.
A Ma se mexia, se deslocava, saia do lugar. Naqueles tempos nós viajávamos constantemente entre Recife e São Paulo, e aos poucos a vida começou a se organizar em torno desses deslocamentos. Às vezes a Ma se mudava para o Recife, e depois voltava. Lembro de uma conversa em que ela dizia que não sabia mais exatamente de onde era, porque naqueles processos todos os lugares tinham mudado e a vida era um misto de aproximação e distanciamento, de presenças intercaladas por ausências; que em algum momento, em alguns momentos, o lugar onde ela se sentia em casa era naquela dimensão dos vínculos que não eram exatamente nem daqui e nem de lá, que nos suspendiam do chão e nos levavam prum outro espaço.
CORPO, ALEGRIA E PROTESTO
Num desses deslocamentos surgiu uma faísca que virou uma ideia (não exatamente de alguém, mas do encontro em si) que se transformou num brinquedo de carnaval e de protesto. Nascia, de uma aproximação entre lutas e formas de brincar, o bloco carnavalesco Eu Acho é Caro, o primeiro bloco-busão-tarifa-zero do Recife, batizado em homenagem ao famoso Eu Acho é Pouco e em revolta contra o aumento da passagem que o governo, mais uma vez e sempre, tentava emplacar.
O Eu Acho é Caro é um brinquedo político que brotou do encontro, em grande parte mediado por Marina, entre a galera de Recife e a galera do Tarifa Zero, de Belo Horizonte. A Marina ajudou a organizar algumas conversas entre esses grupos sobre ação direta e mobilidade urbana. Em BH já existia o busão da tarifa zero, que circulava pela cidade sem catracas, acendendo o debate sobre a tarifa zero por onde passava. Essa experiência pousou em Recife em um momento de prévias de carnaval (estávamos em dezembro de 2017) e uma ideia logo nasceu: faríamos um bloco-protesto no busão, um bloco com estandarte e frevo pra quem quisesse se deslocar dançando e protestando pela gratuidade do transporte público. O Eu Acho é Caro saiu pela primeira vez em janeiro de 2018, circulando entre os bairros do centro e dos subúrbios de Recife, chamando a galera nos pontos de ônibus pra subir: – É tarifa zeroooooo pessoal! – Vai pro Ibura? – Vai! – Passa pelo Sport? – Passa, pó subir!
E a galera subia! Estranhava, dançava, conversava, brincava. E descia, seguia a vida, será que alguma coisa tinha mudado? Aquele bloco mobilizava de uma só vez tudo que nos interessava, o que interessava à nossa política: o lugar, o corpo, o gesto, a música, a revolta, o sonho.
E Marina sempre ali, costurando as partes, cantando brega, rindo junto. Lembro dela cantando Reginaldo Rossi enquanto tomava um solzinho na janela do busão e ligava pra algumas amigas pra ver se elas vinham. Ela bem luminosa, no lugar dela naquele cantinho do mundo e se irradiando pelo mundo todo.
Construir o brinquedo foi um trabalho a muitas mãos – houve quem fizesse estandarte, quem pensasse no trajeto, quem fizesse o chamamento; tinha também que arranjar um ônibus e procurar uma orquestra de frevo pra tocar na viagem. Euforia. Angústia. Euforia. Aquele brinquedo-protesto, como outros, não é delimitado pelo tempo. Não é algo que começa e termina. O brinquedo se estende, está sempre vivo e é sempre potência. Pode ser ativado, brotar a qualquer momento. Se aprende a brincar e a fazer política em relação e implicação com o mundo. Aprendemos juntos, e desde então, aquelas relações povoam o mundo, uma parte da Marina e de tanta gente que irradia pelo tempo e pelo espaço.
**
Foi muita gente que escreveu esse texto comigo, que gerou as palavras, as imagens, e a alegria e surpresa de estarmos juntos. Naqueles tempos e hoje. As amizades, amores, movimentos, organizações, sonhos que se fizeram naqueles tempos se tornaram os fios da minha vida. Me enraizei em Recife, com raízes aéreas como o mangue e a Marina ensinaram. Quando recebemos a desoladora notícia de que a Marina havia sido violentamente assassinada, um instinto quase visceral fez ressurgir aquela comuna. Nós nos buscamos, nos acolhemos, reconstruímos aquele espaço de junteza, choramos juntas, sem tentar entender o que não tem sentido, mas tentando derivar sentido do absurdo.
E a Marina segue raiz. A gente continua aqui, com as palavras e as mãos, registrando, ativando e continuando a tecer, junto com tanta gente, alguns dos fios de comunidade, de luta e de vida que a Marina plantou, espalhou e nutriu por onde andou. A Ma é raiz firme, aérea e viva.

Quem é mesmo é não sou
Felipe Burato
Marina nunca se apresentou como “ativista”. Nunca precisou. Em “Canto de Ossanha”, Vinícius oferta um de meus versos favoritos: “o homem que diz ‘sou’ não é, porque quem é mesmo é ‘não sou'”. Marina nunca precisou se dizer ativista, ela simplesmente era. Nas homenagens da USP à sua memória, foi comum ouvir que ela rompia as paredes da Academia com sua penetração em outros e diversos ambientes – algo tão difícil no meio. E não é que ela buscasse isso conscientemente, simplesmente é como ela se colocava no mundo: parte da cidade. Nas nossas primeiras saídas, ela me falava rindo sobre seu “programa informal de transferência de renda”, uma “piada” sobre sempre ter dinheiro para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, seja dando um trocado, seja pagando uma marmita.
Após seu assassinato, fui muito acolhido por amigas e amigos, tive gente em casa o tempo todo no primeiro mês. Quando comecei a retomar as atividades do dia a dia, sair de casa, passear com o cachorro, recebi a solidariedade de gente que eu sequer sabia o nome, mas que tinha alguma relação com Marina. A vendedora da loja de sapatos, o cara da banca de jornal, o dono do restaurante árabe em que sempre íamos. Me lembro de Seu Tavares, porteiro do prédio onde vivo, falando com os olhos marejados sobre como ela fez graça com o coletinho que ele usava na última vez que se viram.
Nos conhecemos no Carnaval, o maior ato político deste país, e o evento que melhor representa a alegria e a vida de Marina. Logo numa das primeiras conversas ela me contou que passara quase um mês direto em Recife trabalhando pela Escola de Ativismo. Eu, meio sem entender como aquilo funcionava, perguntei o que exatamente ela fazia: “ah, eu tomo cerveja e converso com as pessoas”, respondeu, com sua gargalhada inesquecível. Para ela, fazer articulação e incidência política era tão natural quanto tomar uma cerveja num boteco.
No dia da eleição de Bolsonaro, eu estava em Brasília para votar e a Marina, em São Paulo. Aos prantos, nos falamos por telefone quando saiu a primeira parcial que já indicava o resultado. Naquele desespero inicial, cogitamos sair do país. Não seria difícil, Marina tinha cidadania alemã e conseguiria me levar junto. Dias depois, quando voltei pra casa, essa já não era uma possibilidade. “A gente sai do país e daí faz o quê?”, era a minha pergunta, pensando no sofrimento de acompanhar o país se desfazer de longe. Marina já nem tinha perguntas, sabia que o lugar dela era aqui, porque pra ela só fazia sentido “estudar” o que ela vivia – e nem sei se ela tinha consciência disso àquela altura. Mais tarde, quando “engrenou” no doutorado, essa ficha já havia caído: o objeto de estudo se desenhou a partir do lugar que escolhemos para viver no centro de São Paulo, o Largo do Arouche, tradicional reduto da população LGBTQI+ periférica. Vivendo a cidade, o bairro, a vizinhança, Marina direcionou sua pesquisa para olhar os territórios a partir dos afetos.
Não é que fosse fácil conviver e viver com essa mulher tão fiel à ideias. Quando Marina mergulhou na obra de Silvia Federici, nossa relação foi sacudida. Embora ela sempre compartilhasse o que estudava comigo e os amigos, a leitura de “O Ponto Zero da Revolução” causou de fato uma revolução no relacionamento – muito por conta da fragilidade do ego masculino, na personificação das críticas sociais com que nós homens temos dificuldade em lidar. A empolgação de Marina com o tema e a leitura me colocavam contra a parede; mesmo que não fosse essa sua ideia, era como eu a recebia. E ela estava certa: aos trancos, compreendi que a discussão vai muito além da divisão das tarefas de casa.
Apesar de nada vaidosa, humilde como “pessoa pública” e muito exigente com o próprio trabalho, Marina adorava estar certa. E o problema é que na maioria dos casos ela estava certa mesmo – não à toa já era apelidada de “Sabicha” por sua família quando eu comecei a chamá-la assim. E não é que ela soubesse de tudo, ela gostava de estudar sobre tudo.
Talvez por viver essa “verdade”, Marina e a morte tenham se encontrado de forma tão precoce. Marina se foi lutando, fazendo o que ela julgava ser o certo a fazer. Existindo na cidade, como mulher, como ciclista, como pessoa. Muitas vezes o trabalho acadêmico e o próprio ativismo causavam alguma frustração nela: “nada muda, nada acontece, às vezes eu só queria ter um emprego qualquer”, desabafava. Mas seguia fazendo, lutando, na academia, em consultorias, ONGs e no dia a dia. Sua morte em cima de uma bicicleta é como um ato final da sua passagem por este mundo, que talvez cause mais impacto do que toda sua produção acadêmica conseguiria.
Repeti e repito que Marina não pedalava por ela, mas por todas que não podem pedalar, ou que são invisíveis dentro da máquina de moer gente que se tornaram as cidades voltadas ao capital. A bicicleta nunca foi uma necessidade, mas uma escolha, uma ferramenta para que Marina exercesse seu feminismo, lutasse por uma cidade mais gentil, mais afetuosa.
Amigos e amigas próximas têm me falado sobre o medo de subir na bicicleta para ir trabalhar depois do assassinato da Marina, o receio de dividir as ruas com os carros. E está tudo bem sentir medo, não querer usar a bicicleta como principal meio de transporte após tal brutalidade. Não é todo mundo que está disposto a dar a vida por ideais, por uma causa. Por isso, quem tem essa “disposição” causa tanto impacto. Marina é uma dessas pessoas. Pedalar nunca foi fim, mas sempre foi meio, caminho.
Marina parte cedo demais, mas deixa marcas, trilhas e sementes que ainda não conseguimos medir, tão pouco tempo após sua passagem.
Para mim, a “verdade de Marina” é inspiração para seguir: em frente, vivo e verdadeiro.

A bicicleta e as mulheres: mobilidade ativa, gênero e desigualdades socioterritoriais em São Paulo
Por Marina Kohler Harkot
“As mulheres nas cidades têm um tempo social impossível” – Jéssica Barbosa, Action Aid
Essa pesquisa parte de reflexões de cunho bastante pessoal, e teve suas primeiras questões e hipóteses levantadas a partir da vivência cotidiana de uma jovem mulher ciclista e as interações com o urbano em diversas cidades no Brasil e fora dele.
Ao ter a oportunidade de experimentar usar a bicicleta como modo de transporte em lugares com contextos bastante diferentes entre si – Santos/SP; Stade, uma cidade de 40 mil habitantes na região metropolitana de Hamburgo, Alemanha; Paris, na França; Zurique, na Suíça; no Rio de Janeiro; na Cidade do México; em Recife e, logicamente, em São Paulo – ficou evidente, a partir de uma experiência individual, que havia uma série de aspectos envolvidos, influenciavam e eram influenciados por “variáveis” que formam as identidades de cada indivíduo, dentre as quais gênero certamente parecia uma das mais importantes.
Discutir a intersecção entre gênero e o uso da bicicleta em São Paulo parece uma questão bastante específica, um fenômeno que dificilmente poderia ser extrapolado e interessar a pessoas que não usam a bicicleta como meio de locomoção. Entretanto, o título “A bicicleta e as mulheres: mobilidade ativa, gênero e desigualdades socioterritoriais em São Paulo” fornece algumas pistas sobre a ampla dimensão do assunto aqui tratado: não se está falando apenas sobre ou só da bicicleta, mas sobre a interação com a metrópole paulistana de maneira ampla, utilizando gênero e outros aspectos da construção da identidade e da subjetividade dos sujeitos como aspectos essenciais, que influenciam o que o campo de estudos em transportes normalmente entende simplesmente como “escolha modal”. Assim, minha pesquisa utiliza uma abordagem sociológica do transporte (VASCONCELLOS, 2001) para tentar articular a discussão sobre a manifestação das desigualdades de gênero no urbano, em um contexto latino-americano, e os fatores que fazem com que uma pessoa opte pela utilização de determinado modo de transporte influenciem e sejam influenciados pela maneira como a cidade está estruturada, mas também pela raça, classe, localização no território, idade e a subjetividade que constroem, por fim, as experiências únicas de cada sujeito.
Na primeira parte da pesquisa “As mulheres e a cidade” busco definir o que entendo por “gênero” e como a discussão desse conceito se articula com o urbano. Por que usar a bicicleta como elemento chave para compreender a relação das mulheres com a cidade, a partir de seu uso e da maneira como se dá a apropriação dos espaços públicos urbanos através dela, especialmente no caso de São Paulo? Como a bicicleta se apresenta enquanto um desafio nesse cenário – tanto por conta dos significados que ela carrega em seu uso por mulheres, à luz do contexto dos usos e papéis diferentes que homens e mulheres desempenham nos espaços urbanos, quanto no seu uso em cidades de tradição rodoviarista como São Paulo?
A BICICLETA COMO UMA FERRAMENTA DE ACESSO DAS MULHERES À CIDADE
Jane Jacobs (1961/2011), em “Vida e Morte das Grandes Cidades”, discorre sobre o planejamento e desenvolvimento das cidades americanas modernas e as escalas nelas praticadas. Ao abordar as dinâmicas das cidades reais e o que está nelas implicado, Jacobs recupera importantes noções de urbanismo que parecem ter ficado esquecidas junto com a utopia da cidade racional e de planejamento ortodoxo: uma das principais delas, e que mais encontra eco no estudo aqui proposto, é a escala humana, a escala da rua, a exposição à cidade e as suas dinâmicas. Ao pensar na maneira como as desigualdades de gênero se expressam no espaço urbano, especialmente em São Paulo, é inevitável pensar no papel exercido pela escala da cidade.
Nesse contexto, a bicicleta carrega um potencial imenso. Illich (2005) distingue “o trânsito das pessoas que usam a sua própria força para transladar-se de um ponto a outro e o transporte motorizado” (ILLICH In: LUDD, 2005, p.42), o que considero uma das principais características da mobilidade por bicicleta: ser um veículo movido a propulsão humana.
A simplicidade da estrutura metálica da bicicleta, a exposição dos corpos quando pedalando, apenas sentados no selim, a baixa velocidade média que atinge nos percursos na cidade e que possibilita contato fácil com o entorno, com as pessoas nas calçadas, com as fachadas do comércio… A bicicleta é capaz de estabelecer uma lógica diferente daquela do funcionamento das cidades modernas e rodoviaristas, por imprimir um ritmo e velocidade mais democráticos, justamente porque são alcançáveis sem a necessidade de motor.
Em se tratando da mobilidade das mulheres, os modos ativos podem desenvolver um papel fundamental nas suas viagens cotidianas, aumentando seu raio de deslocamento, as possibilidades de destino, economia de recursos, a prática de exercícios físicos, entre outros, especialmente em um contexto no qual a pobreza feminina é mais a regra do que a exceção, e no qual as mulheres dispõem de menos recursos financeiros, incluindo aí padrões do caso brasileiro tais quais as desigualdades salariais históricas e a grande ocorrência de famílias monoparentais chefiadas por mulheres.

Além disso, mesmo em famílias nas quais as restrições financeiras não são tão extremas, ou seja, nas famílias em que os gastos com a tarifa de ônibus não necessariamente comprometem boa parte da renda familiar, é fenômeno conhecido nos estudos de “mulheres e transportes” que nas famílias de casais heterossexuais que possuem um automóvel, geralmente seu uso é feito pelo homem do casal (HANSON, 2010). Em São Paulo, as mulheres são o gênero que mais faz viagens a pé, porém, o que menos faz viagens em bicicleta, não ultrapassando os 12% do total das viagens contabilizadas pela Pesquisa de Mobilidade do Metrô de 2012 (LEMOS et al.,2017).
Não é meu objetivo discorrer sobre as barreiras encontradas pelas mulheres ao andar a pé, (SIQUEIRA, 2015) (1) mas acreditamos que, ao discutir o (baixo) uso da bicicleta pelas mulheres, conseguiremos também dar conta de vários aspectos do andar a pé, já que ambos modos envolvem a exposição dos sujeitos ao ambiente da rua, mesmo que com diferentes especificidades.
MULHERES, CORPOS E DOMESTICIDADE: O PAPEL DA BICICLETA
A popularização da bicicleta, cuja origem remonta ao século XIX, teve impactos além dos óbvios: ela foi fundamental para mudar o modo de vestir das mulheres e aproximá-lo ao que vemos na contemporaneidade. De acordo com Santucci e Figueiredo (2015), o vestuário feminino se desenvolveu em cima de uma estrutura bastante conservadora – mantendo sua “ornamentação, constrição do corpo e peso” (SANTUCCI e FIGUEIREDO, op. cit., p.21) – ao passo que os trajes masculinos foram se desenvolvendo de modo a tornarem-se cada vez mais simples, mais parecidos com o que conhecemos hoje em dia já a partir do século XVIII. O uso de trajes bifurcados e calças, apesar de ter sido iniciado com as operárias em seus locais de trabalho para facilitar as suas atividades – e não como forma de rebeldia (CRANE apud SANTUCCI e FIGUEIREDO, op. cit.) – só foi parcialmente possível a partir da sua adoção pelas mulheres de elite para a prática esportiva na virada do século XIX para o XX, em especial para a prática do ciclismo.
O papel exercido pela bicicleta nas mudanças no vestuário feminino caminhou lado a lado com o movimento pelos direitos das mulheres nos Estados Unidos. Amelia Bloomer, importante ativista da causa, foi responsável por propor reformas no guarda-roupa feminino e introduzir as calças turcas presas aos tornozelos por debaixo das saias – e que ficou conhecido como Bloomer (SANTUCCI e FIGUEIREDO, 2015, p.24). O movimento pelo sufrágio feminino nos Estados Unidos, apesar de seu claro recorte de classe e raça, de e para mulheres brancas, excluindo as mulheres negras e a luta antirracista de suas principais reivindicações (DAVIS, 2016) (2), também desenvolveu uma importante relação com a bicicleta. Frances E. Willard (1997), importante figura do movimento sufragista feminino, publica em 1895 o livro A Wheel Within a Wheel, no qual narra como aprendeu a andar de bicicleta com 53 anos de idade.
Seu relato autobiográfico, apesar de ter sido escrito em um contexto completamente diferente do momento contemporâneo, traz reflexões sobre as quais nos baseamos para os argumentos desenvolvidos nessa pesquisa. Willard traça, por exemplo, paralelos sobre as relações entre gênero, corpo, vestimentas, restrição da circulação feminina e o espaço reservado às mulheres a partir da perspectiva de uma mulher burguesa, do final do século XIX, de maneira que não poderia ser mais atual:
Vivendo no interior, longe das restrições e convenções às quais a maior parte das meninas são limitadas das atividades que desenvolveriam uma boa forma física e dotadas da companhia de uma mãe que me permitiu seguir as minhas próprias vontades e desejos, eu “circulei livremente” até meu décimo-sexto aniversário, quando as longas e dificultosas saias foram inseridas na minha vida, acompanhadas de corseletes e salto-alto; meus cabelos foram domados com grampos e eu me lembro de escrever no meu diário, no primeiro episódio de desilusão amorosa de um jovem potro humano tirado de seu pasto prazeroso. ‘De modo geral, eu reconheço que a minha profissão se foi.
(…)
Meu trabalho então mudou do meu amado e ventilado mundo ao ar livre para o reino interno do estudar, escrever, falar, e assim seguiu praticamente sem interrupção ou dor até o meu quinquagésimo terceiro ano de vida, quando a dor da perda da minha mãe acentuou a tensão desse longo período no qual as vidas mental e física estavam fora de balanço, e eu caí numa forma leve do que é conhecido como desgaste nervoso do paciente e é tida como prostração nervosa por aqueles que estão ao redor. Então, violentamente lançada para fora das minhas tradicionais reações e maneiras de viver o meu ambiente, e ansiando por conquistar novos mundos, eu determinei que aprenderia a andar de bicicleta.
Um marinheiro me disse uma vez, depois de ele mesmo aprender a andar de bicicleta, “vocês mulheres não fazem ideia da nova esfera de felicidade que a bicicleta trouxe para nós homens”. (WILLARD,1997, p.10-11 – tradução nossa).
Esse trecho do livro de Willard mostra algumas das dimensões simbólicas da criação das mulheres, que permeiam seus imaginários e que podem ajudar a explicar essa “dificuldade” em andar de bicicleta.
Apesar da relação extremamente imbricada entre as variáveis que impactam o (não) uso da bicicleta pelas mulheres e, por isso mesmo, a tarefa de tentar isolar-se, senão hercúlea, impossível, busco justamente olhar para os fatores não tão óbvios que impedem ou desestimulam que mulheres adotem a bicicleta como meio de transporte.
Uma cidade com mulheres pedalando costuma ser vista como uma cidade onde o uso da bicicleta é mais seguro: as mulheres que usam a bicicleta são vistas como um “indicador” de segurança no trânsito (SINGLETON e GODDARD, 2016; LACERDA, 2014). Tal correlação acaba atuando como um discurso simplista no qual as mulheres teriam “mais medo” do que os homens de pedalar e do trânsito e que, por “naturalmente” se arriscarem menos do que os homens, precisariam necessariamente de infraestrutura cicloviária ou de medidas de acalmamento de tráfego mais amplas para darem o passo inicial em adotar a bicicleta como modo de transporte. Procuro demonstrar que não existe nada de “natural” na relação entre os gêneros, nem que não há nada que seja biológico ou intrínseco à natureza das mulheres, porque gênero é
(…) uma categoria que estrutura as relações sociais através da generificação da divisão do trabalho e das atividades; acesso a recursos; e da construção das identidades dos sujeitos. O poder é exercido em cada uma dessas esferas. As relações de gênero também fornecem um código simbólico através do qual itens e atividades são impregnadas de significados. (LAW,1999, p.575 – tradução nossa)

Os corpos femininos são, desde cedo, domados – domesticados, no sentido mais literal da palavra, querendo dizer voltar-se ao doméstico, à domesticidade. Young (2005), em “Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body, Comportment, Motility, and Spatiality”, analisa a partir de uma chave de interpretação fenomenológica o desenvolvimento e a consciência corporal de meninos e meninas, buscando desconstruir a ideia de que as mulheres teriam simplesmente menor força ou que não teriam habilidades físicas para desenvolver atividades que envolvem o uso do corpo. Tais diferenças seriam, segundo a autora, em certa medida reais, mas não simplesmente por causa da força física bruta de cada um dos gêneros, mas sim por conta da maneira como cada um deles usa o corpo. Willard menciona a sua posição diferenciada em relação às outras meninas, na qual teria podido se desenvolver livremente, mas ressalta o papel da transição da infância para a vida adulta, sobre o qual escreve Young:
Na maior parte das vezes, às meninas e mulheres não é dada a oportunidade de usar sua capacidade corporal plena na interação livre e aberta com o mundo, e nem tampouco elas são tão incentivadas quanto os meninos a desenvolverem habilidades corporais específicas. As brincadeiras das meninas são mais sedentárias e enclausuradas do que as brincadeiras dos meninos. Nas atividades escolares e extra-curriculares as meninas não são incentivadas a se envolverem com esportes, através do uso controlado de seus corpos visando atingir metas bem-definidas. Além disso, as meninas têm pouca prática em “brincar” com as coisas e, assim, desenvolver maiores habilidades na lida com o espaço. Finalmente, as meninas não são frequentemente solicitadas a desenvolver tarefas que demandem esforço físico e força, ao passo que enquanto os meninos crescem, eles são demandados a fazer mais e mais. (…)
Existe um estilo específico de comportamento e movimento positivos do corpo feminino, que é ensinado às meninas quando elas entendem que elas são meninas. Uma menina pequena apreende hábitos muito sutis do comportamento corporal feminino – andar como uma menina, virar a cabeça como uma menina, ficar em pé e sentar como uma menina, gesticular como uma menina – e assim em diante. A menina aprende ativamente a dificultar seus próprios movimentos. Ela ouve que ela deve ser cuidadosa para não se machucar, para não se sujar, para não rasgar suas roupas, ela aprende que as coisas que ela deseja são perigosas para elas. Dessa forma, ela desenvolve uma timidez corporal que aumenta com a idade. Ao se assumir enquanto menina, ela é levada a se tornar frágil. (YOUNG, 2005, p.43–tradução nossa)
Ainda traçando um paralelo com Davis (2016) e em relação às várias mulheres e ao que lhes é possibilitado, levando em consideração um recorte de gênero, raça e classe, Perrot aponta:
Diferenças sociais consideráveis marcam a condição das jovens. A liberdade da jovem solteira aristocrata, que monta a cavalo, pratica esgrima, tem um preceptor ou uma governanta, como seus irmãos, e aprende rudimentos de latim, contrasta com a vigilância exercida sobre a jovem solteira burguesa, educada por sua mãe, iniciada às atividades domésticas e às artes de entretenimento (o indefectível piano), refinada por alguns anos de estudo ou de colégio interno e submetida aos rituais de ingresso no mundo social, que visam ao casamento. A filha das classes populares é posta para trabalhar muito cedo, geralmente em serviços domésticos. Serviçal de propriedade rural (como a Marie Claire, natural do Berry, retratada por Marguerite Audoux), ela é quase sempre exposta a trabalhos pesados e constrangida à promiscuidade; criada doméstica “para todo serviço” na cidade, é exposta aos riscos da educação. Outras são admitidas como aprendizes em oficinas de costura ou numa fábrica. (PERROT, 2007, p.45-46)
Também, de acordo com Young, o que ocorre é uma completa falta de confiança das mulheres em seus corpos – e que o medo de se machucar seria maior entre as mulheres do que entre os homens. Ao mesmo tempo que as mulheres prestam atenção em seus movimentos, elas também estariam preocupadas em evitar se ferir, já que elas são ensinadas que seus corpos são antes um local de fragilidade do que como uma maneira de atingir as metas que eles próprios nos possibilitam atingir (YOUNG, 2005, p.34).
É inegável que pedalar necessariamente envolve amplo envolvimento corporal daquelas pessoas que se engajam nessa atividade, seja como prática esportiva3, seja através do uso da bicicleta como modo de transporte. Estar em cima de uma bicicleta em meio ao trânsito de veículos envolve colocar seu corpo na rua, por isso a insistência em ressaltar (também) esses aspectos do ato de pedalar na cidade, antes mesmo de discutir o uso da bicicleta per se em São Paulo e em cidades similares do Brasil e da América Latina. Estudos específicos sobre as particularidades do uso da bicicleta por mulheres vêm sendo desenvolvidos principalmente em países do Norte Global há alguns anos, normalmente buscam entender a relação entre gênero e o uso da bicicleta a partir de uma perspectiva que envolve a relação direta com a análise da infraestrutura cicloviária. Aldred et al. (2016) apontam como, em um contexto mais amplo da Europa Ocidental, é possível encontrar variações substanciais na participação de mulheres nas estatísticas ciclísticas. Nos países onde há altos índices de uso da bicicleta, o que normalmente acontece é que as diferenças não existem ou não são tão substanciais assim em relação ao gênero e à idade dos ciclistas: nesses países, inclusive, o que acontece é que mulheres e pessoas mais velhas geralmente estão sobre-representadas. Entretanto, os autores constatam que em locais como o Reino Unido, da mesma forma como acontece em outros países de língua inglesa e de baixos índices de uso da bicicleta, as taxas de desigualdade de gênero e idade são relativamente altas, com mulheres e pessoas mais velhas sub-representadas. Os autores também pontuam que nos países nos quais as políticas de incentivo ao uso da bicicleta ocorreram mais recentemente, ciclistas homens são a maioria.
As políticas de incentivo ao uso da bicicleta são divididas pelos autores em dois grupos: fatores de push (“empurrão”) e de pull (“puxão”). Aqueles referentes à primeira categoria de fatores, os de push, envolvem, por exemplo, o chamado Peak Car — hipótese que aponta que a distância percorrida em viagens feitas em veículos a motor em alguns países desenvolvidos atingiu seu pico e que, a partir de agora, cairá. Ela está intimamente associada a uma mudança modal e de cultura, com a diminuição da posse e uso de automóveis pela população urbana. Já os fatores de pull seriam aqueles que ressaltam a confiabilidade e vantagens da bicicleta em relação ao tempo de viagem em cidades com altos níveis de congestionamento viário e transporte público lotado (ALDRED et al., 2016, p.30).
O mesmo artigo, em uma breve revisão da literatura sobre o tema, elenca três grandes categorias de motivos que podem explicar tais diferenças de gênero no uso da bicicleta: aqueles relacionados às características das viagens; às normas culturais e às preferências de infraestrutura. Sobre as características das viagens, as mulheres apesar de tradicionalmente fazerem viagens mais curtas do que os homens (4), também fazem viagens que não são as mais comuns entre os “ciclistas típicos” – que viajam sozinhos e geralmente direto da origem até o destino.
As viagens “femininas” normalmente são viagens que servem passageiros; viagens com múltiplos destinos; viagens em cadeia; viagens com crianças; viagens carregando objetos pesados que não são potencialmente transportáveis numa bicicleta, o que tornaria o pedalar menos atraente para elas (ALDRED et al.,2016, p.31).
Nesta pesquisa, discordo de apontamentos que colocam a bicicleta como menos apropriada para a realização de viagens com múltiplos destinos ou em cadeia, já que é justamente nessa praticidade da liberdade de movimento — sobretudo se comparado com o transporte público – que a bicicleta tem um potencial positivo enorme.
Aldred et al. (2016) apontam a incoerência desses argumentos ao se pensar no contexto holandês de uso da bicicleta e nos manuais sobre infraestrutura cicloviária utilizados no país, que adotam medidas para minimizar alguns impactos que tais dinâmicas familiares e/ ou preferências de cada gênero podem ter ou não sobre a opção ou não pela bicicleta. Entre as medidas possíveis, os autores mencionam aspectos como a alta qualidade do pavimento utilizado nas infraestruturas cicloviárias ou a prioridade dos ciclistas sobre os automóveis nos cruzamentos, o que impactaria positivamente as mulheres e quaisquer outras pessoas transportando crianças ou cargas, por exemplo.
Em relação às normas culturais que dificultariam a adoção da bicicleta por mulheres, os aspectos identificados pelos autores seriam especialmente as tradições culturais; maior aversão a risco pelas mulheres em comparação aos homens; a tolerância ao risco e ao nível de atividade esportiva envolvidos em pedalar em contextos de baixo uso da bicicleta; e, finalmente, a intersecção entre experiências daquelas pessoas que não fazem parte do grupo de ciclistas “tradicionais” e como elas acabam sendo marginalizadas, o que pode acabar excluindo ainda mais grupos sub-representados. Outros fatores explicativos possíveis têm relação com infraestrutura e ambientes cicloviários: haveria crescente consenso entre os autores que as pessoas tenderiam a preferir pedalar em condições mais seguras e com menor interação como tráfego motorizado e que essa preferência seria ainda maior entre as mulheres.
É interessante notar, entretanto, como a literatura, especialmente aquela oriunda dos países europeus em que a bicicleta é amplamente adotada como meio de transporte há algumas décadas, se preocupa em investigar os grupos sociais dentre os quais são encontrados baixos índices de ciclistas. Este é o caso, por exemplo, do trabalho de Van der Kloof (2015) sobre migrantes em especial, mulheres na Holanda, e sua experiência em aprender a andar de bicicleta que tem um significado importantíssimo para além do pedalar em si: a prática torna-se uma maneira de adaptar-se ao país e de perceber-se pertencente àquela cultura que lhes é estrangeira. Adotar a bicicleta como transporte cotidiano, quebrando barreiras oriundas de seus países e culturas de origem, tem impacto além de seus benefícios “óbvios” e tradicionais da bicicleta, auxiliando na sua integração no país e socialização com outros grupos de pessoas que estão fora de seus círculos sociais.
Todavia, é em países com mais recentes políticas de incentivo à mobilidade por bicicleta que questões acerca de minorias são investigadas com maior frequência. Historicamente os Estados Unidos são um país onde desigualdades raciais e sociais são bastante acentuadas – já citamos anteriormente Davis (2016) e sua discussão sobre as opressões vividas pelas mulheres negras no país.
Embora vivenciadas de maneira diferente, outros grupos sociais e, especialmente, mulheres, não estão isentos de sofrer tipos de discriminação semelhante: pessoas de origem ou ascendência latina e asiática, por exemplo, vivem contextos de opressão bastante específicos, o que abre um vasto campo de possibilidade de estudos que interseccionam questões de gênero e outras características identitárias como (baixo) uso da bicicleta por esses sujeitos (EMOND et al., 2009; SINGLETON e GODDARD, 2016). Ainda, considerando o papel que o ambiente construído e desenvolvimento urbano têm sobre as dinâmicas populacionais no território, a literatura também relaciona processos de gentrificação, raça, gênero, classe e o não uso da bicicleta por mulheres em cidades como Portland (LUBITOW e MILLER, 2013). Em todos os estudos citados, aspectos identitários e de construção da subjetividade dos indivíduos têm um papel determinante nos porquês para usar ou não usar a bicicleta, bem como a maneira que esses sujeitos o fazem e as barreiras enfrentadas para tal.
É na infância que acontecem, possivelmente, alguns dos processos de aculturação determinantes para o uso da bicicleta. Trazendo a discussão para o Hemisfério Sul, ainda que em um contexto muito diferente do latino-americano, embora também situado no Sul Global, Muralidharan e Prakash (2017) analisam o impacto de um programa implementado no estado indiano de Bihar visando diminuir a diferença de gênero nas matrículas no Ensino Médio e a evasão escolar entre garotas. O programa consiste em fornecer uma bicicleta a cada menina que não abandona os estudos após a conclusão do Ensino Fundamental e segue matriculada, frequentando a escola durante o próximo ciclo de ensino. A bicicleta funcionou de maneira tão eficiente em melhorar o acesso das meninas em idade escolar aos estabelecimentos de ensino que a diferença de gênero nas matrículas foi reduzida em 40% e o desempenho escolar das meninas também aumentou.
Além disso, o estudo verificou que a efetividade do programa em aumentar a matrícula de meninas no Ensino Médio é tanta que é tão ou mais comparável a outros programas com o mesmo objetivo no Sul Asiático, mas que para tal se baseiam essencialmente em políticas de transferência de renda. Trabalho semelhante ao programa estatal indiano é aquele realizado pela ONG World Bike Relief, que atua no Continente Africano doando bicicletas para mulheres em comunidades rurais, tornando um pouco mais leves e fáceis as atividades cotidianas que antes eram um pesado fardo de ir à escola, até buscar água em fontes distantes e que antes envolviam horas de caminhada sob o sol quente. Com isso, o raio de deslocamentos possíveis para essas mulheres aumentou enormemente.
O contexto latino-americano traz expressões das desigualdades de gênero bastante locais. As grandes cidades da região, cujo rápido crescimento nas últimas décadas as tornou quase indomáveis, começaram a experimentar apenas na última década políticas mais consistentes voltadas à promoção da mobilidade por bicicleta, apenas depois que se provou a nsustentabilidade, em vários aspectos, no sistema de mobilidade urbana das cidades. Entre as grandes capitais latino-americanas, Buenos Aires, Cidade do México, Bogotá e Santiago tiveram seu momento de concepção e suas políticas públicas para bicicleta executadas a partir da década de 2000, não apenas através da implantação de ciclovias e ciclofaixas, mas também através de redes de bicicletários públicos e sistemas de bicicleta compartilhada que compuseram o chamado sistema cicloviário. No Brasil, o caso de São Paulo a partir de 2014 é referência para todo o país, mas cidades como Curitiba, Santos e Fortaleza também são casos frequentemente lembrados.
Apesar da América Latina ser uma região historicamente desigual, com grandes bolsões de pobreza e histórico do uso cotidiano da bicicleta tradicionalmente pela classe trabalhadora, em muitas das grandes cidades do continente e, em especial, São Paulo, essa prática sempre foi mais masculina. Tal fenômeno levanta questões para este e futuros estudos sobre o tema na América Latina: Quais os porquês para tal divisão? Haveriam diferenças regionais que estabelecem barreiras para a adoção da bicicleta pelas mulheres latino-americanas e, notadamente, pelas mulheres paulistanas? Como se entremeiam, localmente, questões de gênero, identidade, herança sociocultural, formação e desenvolvimento da cidade a fim de fazer com que sejam tão baixos os índices de uso da bicicleta por mulheres em São Paulo?
Notas:
1 No Brasil, essa intersecção entre gênero e andar a pé foi discutida especialmente por Siqueira (2015), a partir de investigação da percepção das mulheres ao caminhar no centro do Recife – em especial, seu sentimento de medo, componente importantíssimo na construção dessa “equação”.
2 Trazer essa informação é extremamente importante já que, com alguma frequência, o movimento cicloativista estabelece um vínculo entre o movimento sufragista e a liberdade que a bicicleta proporcionou para as mulheres. Essa correlação é inegável, mas acredita-se ser também objetivo fundamental desse trabalho a decolonização e interseccionalidade do debate, jogando luz sobre questões de raça e classe que estiveram muito presentes durante todo processo de luta pelo sufrágio feminino nos Estados Unidos. A bicicleta serviu sim, na virada do século XIX para o XX, como um instrumento de liberdade para mulheres – mas para as mulheres brancas e, especialmente, burguesas. Davis (2016) discute em “Mulheres, Raça e Classe”, o racismo das lideranças do movimento sufragista e o (não)papel desenvolvido pela devastadora maioria delas na luta antirracista e pelos direitos civis estadunidense. Assim, não se pode deixar de lembrar o papel da bicicleta para as sufragistas e as suas falas sobre isso, porém sem continuar a romantizar essa referência.
3 Sobre a dimensão da prática esportiva em relação ao gênero, Lessa (2005) aponta “Mas por que tanta falta de investimentos nas práticas desportivas femininas? Podemos dizer que isso faz parte de uma tradição de controle sobre o corpo e o comportamento das mulheres, de um imaginário coletivo no qual a passividade, o sacrifício, a submissão e a maternidade seriam dons privilegiados das mulheres, dons esses que nada combinam com os atributos exigidos para prática de esportes.” (LESSA, 2005, p.165)
4 Embora, ao pensar sobre as características das viagens “femininas”, a maior realização de viagens curtas e em cadeia seria um motivo ainda mais forte para a adoção da bicicleta como modo de transporte por elas, já que tem potencial de simplificar, tornar mais rápida e baratear a mobilidade cotidiana especialmente nesse contexto.
BIBLIOGRAFIA CITADA
ALDRED, Rachel et. al. Cycling provision separated from motor traffic: a systematic review exploring whether stated preferences vary by gender and age. In: Transport Reviews, 37:1, 29-55, 2016. Disponível em: <http:./dx.doi.org/10.1080/01441647.2016.1200156>. Acesso em: 25 fev. 2018.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
EMOND, Catherine R.; TANG, Wei; HANDY, Susan L. Explaining Gender Difference in Bicycling Behavior. In: Transportation Research Record: Journal of the transportation Research Board, n. 2125, 16-25, 2009.
HANSON, Susan. Gender and mobility: new approaches for informing sustainability. In: Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, 17:1, 5-23, 2010.
ILLICH, I. Energia e equidade. In: LUDD, N. (Org.). Apocalipse motorizado: a tirania do automóvel em um planeta poluído. São Paulo: Conrad, 2005. p. 33-72
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.
LACERDA, João. As cidades precisam de mais mulheres em bicicleta. Transporte Ativo, 4 nov. 2014. Disponível em: <http:./transporteativo.org.br/wp/2014/11/04/as-cidades-precisam-de-mais-mulheres-embicicleta.>. Acesso em: 23 fev. 2018.
Law, R. (1999). Beyond “women and transport”: towards new geographies of gender and daily mobility. Progress in Human Geography, 23(4), 567–588. doi:10.1191/030913299666161864
LEMOS, Letícia Lindenberg; HARKOT, Marina Kohler; SANTORO, Paula Freire; RAMOS, Isis Bernardo. Mulheres, por que não pedalam? Por que há menos mulheres do que homens usando a bicicleta em São Paulo, Brasil? In: Revista Transporte y Territorio, Buenos Aires, n. 16, p. 68-92,2017.
LESSA, Patrícia. Mulheres, corpo e esportes em uma perspectiva feminista. In: Motrivivência Ano XVII, n. 24, p. 157-172, jun. 2005.
LUBITOW, Amy; MILLER, Thaddeus R. Contesting Sustainability: Bikes, Race, and Politics in Port-landia. In: Environmental Justice, New Rochelle, v.6, n.4, p. 121-126, 2013.
Muralidharan, Karthik, and Nishith Prakash.Cycling to School: Increasing Secondary School Enrollment for Girls in India. American Economic Journal: Applied Economics, 9 (3): 321-50.
PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Editora Contexto, 2007.
SANTUCCI, Natália de Noronha; FIGUEIREDO, Joana Bosak de. O feminino, o masculino e a bicicleta: paradigmas de gênero construídos no vestuário ocidental. In: Competência, Porto Alegre, RS, v.8, n.1, p. 17-33, jan./jul. 2015
SINGLETON, Patrick A.; GODDARD, Tara. Cycling by choice or necessity? Exploring the gender gap in bicycling in Oregon. In: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, p. 110-118. Transportation Research Board of the National Academies, 2016
SIQUEIRA, Lucia de Andrade. Por onde andam as mulheres: percursos e medos que limitam a experiência de mulheres no centro do Recife. Dissertação de mestrado, UFPE, Recife, 2015.
VAN DER KLOOF, Angela. Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle. In: COX, P. (ed). Cycling Cultures. 1ª ed. Chester: University of Chester Press, p. 8-105. 2015.
VASCONCELLOS, Eduardo A. Transporte urbano, espaço e eqüidade: análise das políticas públicas. São Paulo: Annablume, 2001.
WILLARD, Frances E. A Wheel within a Wheel. New York: F.H. Revell, 1997
YOUNG, Iris Marion. Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body, Comportment, Motility, and Spatiality. In: On female body experience : “Throwing like a girl” and other essays. Oxford: Oxford University Press, 2005.
“Uma ideia não pode ser morta”: a luta palestina – e global – por meio do boicote, desinvestimentos e sanções
Por Juman Asmail
tradução: Carolina Munis
O ano de 1948 é celebrado por Israel como sua “independência”. O ano de 1948, no entanto, é o ano da Nakba – a Catástrofe Palestina: luto pela limpeza étnica, pelas atrocidades e pela expulsão forçada. A limpeza étnica, enquanto ferramenta primordial para o colonialismo de ocupação, não é nova. Os povos indígenas do Brasil enfrentaram o mesmo crime durante a colonização portuguesa na América do Sul. Parece que o mundo não avançou muito desde 1500. É século 21, e no entanto Israel continua a cometer tais crimes à luz do dia, exceto que o faz com técnicas e tecnologias “inovadoras” que são comercializadas como “inovações Testadas em campo” e exportadas para o resto do mundo (1). A militarização é, assim, empregada em cada contexto local para oprimir e marginalizar um determinado grupo, como as práticas historicamente racistas contra a população negra no Brasil.
MOMENTO DECISIVO
Quando fui chamada para escrever uma contribuição, com foco na Palestina, para a Tuíra, não recuei. Fiquei entusiasmada em compartilhar mais sobre a luta, minha e de mais de 12 milhões de palestinas e palestinos – o povo indígena (2) da Palestina –, pela libertação frente à colonização, ao apartheid e à ocupação militar em curso. Porém, mais do que isso, eu estava ansiosa para me conectar com a luta dos povos indígenas do Brasil e aprender mais sobre ela, bem como a luta mais ampla contra o racismo e a ascensão de poderes de direita no Brasil. Espero, neste artigo, compartilhar algumas ideias sobre o boicote e o desinvestimento como táticas usadas pelo movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) liderado pelos palestinos e o impacto que elas têm. Talvez mais importante, também espero colocar questões sobre a mobilização conjunta, além-fronteiras, que pode aproximar nossa luta coletiva contra a opressão.
Um momento decisivo emerge: sento-me para realmente escrever este texto e, de repente, sinto o ímpeto da responsabilidade… A responsabilidade de me engajar em uma questão tão importante quanto “o que é transformação real para o ativismo?”(3). Percebi que, se soubesse a resposta, provavelmente não estaria escrevendo. Pelo que sei, é nossa responsabilidade coletiva continuar a nos fazer perguntas. Continuar duvidando de nossas respostas. E, então, buscar responder novamente às nossas dúvidas e seguir com este processo. Percebi que a verdadeira mudança reside na continuidade do acontecimento da mudança. Ou talvez, a continuidade do vir a ser – como o vir a ser de Tuíra…
AMEAÇA ESTRATÉGICA
Depois da Segunda Intifada, a situação na Palestina estava sombria: colônias israelenses em expansão, continuidade da limpeza e ocupação étnica e um impasse no assim chamado “processo de paz”. Nesse contexto, mais de 170 federações e coalizões que representam centenas de grupos políticos, sindicatos, organizações culturais e ONGs locais lançaram e manifestaram apoio à convocação do BDS. A sociedade civil palestina convocou pessoas conscientes em todo o mundo a boicotar, desinvestir e impor sanções a “Israel” até que cumpra o direito internacional. A convocação foi feita em 9 de julho de 2005, um ano após a data da Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça (CIJ), que considerou ilegal o muro de Israel. O movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) estabelece três demandas visando três direitos básicos dos palestinos: o retorno dos refugiados para suas terras natais, o fim da ocupação e o fim do apartheid (4). Em 2012, o movimento havia ganhado apoio popular internacional. Em 2015, Israel declarou oficialmente que considera o movimento uma “ameaça estratégica” (5) e lançou contra ele uma ofensiva, que se estende da adoção de políticas e legislações internas até a pressão por mudanças na política internacional, numa tentativa de reprimir o movimento, seus membros e seus apoiadores tanto na Palestina quanto no exterior.
Por que uma entidade tão poderosa, dotada de recursos efortemente militarizada quanto Israel veria um movimento pacífico e de base como uma “ameaça estratégica”?

FORÇA DE UM BATALHÃO
O avanço inédito que o movimento BDS liderou estava menos na execução da tática em si e mais na escala de seu impacto. O boicote como uma tática tem sido empregado por lutas em todo o mundo, da Índia à África do Sul, aos Estados Unidos. E tem sido usado de maneira organizada como uma ferramenta para a resistência na Palestina desde pelo menos 19226, à época em resposta aos sistemáticos ataques armados contra os palestinos cometidos por colonos europeus durante as primeiras formações de colônias sionistas (7). Junto com as greves gerais, também foi usado para resistir às políticas britânicas de “mandato” que facilitaram a transferência em massa, acelerada pela ascensão do nazismo, de colonos judeus europeus para a terra palestina. O boicote passou, então, a ser usado em toda a luta palestina, inclusive, e mais substancialmente, em 1929-1948 e durante a Primeira e a Segunda Intifadas (Levantes).
Durante a última década, contudo, o BDS teve um sucesso singular em influenciar um espectro de apoiadores em escala global, o que pode ser melhor compreendido através de uma análise do espectro de aliados (8). Mais pessoas e instituições que antes eram neutras em relação à situação na Palestina estão se tornando aliadas passivas, e mais agentes do campo da oposição passiva estão se tornando neutros. Isso se reflete no aumento do número de resoluções do BDS que foram adotadas entre sindicatos de estudantes, associações acadêmicas, sindicatos de trabalhadores e partidos políticos, muitos dos quais enfrentaram oposição minoritária em seu eleitorado. O número de artistas e personalidades culturais que estão explicitamente cancelando seus eventos em Israel ou implicitamente evitando tais conotações com o regime israelense também está aumentando. Em 2018, Gilberto Gil cancelou seu show em Tel Aviv após telefonemas de grupos do BDS no Brasil e de artistas palestinos. Outros notáveis exemplos recentes incluem os cancelamentos feitos por Lana Del Rey, Shakira e Lorde, para mencionar apenas alguns. Da mesma forma, a seleção nacional de futebol da Argentina abandonou seu jogo amistoso com Israel após as reivindicações de times de futebol palestinos e grupos do BDS em todo o mundo. Os múltiplos níveis de ações permitidas pelo boicote enquanto tática oferecem outro nível de compreensão e análise de uma determinada forma de mudança: aquela em que apoiadores passivos são habilitados a se tornarem apoiadores ativos por meio de chamadas para a ação específicas e realizáveis.
O BDS, embora seja um conceito orientado para a ação, é no final das contas uma ideia que foi adotada por massas de pessoas conscientes em todo o mundo. Enquanto nós, como pessoas, somos mortais, uma ideia não pode ser morta. Isso talvez seja aquilo que mais vem preocupando Israel. O aparato militar pode matar ou encarcerar pessoas, mas não pode destruir um pensamento. Sinto-me compelida, aqui, a mencionar o assassinato pelo Mossad (9) de um dos mais renomados romancistas e escritores palestinos, Ghassan Kanafani, em 1972. Lendas populares contam que Golda Meir, então Primeira Ministra de Israel, disse que a literatura de Kanafani era equivalente a um batalhão – uma unidade militar de 300 a 800 soldados. Em resposta à ampla difusão e apoio ao BDS a nível global, Israel lançou uma campanha anti-BDS sob a bandeira de Brand Israel (10). É uma tentativa de retratar com uma imagem mais favorável a sua realidade opressora. Em 2016, o regime israelense alocou 26 milhões de dólares de seu orçamento anual para combater as atividades do BDS e formou uma unidade dentro do Ministério de Assuntos Estratégicos responsável por coordenar os esforços contra o movimento (11). Além das medidas internas, o lobby sionista no exterior, especialmente no Reino Unido, na Europa continental e nos Estados Unidos, buscava veementemente criminalizar essa campanha de solidariedade não violenta por meio de lobby com políticos e parlamentares. Além disso, houve processos contra ativistas e tentativas de infiltração em grupos – todas, táticas de intimidação.
MÚLTIPLOS ALVOS
Ao passo em que o boicote tem sido usado há muito tempo no contexto da luta palestina, o desinvestimento é uma tática relativamente nova e amplamente inspirada nas campanhas de desinvestimento durante a histórica luta contra o apartheid na África do Sul. Os primórdios dos esforços de desinvestimento contra Israel foram liderados por estudantes palestinos e árabes que estudavam no exterior no final de 1999 e início de 2000, na esteira de lutas interseccionais pela justiça social e contra o avanço de políticas neoliberais em todo o mundo. No centro das campanhas do BDS, como explica Noura Erakat, está uma “estratégia tripartite enraizada na lógica econômica”. Isso é particularmente importante no contexto do desinvestimento, porque a hipótese na qual se baseia o sucesso dessas campanhas é de viés corporativo. Elas identificam Israel como um alvo primário, poderoso demais para que seus mecanismos internos de decisão sejam influenciados pela pressão externa direta. Em seguida, identifica alvos secundários que facilitam, ativam ou lucram com os crimes de Israel e são menos poderosos e/ou mais responsivos à pressão externa do que o alvo principal. Essas miras secundárias incluem corporações multinacionais que investem bilhões de dólares na economia de Israel e ainda dependem da obtenção de clientes, contratos e investidores a nível global. Se um número suficiente de alvos secundários retirar seus investimentos, o mercado israelense se tornaria financeiramente sobrecarregado, o que comprometeria sua capacidade de sustentar seu sistema de opressão. A equação final vem a ser, portanto, que as corporações devem chegar a uma decisão interna de que investir em Israel é ruim para seus negócios em nível global. Isso acontece através do ataque a contratos e investimentos locais em dezenas de países simultaneamente. Esses clientes e investidores são alvos terciários e são ainda mais suscetíveis à pressão do que os alvos secundários, podendo frequentemente cancelar seus contratos com os alvos secundários por causa de seu ethos moral.
Tomemos como exemplo a campanha Stop G4S (”Pare o G4S”) . O Grupo 4 Securicor (G4S) é a maior empresa de segurança do mundo e a terceira maior corporação mundial, depois do Walmart e da Foxconn. Foi cúmplice da ocupação de Israel através da prestação de serviço para as prisões e centros de detenção israelenses, o muro do apartheid, os assentamentos e, mais recentemente, a Academia de Polícia. Ativistas do BDS em todo o mundo pressionaram, fizeram lobby e convenceram uma ampla gama de clientes a encerrarem seus contratos com a G4S ou venderem suas participações na empresa-mãe – de agências das Nações Unidas a uma rede local de waffles na Colômbia, bem como investidores tão variados quanto a Fundação Bill e Melinda Gates e o Fundo de Segurança Social do Kuwait. Como resultado dessa campanha intensiva do BDS, a G4S perdeu bilhões em contratos e aplicações, o que eventualmente forçou a retirada de 80% de seus investimentos em Israel. Mas, em seguida, esse efeito se multiplicou: Orange, Veolia (12) e CHR são todas corporações multinacionais gigantes que também removeram seus investimentos de Israel devido à pressão do BDS. Gradualmente, mais corporações estão entendendo que investir em Israel, que significa lucrar com crimes, é ruim para os negócios. Em 2014, o Relatório Mundial de Investimentos da ONU descobriu que o investimento estrangeiro direto na economia israelense caiu 46% em relação a 2013. Segundo os autores do relatório, o aumento das campanhas de boicote é parte da razão por trás dessa queda (13).

Poeta Ghassam Kanafani
SOLIDARIEDADE INTERSECCIONAL
Mas a história sobre a G4S estaria incompleta sem menção à interseccionalidade. Em seu livro A liberdade é uma luta constante, Angela Davis explica que o modelo econômico neoliberal, enraizado na privatização, permitiu que a coerção estatal alcançasse o lucro por meio da privatização do encarceramento e da guerra. Através de suas operações internacionais, a G4S estava lucrando não apenas com violações na Palestina, mas também com prisões de que ela possuía e geria em caráter privado, centros de deportação de imigração e abusos trabalhistas. A interseccionalidade identifica uma sobreposição entre as fontes de opressão enfrentadas pelos grupos marginalizados com base em seu sexo, gênero, raça, classe social e outras bases, convocando possibilidades de ação conjunta que transcendem esses limites. A campanha Stop G4S construiu conexões com múltiplos setores afetados pelos delitos da empresa, como grupos lutando por moradia, asilo e direitos trabalhistas. Havia todo um rol de injustiças, como mostrava o caso de Jimmy Mubenga, um migrante angolano que foi morto pelas mãos de guardas da G4S durante a deportação forçada do Reino Unido, ou as violações trabalhistas enfrentadas pelos trabalhadores da empresa, especialmente no Malawi e Moçambique, ou os maus tratos aos requerentes de asilo por guardas de segurança no centro de detenção de Papua-Nova Guiné.(14)
Davis descreve a Interseccionalidade como uma estrutura que nos permite pensar sobre o que podem parecer lutas transnacionais dramaticamente diferentes como lutas muito semelhantes passíveis de resposta coletiva (15). A sede por justiça aproximou palestinos e brasileiros em 2016, quando ativistas brasileiros convenceram o estado da Bahia a encerrar seu acordo corporativo com a Mekorot, a companhia de água israelense que implementa as políticas de apartheid de Israel contra o direito dos palestinos de acessar a água. Sob uma ótica similar, a privatização da água não é novidade para o Brasil e tem sido motivo de preocupação para a luta pela justiça da água no país desde pelo menos 1996. Arte e cultura são outros aspectos importantes da nossa existência que poderiam ser usados para resistir à injustiça. Em 2018, a cantora, performer e ativista trans-negra brasileira Linn da Quebrada cancelou sua participação no Festival Internacional de Cinema LGBT de Tel Aviv, já que Israel usa esses festivais como uma forma de pinkwashing para cobrir seus crimes (16). Linn recebeu pedidos e cartas para cancelar sua participação de diferentes pessoas ao redor do mundo, inclusive de Angela Davis, que não apenas escreve sobre a interseccionalidade, mas também a pratica de maneira significativa.
A solidariedade interseccional deu às campanhas do BDS uma proeminência muito maior no universo da justiça social do que inicialmente se poderia imaginar. E, a partir daqui, talvez seja apropriado reconhecer que a fonte de opressão que permite a impunidade de Israel não é tão diferente daquela que permite os avanços racistas de Jair Bolsonaro. Isso foi recentemente capturado por uma declaração conjunta da sociedade civil palestino-brasileira (17) de dezembro de 2018 sobre a internacionalidade de nossa luta coletiva por justiça social, dignidade e liberdade em todo o mundo, na sequência do anúncio dos planos de mover a embaixada brasileira para a Jerusalém ocupada. Da militarização nas favelas à repressão dos movimentos sociais, as tecnologias que são usadas contra os brasileiros e brasileiras não são muito diferentes daquelas que Israel constrói, exporta e utiliza para oprimir a nós, palestinas e palestinos (18). De certa forma, o BDS fornece uma plataforma não apenas para combater o projeto colonialista de ocupação de Israel na Palestina, mas também para resistir à opressão a nível local.
Em um contexto político de limpeza étnica e atrocidades contínuas na Palestina, será que o crescimento mundial da base de apoiadores dos direitos palestinos conta como mudança real? A retirada de megacorporações da economia israelense é uma mudança real? Talvez, talvez não, ou talvez ainda não… Mas talvez o mais importante é que esses resultados foram possíveis devido ao mantra muito simples, mas um tanto difícil, que repetimos seguidamente: juntos, somos mais fortes. Então, talvez a questão que se segue seja: como podemos trabalhar coletivamente de maneira mais inclusiva e melhor organizada para impactar o desequilíbrio global que existe nas estruturas de poder e permite a opressão?
NOTAS
1 Inclusive, o Brasil tem sido um benfeitor de tais produtos. Para um exemplo disso, veja: https://www.stopthewall.org/2014/12/03/bds-successelbit-systems-loses-key-brazildeal-over-palestine-protests
2 No original, indigenous. Em inglês, o termo “indígena” é mais explicitamente entendido como “nativo” – tanto é que os indígenas nos EUA são chamados de Native Americans. Já em português ele evoca mais instaneamente os povos indígenas, sem remeter tão diretamente ao fato de que eles são, afinal, os autóctones. Optou-se por deixar a tradução como “indígena”, e não “nativo”, para aludir à raiz da palavra. A conexão com os indígenas brasileiros logo será feita, algumas linhas adiante.
3 Questão abordada em Tuíra #2.
4 Convocação do BDS https://bdsmovement.net/call
5 Peter Beaumont. “Israel brands Palestinian-led boycott movement a ‘strategic threat’”. The Guardian, 3 de junho de 2015. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2015/jun/03/israel-brandspalestinian-boycott-strategicthreat-netanyahu
6 Fadi Asleh. História doBoicote na Palestina. Khazaaen Archives, 2017. Disponível em: https://khazaaen.wordpress.com/2017/11/25
7 Nur Masalha. Expulsions Of The Palestinians. The Concept of “transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948. Institute for Palestine Studies, 1992.
8 Leia mais sobre o Espectro de Aliados aqui: https://beautifulrising.org/tool/spectrum-of-allies
9 A agência de inteligência de Israel.
10 Asa Winstanley. The failure of Brand Israel. Middle East Monitor, 2017. Disponível em: https://www.middleeastmonitor.com/20170330-the-failure-ofbrand-israel/
11 Nathan Thrall. BDS: How a controversial non-violent movement has transformed the Israeli-Palestinian debate. The Guardian, 2018. Disponível em: https://www.theguardian.com/news/2018/aug/14/bds-boycott-divestmentsanctions-movement-transformedisraeli-palestinian-debate
12 Mais informações: https://beautifulrising.org/tool/dump-veolia-campaign
13 Moshe Glantz. Foreign investment in Israel cut by half in 2014. Ynet News, 2019. Disponível em: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4672509,00.html
14 Mais informações: https://bdsmovement.net/stop-g4s
15 Angela Davis. A Liberdade é uma Luta Constante. Boitempo, 2018. Tradução livre
16 Mais informações: ttps://bdsmovement.net/news/afterbds-pressure-brazilian-provincecancels-cooperation-agreementisrael%E2%80%99s-mekorot
17 Declaração disponível em: https://bdsmovement.net/news/palestinians-and-brazilians-calljoint-struggle-against-israelbolsonaro-alliance

Para o preparo de uma TEORIA POLÍTICA GERAL DA COZINHA ou como insistir nos feitiços contracoloniais
Se uma parte significativa da imaginação política progressista contemporânea está amarrada às ficções imperiais e masculinas sobre poder, conquista, identidade, unidade e maioria, as cozinhas abrem as apostas sobre uma outra política
Por Alana Moraes
QUEM TEM MEDO DA COZINHA?
Toda cozinha tem um cheiro, uma forma própria de organizar seus temperos e panelas, um segredo sobre o fogo e suas modulações, sobre como fazer render e aproveitar o que se tem de disponível, sobre simpatias e curas. Cheiros, truques, memórias e gestos: as cozinhas são compostas por elementos nem sempre tão imediatamente visíveis, mas que nos exigem intuição, atenção ao mundo que habitamos e um senso muito aguçado de cuidado. Ao nos tornarmos feministas da periferia do mundo, entre quebradas e subúrbios, passamos a reconhecer em nossas cozinhas as zonas de confluência contracolonial que existem nos cruzamentos entre os poderes e as resistências, entre os feitiços e os sofrimentos, entre o ordinário e o extraordinário, entre as palavras, mas também entre os silêncios – o que não pode ou não precisa ser dito, o que escapa do discurso.
O pensamento que emerge nas cozinhas é, sem dúvida, um pensamento que investiga as atuações possíveis em um mundo saturado de poder e violência colonial. Investiga os modos pelos quais podemos ainda habitar as ruínas, todas elas e nos defender. Um pensamento que atua pela diferença e singularidade, nunca pela homogeneização. Mas essa constatação nem sempre se fez evidente. Muitas de nós, traçando trajetórias escolarizadas e inevitavelmente influenciadas por um certo feminismo embranquecido, aprendemos a associar a cozinha ao lugar de subalternização e nada mais. Atormentadas pelo fardo doméstico sustentado por nossas mães e avós, as cozinhas – e o trabalho gratuito que elas propiciam – nos pareciam um lugar em relação ao qual era preciso escapar. Por um lado, havia o menosprezo dos homens (cis-heterossexuais) pela cozinha e todo seu universo, assim como a valorização dos trabalhos considerados masculinos, daqueles que podiam se livrar da cozinha por uma fantasia de independência e autossuficiência. Por outro lado, as ideias de liberdade e emancipação, dentro da matriz de pensamento euro-americana, nos conduziam a um horizonte de desejo que estava sempre muito distante do cheiro de refogado e do feijão de molho. Aprendemos que o mundo é dividido entre dominação e autodeterminação; sujeição e esclarecimento – e nessa grande cisão, o mundo tumultuado da cozinha entre sensações, misturas, fugas e jogos de cintura parecia, inevitavelmente, tombar para o lado das opressões.
Também é possível reconhecer em nossas histórias, geração após geração, o trabalho feminino doméstico gratuito ou mal-remunerado erguendo a infraestrutura oculta do capitalismo em nossos fogões. Histórias sobre infelicidades, sonhos interrompidos, sobre não reconhecimento, adoecimento e solidão.
O Brasil é o país com mais empregadas domésticas do mundo, e, como lembra Vergés, “sobre essas vidas precárias e extenuantes para o corpo, essas vidas postas em perigo, repousam as vidas confortáveis das classes médias e do mundo dos poderosos” (1) Essa é ainda uma das expressões mais vivas da nossa colonialidade, um lugar difícil que ainda me faz constantemente pensar sobre o porquê da minha mãe ter guardado para si, como quem resguarda um segredo perigoso, o fato da minha avó, sua mãe, ter sido empregada doméstica. No entanto, a cozinha é também o lugar onde se sobrepõem os muitos cruzamentos entre poder e perigo, intimidade e domínio, o que nos destrói e o que nos vinga. Pela cozinha, aquelas que ocupam posições subalternizadas também “desenvolvem um conhecimento acerca do·a·s dominantes que constitui um arquivo de seu poder absoluto fenomenal”, como lembra Elsa Dorlin (2).
Se, por um lado, fomos aprendendo a confrontar o destino atualizado pelo patriarcado de que “lugar de mulher é na cozinha”, por outro lado, também entendemos que a cozinha é o lugar que suscita muitas cumplicidades. Na cozinha torna-se possível falar sobre o marido ou o patrão e confabular sobre as pequenas resistências de todos os dias, negociar e fabricar alianças dentro das nossas comunidades, vizinhanças. Uma espacialidade relacional na qual podemos cruzar nossas histórias e produzir inéditas coalizões entre os corpos feminilizados – aqueles que se conformaram bem demais e a um alto custo às ordenações cis-heterossexuais domésticas – e aqueles outros dissidentes que não podiam se conformar tão bem assim. Como recorda Lugones, pela cozinha podemos reconhecer que “a subjetividade que resiste com frequência expressa-se infrapoliticamente em vez de em uma política do público, a qual se situa facilmente na contestação pública” (3).
Nas cozinhas aprendemos a fazer remédios que curam, mas também venenos e vinganças; preparamos as refeições de todos os dias, mas também as conspirações silenciosas e os banquetes que sustentam as festas que finalmente abrem nossas cozinhas para vizinhas, amores secretos, para o sagrado e aos encontros inesperados que perfazem também uma erótica da convivialidade aquecida pelo fogo e pelo prazer da mistura. Nas cozinhas que se abrem para quintais, a terra e as plantas nos fazem ainda insistir na aliança com o mundo vivo, nos lembram que nos compomos com o mundo quando comemos e preparamos nosso alimento, fazemos nosso corpo, como bem sabem, por exemplo, as cozinhas Guarani.
Pela cozinha passa toda história do capitalismo colonial racializado, é verdade. Mas ao mesmo tempo é pela cozinha que somos feitas como gente, entre cheiros, memórias e segredos sobre o que os corpos não aguentam mais e do que eles desejam ser, ainda. As histórias de cozinhas são bem anteriores ao evento colonial e em muitos sentidos os modos pelos quais pessoas cultivam (ou coletam) e preparam seus alimentos expressam também os modos pelos quais elas se organizam politicamente. Na cozinha também circulam as histórias da terra e das plantas, saberes sobre substâncias que acalmam e que excitam – uma metafísica do sensível que experimenta a variação dos corpos quando o prazer e a dádiva tornam-se ainda possíveis nos interstícios do mundo da mercadoria, seus fracassos e solidões.
“Ter que estudar pra não terminar na cozinha” é o que ouvimos como conselho das nossas próprias mães e avós – mas não mais as culpamos. Sabemos o que quer dizer essa aposta para mulheres que não tiveram muitas alternativas além de ter que acolher em suas cozinhas todos aqueles que vez ou outra são expulsos dos seus trabalhos, perdem direitos a bens coletivos, adoecem. Mas entramos na universidade ou nos formamos pela luta coletiva – muito graças a elas – e encontramos com bell hooks, Audre Lorde, com Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento (4), com as histórias revolucionárias que sustentavam quilombos, terreiros e aldeias entrelaçando todo um território e suas práticas de liberdade entre combates e cuidados. As cozinhas criam e tecem uma infrapolítica composta por memórias ancestrais, conhecimentos autônomos transmitidos por gerações e sem os quais não sobreviveríamos.
Talvez o perigo da cozinha, aos olhos dos poderes coloniais, esteja na incontornável constatação da nossa amefricanidade, que Lélia Gonzalez intuía como prática existencial e categoria filosófica-política de contrafeitiçaria ao mundo colonial e seus muitos dispositivos de denegação (5). A amefricanidade sempre esteve presente “nas revoltas, na elaboração de estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre”, diz Lélia, também nas cozinhas e suas muitas formas de experimentação de fugitividade e proteção. Tudo começa na cozinha e termina na cozinha, a cozinha é o espaço de transmutação e transformação da mercadoria em dádiva, da fuga em resistência, do profano e do sagrado, da vida que se faz sem governo. Por que a cozinha não seria também o lugar de experimentações revolucionárias, conspirações e sustentação de outros mundos possíveis quando tudo parece desmoronar?

POR UMA POLÍTICA DE COZINHA
As cozinhas sempre foram lugares no quais misturam-se festas e resistências. No Rio de Janeiro, no final do século 19, uma das principais incursões de repressão da polícia era contra as “casas de angu”, espaços de festas sustentados por pessoas negras que se libertavam da escravidão. “Nos dicionários brasileiros, os termos angu ou zungu apresentam sentidos pejorativos: desordem, sujeira, esconderijo. O angu alimento constitui-se também em “metáfora da cultura popular de origem negra-africana: heterogênea, confusa, díspar […].”(6)
No começo do século 20, em São Paulo, as “casas palacetes” das elites brancas constituíam-se em oposição aos chamados cortiços. Enquanto o principal “atributo” dos palacetes era a separação bem delimitada entre cozinha e o resto da casa, nos cortiços populares era muito comum que as cozinhas fossem abertas e compartilhadas. Tal configuração espacial certamente foi decisiva para articular as “Ligas de Bairro”, formas populares de organização que lograram construir a grande greve geral de 1917 na cidade de São Paulo. Para os Panteras Negras, um dos grupos de ação revolucionária mais importantes na história recente do movimento negro, as cozinhas tornaram-se espaços centrais de cuidado e combate. A organização criou um programa de ação direta no final dos anos 1960 chamado de “Programa Café da Manhã Grátis para Crianças”. As cozinhas criavam espaços de convívio nos territórios, fortaleciam as alianças intergeracionais e chamavam atenção para o fato de que não era possível ação revolucionária que não passasse pela cozinha e seu trabalho cotidiano de fazer pessoas e conspirações.
Em grande medida, as importantes greves do começo dos anos 1970 e 1980 em São Paulo e na região do ABC paulista foram asseguradas por redes de mulheres das periferias que, muitas vezes junto à igreja católica, ativavam circuitos de doação de alimentos e mesmo marmitas para que os grevistas seguissem firmes no combate do chão da fábrica. Nos anos 1980, o movimento de luta contra a carestia era articulado entre mulheres das periferias e suas cozinhas no intuito de denunciar a alta do preço dos alimentos e a farsa do “milagre econômico” criado pela ditadura militar no Brasil.
As cozinhas são espaços centrais em quilombos e aldeias, acampamentos de refugiados, ocupações, assentamentos, casas coletivas criadas e mantidas por pessoas dissidentes do regime de sexo-gênero. As longas filas dos dias de visita em penitenciárias são compostas por mulheres que lutam contra a desumanização continuadamente produzida por aquele espaço – e o fazem pelo preparo de comidas que infiltram a força de suas cozinhas e temperos para que seus amores confinados tenham força diante das torturas normalizadas por nossa sociedade encarceradora. As ocupações sem-teto de luta por moradia são fundadas pelas cozinhas, e as mulheres que as sustentam detêm uma habilidade incomparável na atuação de fazer alianças e tecer, pela inteligência anfitriã, uma política de cozinha por onde circulam prestígios e lealdades e que recostura mundos despedaçados pela política de extermínio do Estado, fabrica novos parentescos.
Ainda assim, nem sempre as tradições socialistas e comunistas foram capazes de perceber a força da cozinha como espacialidade contracolonial de luta e resistência. A política revolucionária imaginada majoritariamente pelos homens tem a ver com cenas de ruptura, excepcionalismos individuais e heroicos, comando e performance discursiva sobre o poder de “mobilizar as massas”. Nas cozinhas, ao contrário, ninguém procura convencer ou mobilizar. Ninguém está interessado em “salvar” ninguém – preparar uma boa comida não tem a ver com hegemonia, mas com uma inteligência sensível, prática e ao mesmo tempo aguçada para efetuar composições surpreendentes: “não são as razões que fazem as revoluções, são os corpos”(7). A cozinha coletiva é um espaço poroso no qual se trata de criar e fortalecer uma existência coletiva, onde a experimentação é bem mais importante do que a representação ou o discurso, as boas histórias são mais importantes do que as bandeiras. A fama de uma boa cozinheira se faz por um conjunto de habilidades que tem a ver com o poder de afetar e ser afetada, com uma disponibilidade estética e ética para compreender seu entorno e favorecer suas possibilidades – saber sentir o que se passa nos registros do invisível, cultivar uma atenção permanente para a qualidade das relações que sustentam um coletivo, sustentam o combate.
Perrone-Moisés lembra que foram os arqueólogos aqueles que resgataram o papel do “banquete” e da comensalidade como matriz relacional, mas também fonte de prestígio e produção política nas sociedades ameríndias. É a partir desse movimento que a antropóloga toma a festa como matriz e a relação anfitrião-convidado como modelo político: “saber cantar e dançar, ser ‘detentor’ de objetos de festa, simplesmente saber fazer festas etc. É na Festa, também obrigação de chefe índio, que as qualidades do ‘cargo’ aparecem”(8) Todas essas características compõem o clássico modelo discutido por Pierre Clastres de um “chefe sem poder”, quer dizer, um chefe sem autoridade. O chefe indígena (tal como as tias e suas cozinhas) ostenta uma grande generosidade que, nas palavras de Clastres, “parece mais do que um dever, mas uma servitude”. “Chefe é o que recebe, o que acolhe, o que dá de comer” (9), resume o antropólogo.
As cozinhas foram sendo docilizadas e interpretadas com condescendência alegórica e folclórica mesmo nos círculos militantes. A luta política, compreendida por essas tradições, seria um lugar que nos exigiria esforço e sacrifício, o abandono de qualquer espaço que envolve dependência, cheiro de refogados – a “classe em si” estaria para a cozinha como a “classe para si” estaria para os palanques. Mas mesmo do ponto de vista da crítica ao capitalismo, a cozinha nos apresenta imagens bem mais efetivas. A cozinha é um lugar que nos exige tempo, autonomia, intuição e encontro – todas as coisas que não cabem na ficção do indivíduo autossuficiente inventado pelo capitalismo, nem mesmo na virilidade heterossexista reproduzida por muitos militantes comunistas. A cozinha não precisa ser doméstica. Em tempos de alta do preço dos alimentos, pense em uma cozinha móvel, ágil, que se instala na linha de frente de uma manifestação com todos os seus aparatos transformando-se em instrumentos de combate, com suas substâncias neutralizando o gás lacrimogêneo e com sua infraestrutura aberta e imprevisível diferente dos insistentes carros de som que só falam a língua do poder e do comando.
Pelas cozinhas, nós lamentamos e odiamos juntas a vida que estamos obrigadas a viver. E por isso mesmo a cozinha foi perseguida e temida: da “caça às bruxas”, que inaugurou o capitalismo na Europa durante os séculos 16 e 17, à perseguição permanente de terreiros contemporâneos, quilombos, aldeias e ocupações, vemos um circuito integrado de poder que articula velhos e novos dispositivos de perseguição e punição contra corpos e territórios que conjuram os poderes e chantagens do Estado e da propriedade privada, dos regimes de governo sexo-político que insistem a todo custo em domesticar as nossas cozinhas e fazer dela o último bastião de sustentação do casamento heterossexual. A cozinha é também, ao contrário de sua codificação dominante pelo gênero, um espaço de confluência de dissidências às normas dominantes do gênero. Entre temperos e temperaturas, os experimentos de transmutação e transe também são preparados nas cozinhas.
Não é à toa que mais recentemente os neoliberais disseminaram a expressão “não existe almoço grátis” como emblema. Para eles é mesmo impossível (e perigoso) imaginar que ainda exista um espaço no qual o conjunto de interesses não está subordinado à “racionalidade” de maximização de ganhos individuais. Nas cozinhas coletivas, dar é receber: os circuitos de prestígio estão associados à habilidade de boa anfitriã, de nunca cobrar pelo que se oferece. A maior ofensa que pode acontecer em uma cozinha é quando se recusa receber o que lhe é oferecido – boas cozinheiras exigem bons comensais, e a melhor retribuição é a demonstração elogiosa e pública de prazer pelo que se come, pelo momento que se compartilha – quase tudo que funciona pelo prazer compartilhado é imbatível.

COZIDOS, MEXIDÕES, MOQUECAS, FEIJOADAS, MUNGUNZÁS: A ARTE DE COMPOSIÇÃO DE UMA POLÍTICA POR VIR
A cozinha guarda poder e perigo, prazer e também segredos sobre combates e fugas. Não apenas como resistência, mas as cozinhas coletivas são capazes de fabricar uma política que torna visível um outro mundo que já existe e está entre nós. É a cozinha que ainda conecta aldeias, quilombos, ocupações, vizinhanças – a cozinha aberta e coletiva desativa as cercas da propriedade privada e celebra a persistência de paixões não proprietárias que as sustentam; celebra a política como festa e técnicas de composição entre diferenças e nos convida a pensar sobre o encontro afro-indígena que nos constituiu longe das cercas e da vigilância, desafiando também o pensamento colonial cujo centro repousa em estratégias continuadas de separação: o corpo da consciência; a festa da política; a assembleia da cozinha. São espacialidades de fugitividade que possibilitam, inventam e sustentam refúgios – a cozinha é a vida ela mesma produzida por uma ontologia da mistura onde tudo é sempre incompleto, sempre aberto, que nos exige uma atenção permanente ao que se passa entre os corpos, seus desejos e aflições – sempre inconstâncias, porque tudo está em cozimento.
Se uma parte significativa da imaginação política progressista contemporânea está amarrada às ficções imperiais e masculinas sobre poder, conquista, identidade, unidade e maiorias – as cozinhas abrem as apostas sobre uma outra política. Se olharmos bem, a experiência coletiva e comum mais permanente entre os mais pobres ao longo dos séculos tem muito mais a ver com cozinhas do que com fábricas ou com o trabalho assalariado. Durante muito tempo as esquerdas pensaram a cozinha como uma “fase inferior” do trabalho operário, um lugar ligado às necessidades nutricionais do trabalhador, mas nunca um lugar de criação e luta.
Nossas culturas alimentares – insistentemente ameaçadas pela monocultura e pela indústria de alimentos –- nos oferecem mais do que “subsistência”, mas um deslocamento ontológico. Nas cozinhas coletivas dos acampamentos sem-teto, por exemplo, emerge uma noção de pessoa feita entre cheiros, sabores e um renovado circuito de prazer e curas na qual “ser um é tornar-se com muitos” (10). São interdependências táticas que deslocam o ordenamento doméstico e generificado do neoliberalismo para experimentar uma espacialidade feita da confusão entre corpos, sabores e saberes, do que circula entre nós e do que podemos sustentar por nós mesmos sem pedir permissão. Misturas heterogêneas – como nas feijoadas ou cozidos – que resistem às sínteses e depurações – escapando assim da escassez imaginativa daqueles que pensam a classe trabalhadora sempre como “falta”, nunca como excesso e esbanjamento.
Em um momento difícil no qual vemos a reorganização de forças neocoloniais que ameaçam a vida na terra – de humanos e outras criaturas –, sobrou pouca coisa na qual ainda podemos nos apoiar para procurar saídas. Vivemos uma crise sem precedentes das formas tradicionais de representação: os partidos e organizações de esquerda parecem girar em torno dos mesmos lugares de concentração de poder controlado por poucas lideranças que insistem em querer nos esclarecer, emancipar, mostrar um caminho de salvação que, coincidentemente, nunca passa pela cozinha. Como convocaram recentemente os zapatistas, diante do fim desse mundo que vivemos e de tudo que ainda tem que acabar, nos resta afirmar uma política pela vida. Não aceitaremos a vida regulada, conduzida, uma vida que nos resta nesse latifúndio pandêmico, desejamos a vida em todas as suas possibilidades. Uma política pela vida atua contra a obstrução coletiva na capacidade de imaginar outras formas de existência coletiva – aqui e agora. Como nos convoca também Denise Ferreira da Silva, é urgente pensar uma outra política que recusa a herança colonial e que “exige que libertemos o pensamento das amarras da certeza e abracemos o poder da imaginação para criar a partir de impressões vagas e confusas, ou incertas, que Kant (1724-1804) postulou serem inferiores às produzidas pelas ferramentas formais do Entendimento” (11)
E SE NÓS VOLTÁSSEMOS A PENSAR PELA COZINHA?
QUAIS IMAGENS SOBRE LUTA, POLÍTICA E VIVER JUNTO SE ABRIRIAM?
Por fim, que também é um começo, queremos lançar um convite – como nos bons aperitivos que abrem o apetite entre cachaças, torresmos ou bolinhos de arroz feitos com o que já temos. O convite é para uma cartografia aberta e experimental que se divirta para compor uma coleção de teses presentes em nossas cozinhas – ou nas cozinhas que ainda desejamos fazer. São lições, receitas alteradas e abertas, segredos e intuições, conspirações e sabotagens que aprendemos durante nossa vida nas cozinhas e que podem nos ajudar a imaginar essa outra politica – uma política de cozinha para os tempos de catástrofe.
Deixaremos aqui algumas pitadas iniciais para ativar o calor do pensamento.
Seguiremos recolhendo ingredientes em formas de aforismos neste email: conspire@tramadora.net
- Só picar uns alhos nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Toda pessoa tem um jeito próprio de descascar e preparar o alho para um refogado. Imaginem uma reunião ou assembleia na qual, a pessoa que pede a palavra, teria que descascar e picar alguns alhos enquanto fala ou faz uma proposta. Desconfie de quem não consegue realizar essa tarefa. A luta de classes se faz, afinal, pelas herdeiras das picadoras de alho contra os herdeiros daqueles que sempre se livraram e terceirizaram essa prática.
- Ouse provar. Não há hipótese, orientação, programa ou nenhuma grande ideia que surja sem a disposição para a experimentação. Como lembrou uma bruxa belga, Sapere Aude (ousar saber), o famoso slogan iluminista reverberado por Kant, vem, na verdade, de um verso do poeta romano Horácio no qual Sapere sugere mais “sabor” do que “saber”, ou melhor, aponta para a indissociabilidade entre saber e experimentar, conhecer e saborear.
- Ser alquimista. Tanto na cozinha como nos laboratórios, o primeiro aprendizado é o de que não se trata de impor forma à matéria, mas de reunir muitos materiais e elementos, combinando, experimentando, redirecionando seus fluxos na expectativa do que pode surgir. Na cozinha, na maioria das vezes, temos que criar uma refeição a partir dos ingredientes que estão ali disponíveis. Não existe aqui uma grande revelação de ruptura com o mundo que temos; ao contrário, nossa revolução será experimentada a partir desses corpos e ingredientes que já temos, de uma fina arte de composição de mundos que foram despedaçados. Arte da catálise, da alteração. Ao invés de utopias distantes, as cozinhas são lugares de fazer aqui e agora com o que temos disponível – às vezes tudo que importa é a temperatura.
- Conjurar as receitas dos heróis. Sabemos que a cozinha é o lugar, por excelência, das práticas anti-heroicas. Cortar cebolas, engrossar o caldo de um ensopado, fazer render o feijão, nada disso parece épico ou suficientemente revolucionário. Mas a cozinha é o espaço que conhecemos onde mais se experimenta fazer coisas que favoreçam a vida compartilhada. Estar na cozinha é ter que realizar um feito e o sucesso desse feito-feitiço é conferido por aqueles e aquelas que fazem parte da comunidade sempre provisória entre cozinheiras e comensais. Ao contrário das fábulas de salvação dos heróis, na cozinha tudo é sempre sobre relações. Mais do que “esclarecer”, a cozinha nos exige uma atenção para todas as tarefas ordinárias e invisíveis que nos mantêm vivas. Toda reunião deveria, ao menos, ter como resultado imediato uma boa refeição preparada coletivamente e de forma improvisada, com cada um trazendo para o encontro um ingrediente que possa se compor com os demais sem ter que combinar anteriormente. Lembrar que os heróis podem, por descuido, acabar se tornando o prato principal.
- Aceitar os riscos e tudo aquilo que escapa dos planejamentos. Todo mundo sabe que, nas cozinhas, tudo sempre pode dar errado. O bolo que sola, o angu que empelota, a massa que desanda, o feijão que salga. É difícil corrigir uma desmedida de sal ou açúcar, mais difícil ainda é voltar atrás na quantidade de pimenta que, por impulso, deixamos escapar em demasia. Na cozinha, estamos sempre lidando com os imprevistos – e longe de querer controlá-los, administrá-los ou fazer de tudo para que eles não aconteçam, na cozinha precisamos elaborar uma inteligência do imprevisto; compor com a imprevisibilidade e articular saídas para os impasses sem ter que apelar para um ambiente totalmente controlado de medidas precisas. A boa cozinheira é sempre tentada em não seguir a receita de forma precisa, mas elaborar uma outra versão dela assumindo o risco do que pode ser.
- “Saber de olho” e cultivar uma inteligência intuitiva. Toda boa cozinheira gosta de vangloriar-se quando afirma não trabalhar com medidas exatas porque “sabe de olho”. Saber de olho é o resultado de uma experiência senciente, uma forma de saber que depende de uma confiança aguçada nos sentidos. Para tal feito é preciso abrir-se ao mundo, apostar em uma experimentação tateante que navega com destreza entre sabores, cheiros, densidades, texturas, cor, que sabe pelo corpo.
- Aprender a deixar espaço para o que escapa do discurso. As conversas de cozinha sempre acontecem de um modo mais ou menos impremeditado. Pode até ser que haja um assunto anterior que levou as pessoas até ali, mas em geral, as histórias se cruzam e vão produzindo um encadeamento próprio de questões, relatos e aberturas. Muitas vezes as conversas imprevistas são importantes para que nos desloquemos de questões que estamos obcecados. Frequentemente, em nossas reuniões, as conversas que antecedem a “pauta” são mais importantes e abertas do que aquelas que estão planejadas para acontecer. Isso porque as conversas de cozinha convocam relatos sobre a vida, sobre dores e sofrimentos, sobre nossas pequenas alegrias, elas são convidativas e dificilmente estabelecem hierarquias – tudo que permanece às sombras da “política que importa” e suas performances discursivas que acabam regulando o que é legítimo de ser dito ou não, reforçando assim uma ideia de “esfera pública” que não deixa ser infiltrada por corpos e suas marcas.
- Cultivar uma erótica da mistura. Uma cozinha cheia é povoada de esbarrões imprevistos. O calor do fogo e os temperos elevam os sentidos que tornam-se mais aguçados à presença do outro. Nas cozinhas, precisamos nos entregar a cheiros, temperaturas, tocar em consistências e superfícies; muitas vezes, trocamos salivas entre provas e talheres divididos. Por isso mesmo a cozinha é, em muitas circunstâncias, um lugar de intimidade no qual convida-se as visitas mais próximas, uma espacialidade em que a distância entre corpos diminui drasticamente. Audre Lorde (12) fala sobre a retomada do uso do erótico contra uma tradição política que o inscreveu no registro do feminino, superficial e inferior – o erótico é a interface sensível das experiências conjuntivas que ocorrem nas cozinhas. O erótico, conta Audre, é “energia criativa fortalecida”, uma forma de relação que supõe uma experiência de gozo compartilhado – estar junto, para além dos registros sexuais, inclusive.
NOTAS
1 Françoise Vé rges. Um feminismo decolonial. Tradução de Jamille Pinheiro Dias e Raquel Camargo. Sã o Paulo: Ubu, 2020
2 Elsa Dorlin. Autodefesa: uma filosofia da violência. Tradução: Jamille Pinheiro Dias e Raquel Camargo. Editora Ubu, 2020.
3 María Lugones. Rumo a um feminismo descolonial. Rev.Estud. Fem., Santa Catarina, v. 22, n. 3, set/dez, pp. 935-352, 2014.
4 bell hooks. Ensinando a transgredir: a educaç ã o como prá tica de liberdade. Traduç ã o de Marcelo Brandã o Cipolla. Sã o Paulo: Martins Fontes, 2013; Audre Lorde. Use of the Erotic: The Erotic as Power. Publicado em: Audre Lorde. Sister outsider: essays and speeches. New York: The Crossing Press Feminist Series, 1984. Lélia Gonzalez. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Publicado em: Bianca Santana (Org.). Vozes insurgentes de mulheres negras: do século XVIII à primeira década do século XXI. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2019. Beatriz Nascimento. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. Revista Afro-diá spora, Sã o Paulo, v. 3, n. 6-7, p. 41-49, 1985
5 Lélia Gonzalez. A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92/93, pp. 69-82, jan/jun, 1988
6 Carlos Eugênio Líbano Soares. Zungu: rumor de muitas vozes. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Rio de Janeiro, 1998.
7 Comitê Invisível. Motim e destituição agora. São Paulo: n-1 edições, 2017
8 Beatriz Perrone-Moisés. Festa e Guerra. Tese (Livre-Docência). São Paulo: FFLCH/USP, 2015
9 Pierre Clastres. A Sociedade contra o Estado – pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac Naify, 2004
10 Donna Haraway. Entrevista concedida a Juliana Fausto, Eduardo Viveiros de Castro e Déborah Danowski. Exibida no Colóquio Internacional Os Mil Nomes de Gaia: do Antropoceno à Idade da Terra, 18 de setembro, 2014.
11 Denise Ferreira da Silva. Sobre diferença sem separabilidade. Catálogo da 32ª Bienal de São Paulo (2016)
12 Audre Lorde.

Leo DCO
Artista do graffiti
Onde estão os novos espaços de resistência? Quais e como se dão as novas formas de resistência e de luta? Essas são perguntas que, continuamente, interpelam o corpo e a imaginação de ativistas (esses seres da ação e da insistência), que sempre se impõem a tarefa de encontrar alternativas, táticas, abordagens e modos de viver mais capazes de realizar as transformações que tanto pretendem e que dão sentido à sua existência. Essas são as inquietações permanentes que animam o devir-ativista – e que atravessam a luta concreta de gente tão diversa como Amália Garcez, Carlos Augusto Ramos, Léo DCO, Sarah Marques e Tipuici Manoki, cujos depoimentos compõem as páginas seguintes, e Luciana Ferreira, em comentário-síntese ao fim desta seção.







