
marina vive
Por Luciana Ferreira
Tuíra#3 estava praticamente finalizada quando a notícia de que marina havia sido atropelada chegou. Naquele momento, o susto, a raiva, a tristeza nos paralisaram. Ficamos algumas semanas sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, sem saber como seguir, então a Tuíra parou também.
As notícias com esclarecimentos do que havia acontecido naquela noite, a indignação de ativistas, grupos, de pessoas de muitos lugares do país, o clamor por justiça aumentava a cada dia. Faixas, lambes, fotos, adesivos, matérias deram muita visibilidade ao atropelamento criminoso. Em seguida fomos acompanhando uma sequência de homenagens às marinas que foram surgindo a partir da tragédia que foi a sua morte.
marina de pernas longas, de sorriso largo foi se agigantando ainda mais, seu nome e seu ativismo chegaram em muitos lugares. Fizemos várias conversas, pois, espalhados e trancafiados em nossas casas em plena pandemia, nos conectarmos pela internet ajudava a elaborar a dor.
Em uma dessas conversas a equipe da Tuíra decidiu por realizar uma ação por marina. Faríamos um bloco editorial para ela, falaríamos da marina que esteve aqui na Tuíra, na Escola, da marina com quem convivemos, que lutou ao nosso lado, que cantou, festejou, cozinhou com a gente e tantas e tantas vezes nos fez sorrir com suas zoações.
Queríamos fazer um texto que trouxesse marina, que falasse com marina e não sobre ela. Uma marina com m minúsculo mesmo. A grafia de seu nome aqui não está incorreta; nesta perspectiva, não queremos nos referir à marina de maneira dicotômica pela ordem de grandeza, seja grande ou pequena, ou isso ou aquilo, pois os afetos são muitos. Falamos em uma marina numa perspectiva menor, assim como Deleuze e Guattari falavam da literatura de Kafka (1). Aqui não queremos evidenciar narrativas heroicas, tampouco limitar a presença de marina a determinados fatos ou situações territorializadas como uma fotografia. Queremos a singularidade e a individuação das relações que mantivemos com ela, queremos nos atentar à potência dos encontros com marina e os movimentos moleculares que eles produziram em nós. Falamos aqui de uma submarina, que nem tantas pessoas que a admiram tiveram a oportunidade de conhecer.
Fizemos outras conversas com pessoas que tinham uma relação muito próxima com marina e com Tuíra. Nesse papo, entre choros e saudades, muito carinho compartilhado, uma necessidade de justiça e um desejo grande de dizer ao mundo do nosso amor e afeto, chegamos aos textos.
Construímos um bloco, reunides como num bloco de carnaval puxados por marina. Cada pessoa expressa aqui o que gostaria, uma história, uma sensação, uma declaração, um manifesto, tudo e nada. Sem limite de tamanho.
Nosso enredo é uma escrita em fluxo, intensiva, própria dos encontros. Os textos produzidos por Marcelo, Maísa, Ana Carol, Gabi e Felipe trazem isso tudo. Nos colocam novamente na rua, na bicicleta. Na festa, no frevo. Na casa, na vida com marina. Na cidade, na sala de aula, pois além dos textos produzidos no encontro com marina, temos aqui um recorte de sua dissertação, em que ela nos conta seus estudos, seu ativismo e suas elaborações. marina produziu marcas. Elas vibram em Tuíra.
Notas:
1 Gilles Deleuze e Felix Guattari, Por uma literatura menor. Autêntica, 2015.

Ela seguirá sendo
Marcelo Marquesini
O encontro havia sido marcado num sarau colaborativo que produzíamos de vez em quando na Vilynda, um espaço onde vários coletivos co-habitavam na Vila Madalena em São Paulo. Naquela noite específica convidamos várias pessoas do campo da mobilidade para se conhecerem e partilharem conhecimento, além, claro, de tomar umas e criticar o sistema.
Meu sentimento é que parecíamos uma comissão de avaliação, mas numa versão light, suave. Egressos do Greenpeace, tivemos a oportunidade de conhecer e atuar com a mãe de Marina, Maria Claudia, ex-coordenadora de voluntários/as e uma baita profissional.
Eu estava um tanto ansioso, com muita expectativa, não só pelo fato de poder conhecê-la mas também de saber se ela aceitaria caminhar conosco. As recomendações profissionais e pessoais eram muitas e alguém com os conhecimentos dela contribuiria enormemente na pauta de mobilidade em grandes centros urbanos, locus no qual a Escola de Ativismo viria a atuar nos anos seguintes.
Mas a coisa se embolava, para muito além de meras questões profissionais e da militância, com raízes mais profundas nas relações pessoais. Marina e minha filha chegaram a fazer algumas disciplinas juntas na universidade e, apesar de saber disso, eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Morava na Amazônia. Sua mãe também acolheu minha filha em seu primeiro ano de faculdade em São Paulo.
Marina topou!
Não consigo recordar, porque foi rápido depois daquela noite. De companheires de luta atuando principalmente em três frentes, São Paulo, Belo Horizonte e Recife, viramos amigues. A metafísica e outras correntes podem explicar com mais profundidade a química, a energia que existia. Era leve e divertido quando estávamos juntes. Para mim, ela era como uma filha. Para ela, eu era o tiozão. Vivíamos em estado de bulling permanente um com o outro. Confabulávamos juntos numa sintonia indescritível e aprendemos muito juntes. Ela me aterrava na juventude e principalmente no campo que ela vivenciava dia-a-dia para muito além do ativismo. Algo típico de uma jovem que não se resignava, às vezes era necessário segurar sua ânsia por fazer certas coisas, para que soubesse dar o passo certo na hora certa.
E não tinha tempo quente, não. Aliás, uma boa metáfora para quem atuou e amava Recife e sua região metropolitana. Era a única que pactuava comigo de seguirmos nos hospedando em um dos piores hotéis da cidade, que recebia do grupo a singela alcunha de “Espelunca”. Era barato e bem localizado, isso bastava pra nós.
Nunca esquecerei sua primeira prévia de Carnaval em Olinda, digna de uma caloura universitária ao chegar no campus no primeiro dia de aula. Apesar dela atuar em várias capitais, foi em Recife e região metropolitana que conhecemos gente fera, gente da resistência. Marina ‘voou alto’, experienciando no chão os desafios da luta pela mobilidade, do feminismo e do direito de acesso à cidade numa grande capital nordestina.
Marina era e seguirá sendo uma linda.
Ela não nos deixa saudades, deixa algo mais profundo, algo que ainda não consegui nominar. Sua determinação e dedicação serão sempre lembradas, e que sua brutal partida alimente nossos espíritos para seguir lutando por um mundo mais justo, igualitário e sustentável!
Uma trajetória de cores e frescor
Gabriela Vuolo
“A gente nem percebe, mas a cidade é a tela sobre a qual pintamos nossa trajetória. Uma tela imensa – que jamais foi branca – e que vamos lentamente colorindo, pintando de maneira própria o cinza e as outras tonalidades que lá já estavam. Deixamos marcas únicas através das lembranças do cotidiano, do que vivemos na insignificante existência. Enquanto estamos expostos ao imprevisível que nos proporciona o exterior, abrimos brechas para que a cidade se embrenhe na nossa história.”- Marina Harkot (1)
Era assim que Marina entendia e vivia a cidade – ela sabia que não era possível estar na cidade sem ser transformada por ela, e sem transformá-la. Sua trajetória – cheia de cores vibrantes e frescor – foi pintada em tantas cidades e tantas iniciativas que é difícil saber como coube tanta coisa em uma passagem tão breve por aqui.
Marina circulava. Circulava entre grupos, cidades, países, organizações… Circulava sobretudo entre jeitos de produzir e compartilhar conhecimento. Transitava entre a academia e o ativismo, levando o que fazia e aprendia de uma ponta pra outra a todo instante – algo tão necessário quanto raro. Salpicava cores de realidade nas teorias acadêmicas, e trazia tons mais profundos e robustos pro campo ativista. Era como se não houvesse separação entre uma coisa e outra, e a bicicleta era sua ferramenta pra passear entre esses universos e vivenciar, testar e refletir sobre o modelo de cidade e de mundo em que acreditava.
Foi deixando suas marcas, únicas, em todos os lugares e pessoas que cruzavam seu caminho. Pra mim, além da oportunidade de viver ao mesmo tempo a amizade com ela e com sua mãe, Maria Cláudia Kohler (o que por si só era uma tremenda vivência em diálogos ntergeracionais!), ela deixou de presente o despertar pras questões de gênero e pro fato de que nem todos os corpos se deslocam e ocupam a cidade da mesma maneira. Modulou meu ativismo dali por diante, me ensinou a enxergar e questionar privilégios (inclusive os meus próprios) e me fez compreender que uma cidade só pode ser boa quando for boa pra todas as pessoas. Todas mesmo, inclusive aquelas que a gente não vê, seja por conveniência, conivência ou ignorância.
Sua partida, tão prematura e tão brutal, é só mais uma prova de que ainda não chegamos lá. Ainda há corpos que se sentem e são vistos como mais dignos de direitos do que outros, mais donos do espaço do que outros.
Então seguiremos pintando com as cores e ferramentas que Marina nos mostrou, e desejando que deste imprevisível absurdo doloroso possam surgir as brechas necessárias para que a cidade não só se embrenhe na nossa história, mas se transforme e nos transforme.
Marina vive!
Notas:
1 https:./regadoacafe.wordpress.com/2015/05/05/a-cidade-como-pano-de-fundo-asmemorias-afetivas/
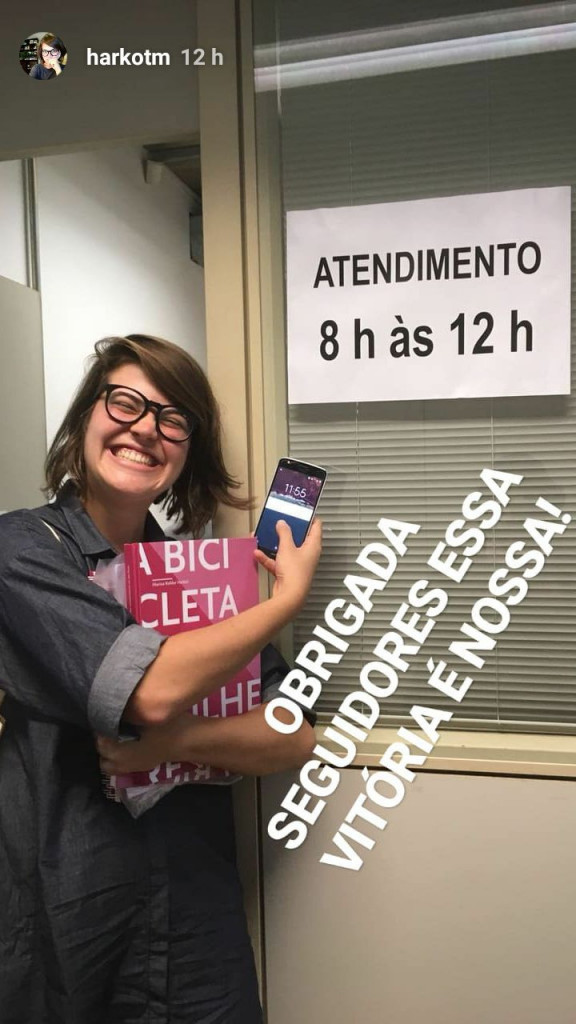
Marina é como um frevo ecoando
Maysa Lira
Lembro de toda a sequência de ações da minha manhã de 8 de novembro. Lembro que, por ser domingo, procrastinei a lida nas mensagens das redes sociais e deixei o telefone desligado por mais tempo que o habitual. Lembro que quando liguei, ele travou com tantas notificações de mensagens e ligações, talvez tenha sido meio instintivo ir até o grupo da Ramo (Rede de Articulação pela Mobilidade), que inclusive estava silenciado desde o começo da pandemia, e ler todas as mensagens, da primeira até a última.
Até que cheguei em uma que trazia o link da primeira reportagem sobre o acidente. “Ciclista morre atropelada na Zona Oeste de São Paulo”. É meio tragicômico falar que mesmo com uma foto de Mari estampando a miniatura da matéria, tudo que eu consegui processar foi “Putz! Mataram mais um dos nossos. E Mari deve ter escrito algo comentando sobre”. Demorou Deus sabe quanto tempo pra todas as informações da matéria se ordenarem e fazerem sentido que não fazia sentido algum: minha amiga tinha morrido, em cima de uma bicicleta. Era Marina ali. Dali pros dias que se sucederam, foram idas e vindas de um grande estado de negação. Foi focar em várias ações diretas, construção de painel, memorial, bicicletada, caminhada, o que fosse. Só não havia opção de parar. Parar tornava aquilo muito real e mostrava o quão imutável aquilo era. Um dia, Mari me ensinou algo sobre “se preparar pro pior cenário possível”.
— Mamá, você planeja uma ação toda, tudo lindo, tudo certo. Mas, e se chover? Você pensou nisso? Você precisa sempre pensar “E se chover?” e se preparar pro pior cenário possível. Se ele acontecer, você vai estar pronta.
Hoje, penso que não haveria “e se chover?” neste mundo que pudesse ter me preparado pra aquilo. A repercussão midiática (necessária, mas não justa) sobre tudo aquilo. A minha amiga, sendo colocada num lugar de símbolo de uma causa, mas ao mesmo tempo tão pouco sendo falado sobre ela.
Conheci Marina numa reunião; acho que a pauta era sobre mobilidade urbana na região metropolitana do Recife. Não tinha como não notar Mari num ambiente, pois a minha amiga não era lá das pessoas mais baixas. Não lembro como nossa amizade evoluiu, mas lembro que trocamos muito rápido os cafés ruins das reuniões pela cerveja gelada no fim delas, idas a cafeterias pra fugir da pressão da dissertação do mestrado, prévias carnavalescas, tour pelos bares duvidosos de Recife, banhos de chuva no Largo de Santa Cruz ao som de Reginaldo Rossi. Isso é o que ficou dela por aqui.
Exímia pesquisadora, que conseguia transpor os muros da academia e levar seu discurso a literalmente qualquer lugar. Sinto falta de vê-la quietinha, no fundo de alguma reunião, com o computador no colo, tomando nota de tudo antes de falar algo. E quando falava, fazia isso de um jeito doce. Lembro de ter falado em algum momento que ela gritava sem levantar o tom de voz. Potente, brava, doce e gentil. Vejo nossas fotos na praia, o aperto no peito é inevitável.
Sei que minha amiga morreu defendendo o seu ponto, defendendo o que acreditava. Mas não precisava que fosse dessa forma, e talvez isso jamais passe. Talvez melhore, mas Marina não é o tipo de pessoa que se acostuma a viver sem ou que deixa de fazer falta. Marina é como um frevo ecoando, aquele mesmo que ela nunca aprendeu a dançar, Marina é carnaval, é alegria e algo que pulsa. Vejo uma continuação de Marina em todos os movimentos que ela ajudou a construir em Recife, na luta da bicicleta, vejo a doçura de Marina hoje em Felipe e lembro da proteção de Marina quando vejo meu filho.
Pra ela e sobre ela só o melhor, e citando a música que poderia ter sido escrita pra ela, Frevo de saudade, de Nelson Ferreira:
“Quem tem saudade não está sozinho
tem o carinho da recordação
por isso quando estou mais isolado
estou bem acompanhado com você no coração
Um sorriso, uma frase, uma flor
tudo é você na imaginação serpentina ou confete,
carnaval de amor tudo é você no coração
você existe como um anjo de bondade
e me acompanha nesse frevo de saudade.”
Que saudade sem fim, minha amiga.
Para um amor no Recife
Ana Carolina Alfinito
É difícil lembrar exatamente a ordem dos eventos que compõem aqueles tempos. Foi um período intenso, denso, feito de lugares conectados e fragmentos situados entre 2016 e 2018. Já não era mais a energia de levante de 2013-2015, época marcada em Recife pelo movimento Ocupe Estelita, pela sua subsequente fragmentação e pela dispersão de mobilizações-ações-coletivos que atuavam no campo do direito à cidade; e ainda não era a atmosfera de inflexão e exaustão dos tempos mais recentes. Foi um ínterim, um entre, um fôlego, um tempo marcado, de um lado, pela profusão de energia, organização, e instiga que tinham brotado nos anos anteriores e, de outro, pela incerteza e receio crescente quanto ao que estava por vir.
Conheci Marina nesse momento. Ela trabalhava na Escola de Ativismo num projeto de aprendizagem sobre mobilidade urbana no Recife; eu trabalhava numa organização que fazia pesquisas sobre o mesmo tema. Nossa aproximação nasceu de uma espécie de parceria institucional – a gente ia trabalhar juntas, abrindo espaços de trocas e aprendizagens com movimentos sociais em Recife sobre mobilidade urbana e direito à cidade. E pra isso, a gente
precisava conhecer a cena, saber dos movimentos, das alianças, dos rachas, das tretas. A Marina já estava mais situada. Eu nunca tinha ido a Recife.
Me lembro agora da primeira vez que conversei com a Marina numa salinha de reunião na Rua Ferreira de Araújo, em São Paulo, na sede da ONG onde eu trabalhava. Eu estava perdida e entusiasmada, inundando a Marina de perguntas, e ela me disse daquele jeitinho lindo e despretensioso que ela tinha, como se nada:
– Mulher, daqui a uma semana tô indo pra Recife com o pessoal da Escola. Acho que você tá precisando vir com a gente, cê não acha?
Eu acho que eu fiquei vermelha de tão feliz com o convite. Como eu disse, eu nunca tinha ido a Recife, mas aos poucos, bem aos poucos, e primeiro naquela viagem, fui me aterrando nesta cidade, virando um pouco dela, e isso tudo a Marina viveu junto, viu e nutriu.
FAZENDO COMUNIDADE
É difícil contar a história de Marina em Recife sem contar a história das amizades, dos sonhos e ações coletivas que nasceram naqueles tempos. É difícil também falar sobre o espaço comum de sonho-ação que germinou sem falar da Marina. A história de um é a história da outra, tudo nasce junto, e Marina, pra mim, veio junto a um emaranhado de gente que se propôs a pensar e fazer a cidade de outra maneira; a viver de outra forma, não fora e nem apesar da cidade, mas justamente por dentro dela e por meio das suas potências. E eram muitas potências.
O projeto de aprendizagem sobre mobilidade urbana se esparramou, proliferou, gerou. A galera foi chegando e trazendo suas experiências, seus devaneios, seus anseios, suas dúvidas. Lembro de uma constelação de alianças e afetos que ia brotando. E lembro da Marina circulando, acolhendo, ajudando a organizar ideias, dando forma sem perder de vista um certo infinito que estava por debaixo de tudo. Os lugares de Marina: no Mercado São José (com um prato de carne de sol e um copo de cerveja), na Mamede, na Espelunca (entendedores entenderão), nos bastidores, quase sempre.
Nos bastidores das oficinas, dos aulões, das pesquisas, das brigas (tantas), das ações diretas, facilitando, mediando, esclarecendo, confundindo, alimentando, dando e desatando alguns dos nós que sustentavam aquela comuna.
A Ma se mexia, se deslocava, saia do lugar. Naqueles tempos nós viajávamos constantemente entre Recife e São Paulo, e aos poucos a vida começou a se organizar em torno desses deslocamentos. Às vezes a Ma se mudava para o Recife, e depois voltava. Lembro de uma conversa em que ela dizia que não sabia mais exatamente de onde era, porque naqueles processos todos os lugares tinham mudado e a vida era um misto de aproximação e distanciamento, de presenças intercaladas por ausências; que em algum momento, em alguns momentos, o lugar onde ela se sentia em casa era naquela dimensão dos vínculos que não eram exatamente nem daqui e nem de lá, que nos suspendiam do chão e nos levavam prum outro espaço.
CORPO, ALEGRIA E PROTESTO
Num desses deslocamentos surgiu uma faísca que virou uma ideia (não exatamente de alguém, mas do encontro em si) que se transformou num brinquedo de carnaval e de protesto. Nascia, de uma aproximação entre lutas e formas de brincar, o bloco carnavalesco Eu Acho é Caro, o primeiro bloco-busão-tarifa-zero do Recife, batizado em homenagem ao famoso Eu Acho é Pouco e em revolta contra o aumento da passagem que o governo, mais uma vez e sempre, tentava emplacar.
O Eu Acho é Caro é um brinquedo político que brotou do encontro, em grande parte mediado por Marina, entre a galera de Recife e a galera do Tarifa Zero, de Belo Horizonte. A Marina ajudou a organizar algumas conversas entre esses grupos sobre ação direta e mobilidade urbana. Em BH já existia o busão da tarifa zero, que circulava pela cidade sem catracas, acendendo o debate sobre a tarifa zero por onde passava. Essa experiência pousou em Recife em um momento de prévias de carnaval (estávamos em dezembro de 2017) e uma ideia logo nasceu: faríamos um bloco-protesto no busão, um bloco com estandarte e frevo pra quem quisesse se deslocar dançando e protestando pela gratuidade do transporte público. O Eu Acho é Caro saiu pela primeira vez em janeiro de 2018, circulando entre os bairros do centro e dos subúrbios de Recife, chamando a galera nos pontos de ônibus pra subir: – É tarifa zeroooooo pessoal! – Vai pro Ibura? – Vai! – Passa pelo Sport? – Passa, pó subir!
E a galera subia! Estranhava, dançava, conversava, brincava. E descia, seguia a vida, será que alguma coisa tinha mudado? Aquele bloco mobilizava de uma só vez tudo que nos interessava, o que interessava à nossa política: o lugar, o corpo, o gesto, a música, a revolta, o sonho.
E Marina sempre ali, costurando as partes, cantando brega, rindo junto. Lembro dela cantando Reginaldo Rossi enquanto tomava um solzinho na janela do busão e ligava pra algumas amigas pra ver se elas vinham. Ela bem luminosa, no lugar dela naquele cantinho do mundo e se irradiando pelo mundo todo.
Construir o brinquedo foi um trabalho a muitas mãos – houve quem fizesse estandarte, quem pensasse no trajeto, quem fizesse o chamamento; tinha também que arranjar um ônibus e procurar uma orquestra de frevo pra tocar na viagem. Euforia. Angústia. Euforia. Aquele brinquedo-protesto, como outros, não é delimitado pelo tempo. Não é algo que começa e termina. O brinquedo se estende, está sempre vivo e é sempre potência. Pode ser ativado, brotar a qualquer momento. Se aprende a brincar e a fazer política em relação e implicação com o mundo. Aprendemos juntos, e desde então, aquelas relações povoam o mundo, uma parte da Marina e de tanta gente que irradia pelo tempo e pelo espaço.
**
Foi muita gente que escreveu esse texto comigo, que gerou as palavras, as imagens, e a alegria e surpresa de estarmos juntos. Naqueles tempos e hoje. As amizades, amores, movimentos, organizações, sonhos que se fizeram naqueles tempos se tornaram os fios da minha vida. Me enraizei em Recife, com raízes aéreas como o mangue e a Marina ensinaram. Quando recebemos a desoladora notícia de que a Marina havia sido violentamente assassinada, um instinto quase visceral fez ressurgir aquela comuna. Nós nos buscamos, nos acolhemos, reconstruímos aquele espaço de junteza, choramos juntas, sem tentar entender o que não tem sentido, mas tentando derivar sentido do absurdo.
E a Marina segue raiz. A gente continua aqui, com as palavras e as mãos, registrando, ativando e continuando a tecer, junto com tanta gente, alguns dos fios de comunidade, de luta e de vida que a Marina plantou, espalhou e nutriu por onde andou. A Ma é raiz firme, aérea e viva.

Quem é mesmo é não sou
Felipe Burato
Marina nunca se apresentou como “ativista”. Nunca precisou. Em “Canto de Ossanha”, Vinícius oferta um de meus versos favoritos: “o homem que diz ‘sou’ não é, porque quem é mesmo é ‘não sou'”. Marina nunca precisou se dizer ativista, ela simplesmente era. Nas homenagens da USP à sua memória, foi comum ouvir que ela rompia as paredes da Academia com sua penetração em outros e diversos ambientes – algo tão difícil no meio. E não é que ela buscasse isso conscientemente, simplesmente é como ela se colocava no mundo: parte da cidade. Nas nossas primeiras saídas, ela me falava rindo sobre seu “programa informal de transferência de renda”, uma “piada” sobre sempre ter dinheiro para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, seja dando um trocado, seja pagando uma marmita.
Após seu assassinato, fui muito acolhido por amigas e amigos, tive gente em casa o tempo todo no primeiro mês. Quando comecei a retomar as atividades do dia a dia, sair de casa, passear com o cachorro, recebi a solidariedade de gente que eu sequer sabia o nome, mas que tinha alguma relação com Marina. A vendedora da loja de sapatos, o cara da banca de jornal, o dono do restaurante árabe em que sempre íamos. Me lembro de Seu Tavares, porteiro do prédio onde vivo, falando com os olhos marejados sobre como ela fez graça com o coletinho que ele usava na última vez que se viram.
Nos conhecemos no Carnaval, o maior ato político deste país, e o evento que melhor representa a alegria e a vida de Marina. Logo numa das primeiras conversas ela me contou que passara quase um mês direto em Recife trabalhando pela Escola de Ativismo. Eu, meio sem entender como aquilo funcionava, perguntei o que exatamente ela fazia: “ah, eu tomo cerveja e converso com as pessoas”, respondeu, com sua gargalhada inesquecível. Para ela, fazer articulação e incidência política era tão natural quanto tomar uma cerveja num boteco.
No dia da eleição de Bolsonaro, eu estava em Brasília para votar e a Marina, em São Paulo. Aos prantos, nos falamos por telefone quando saiu a primeira parcial que já indicava o resultado. Naquele desespero inicial, cogitamos sair do país. Não seria difícil, Marina tinha cidadania alemã e conseguiria me levar junto. Dias depois, quando voltei pra casa, essa já não era uma possibilidade. “A gente sai do país e daí faz o quê?”, era a minha pergunta, pensando no sofrimento de acompanhar o país se desfazer de longe. Marina já nem tinha perguntas, sabia que o lugar dela era aqui, porque pra ela só fazia sentido “estudar” o que ela vivia – e nem sei se ela tinha consciência disso àquela altura. Mais tarde, quando “engrenou” no doutorado, essa ficha já havia caído: o objeto de estudo se desenhou a partir do lugar que escolhemos para viver no centro de São Paulo, o Largo do Arouche, tradicional reduto da população LGBTQI+ periférica. Vivendo a cidade, o bairro, a vizinhança, Marina direcionou sua pesquisa para olhar os territórios a partir dos afetos.
Não é que fosse fácil conviver e viver com essa mulher tão fiel à ideias. Quando Marina mergulhou na obra de Silvia Federici, nossa relação foi sacudida. Embora ela sempre compartilhasse o que estudava comigo e os amigos, a leitura de “O Ponto Zero da Revolução” causou de fato uma revolução no relacionamento – muito por conta da fragilidade do ego masculino, na personificação das críticas sociais com que nós homens temos dificuldade em lidar. A empolgação de Marina com o tema e a leitura me colocavam contra a parede; mesmo que não fosse essa sua ideia, era como eu a recebia. E ela estava certa: aos trancos, compreendi que a discussão vai muito além da divisão das tarefas de casa.
Apesar de nada vaidosa, humilde como “pessoa pública” e muito exigente com o próprio trabalho, Marina adorava estar certa. E o problema é que na maioria dos casos ela estava certa mesmo – não à toa já era apelidada de “Sabicha” por sua família quando eu comecei a chamá-la assim. E não é que ela soubesse de tudo, ela gostava de estudar sobre tudo.
Talvez por viver essa “verdade”, Marina e a morte tenham se encontrado de forma tão precoce. Marina se foi lutando, fazendo o que ela julgava ser o certo a fazer. Existindo na cidade, como mulher, como ciclista, como pessoa. Muitas vezes o trabalho acadêmico e o próprio ativismo causavam alguma frustração nela: “nada muda, nada acontece, às vezes eu só queria ter um emprego qualquer”, desabafava. Mas seguia fazendo, lutando, na academia, em consultorias, ONGs e no dia a dia. Sua morte em cima de uma bicicleta é como um ato final da sua passagem por este mundo, que talvez cause mais impacto do que toda sua produção acadêmica conseguiria.
Repeti e repito que Marina não pedalava por ela, mas por todas que não podem pedalar, ou que são invisíveis dentro da máquina de moer gente que se tornaram as cidades voltadas ao capital. A bicicleta nunca foi uma necessidade, mas uma escolha, uma ferramenta para que Marina exercesse seu feminismo, lutasse por uma cidade mais gentil, mais afetuosa.
Amigos e amigas próximas têm me falado sobre o medo de subir na bicicleta para ir trabalhar depois do assassinato da Marina, o receio de dividir as ruas com os carros. E está tudo bem sentir medo, não querer usar a bicicleta como principal meio de transporte após tal brutalidade. Não é todo mundo que está disposto a dar a vida por ideais, por uma causa. Por isso, quem tem essa “disposição” causa tanto impacto. Marina é uma dessas pessoas. Pedalar nunca foi fim, mas sempre foi meio, caminho.
Marina parte cedo demais, mas deixa marcas, trilhas e sementes que ainda não conseguimos medir, tão pouco tempo após sua passagem.
Para mim, a “verdade de Marina” é inspiração para seguir: em frente, vivo e verdadeiro.












