
Por Pedro Obliziner, coletivo Margens Clínicas
Arte de Noemi Martinelle
No texto “O ativismo como forma de cura”, procurei deixar em evidências algumas características importantes que o ativismo pode ter com relação à subjetividade daquela pessoa que inicia uma atuação de resistência e transformação social a partir de uma experiência de injustiça e violência. O ativismo, então, pode ser um ponto importante para ressignificar os eventos vividos, pois pode apresentar outras interpretações e modificar a percepção do sujeito não só quanto as causas do seu sofrimento, mas também sobre os caminhos possíveis para tratá-lo, algo muito evidenciado na frase já bastante conhecida “do luto à luta”. Neste texto, gostaria de propor um deslocamento de ponto de vista, colocando em foco o ativista que, como consequência de sua ação, entra em contato com inúmeras pessoas que vem lhe pedir ajuda.
Tenho, como característica de minha prática clínica, o fato de ter atendido e atender muitos ativistas e militantes de vários campos, o que me permitiu, com o tempo, reconhecer narrativas de sofrimentos comuns, que passam por questões semelhantes, ainda que preservando a particularidade da história de cada sujeito. Estes sofrimentos, muitas vezes, dividem os ativistas em dois grupos, aqueles que sofreram alguma violência e se mobilizaram para resistir e lutar por justiça e aqueles que se mobilizaram por convicções ética, políticas e de solidariedade. Esta divisão, em última instância, não faz sentido quando fazemos uma análise das violências enquanto violências estruturais, na qual cada um é afetado e tem um papel a cumprir a sua maneira, por exemplo, uma pessoa branca ainda sofre com o racismo ao constituir sua imagem como a de uma pessoa branca, ainda que esse sofrimento seja muito diferente dos indígenas e negros. Ainda assim, esta bifurcação de narrativas entre os ativistas geralmente marca diferenças importantes de classe, raça, gênero e sexualidade. Muitas vezes um ativista pode retornar a sua casa em um bairro rico ao final do dia de trabalho e se sentir mais afastado daquela realidade violenta, enquanto outros ativistas estão imersos na violência que combatem, seja porque moram em um local ameaçado ou têm a pele de uma determinada cor.
As intersecções de raça, gênero e classe vão influenciando as posições subjetivas que o ativista adota considerando o outro que ele encontra e se relaciona (transferência), como ele responde ao que estas pessoas ou sua organização lhe pede (demanda) e as soluções para os problemas que ele encontra (saber). Cada um destes eixos pode gerar respostas distintas: as violências estruturais são incessantes e massivas, o que causa uma demanda constante e sempre com o caráter de urgência, o que faz com que muitos militantes sejam impelidos a trabalhar mais e mais, ou a se frustrarem com a sensação de que estão “enxugando gelo”. O encontro com o outro também suscita uma série de reações em nós. Alguns podem se sentir culpados por ter mais recursos – materiais ou subjetivos – do que as pessoas que está lidando diariamente, outra pessoa pode se ver com raiva e tentando afastar alguém que demonstra agressividade em meio ao seu pedido de ajuda. Os diversos desafios das ações podem nos colocar em conflito com o saber, seja na impotência de achar que não se sabe nada ou na onipotência da ilusão de pensar que já tem a resposta.
Todas estas são angústias daqueles que estão do outro lado, o de alguém que está entrando em contato com pessoas violentadas. Iremos utilizar a prática da escuta como um percurso que visita todos estes dilemas. O texto “o ativismo como forma de cura” mostrou como o trauma frente às violências políticas é uma patologia da escuta e da fala –a escuta negada que silencia aquele que tinha algo a dizer –, sendo assim, a disponibilidade de escutar tais histórias reprimidas é um recurso importante para lidar com esses efeitos de adoecimento. É aqui que reside a relevância de que profissionais qualificados se disponham a atender estas pessoas, algo que eu e o coletivo do qual faço parte, Margens Clínicas, nos dedicamos há quase uma década.
Para além disto, é de nosso entendimento que há muitos outros profissionais da escuta, fora psicólogos e psicanalistas: professoras, enfermeiras, motoristas, porteiros, assistentes sociais, pessoas que passam boa parte do dia escutando aqueles que o rodeiam. Nesta posição também vemos diversos ativistas. A diferença destes para os terapeutas é que muitas vezes eles não sabem o que fazer com aquilo que escutam. São relatos difíceis de suportar, que muitos preferem ignorar a existência, e que afetam aquele que escuta de diversas maneiras. É pensando nessa atuação em rede e voltada para a criação e fortalecimento de políticas públicas que criamos o projeto Rede para Escutas Marginais (REM), uma formação visando o desenvolvimento da escuta destes profissionais e a criação de dispositivos de enfrentamento dos efeitos psicossociais das violências políticas. Tentarei transmitir aqui algumas das reflexões que nos movem.
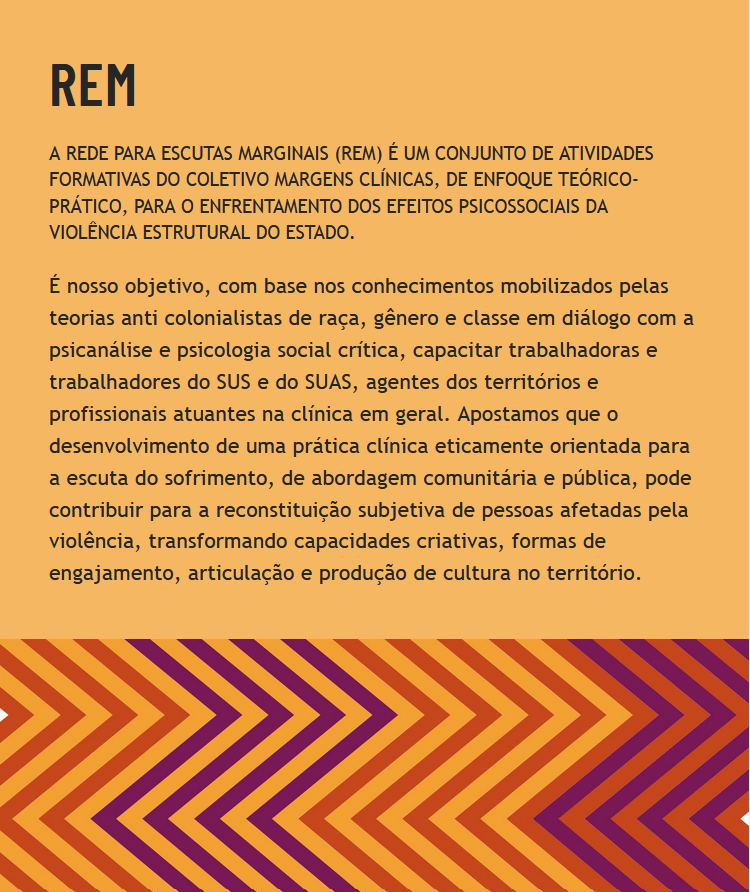
Um dos princípios básicos é que, para exercer uma prática do cuidado, é preciso, antes de tudo, cuidar-se. É por isso que todo psicanalista faz não só a sua análise pessoal, como também supervisões. Enquanto a primeira tem o intuito de tratar daquilo que ele está sofrendo, seja angústias vindas da própria profissão, dos casos em que escuta, mas também dilemas pessoais, problemas de relacionamento, dificuldades de dormir, enfim, qualquer sintoma que mostre a sua dor. A análise é um tratamento e, assim sendo, não pode ser um meio para outra coisa, ninguém faz análise só porque quer virar psicanalista e atender outras pessoas. É preciso encontrar seus próprios motivos, “onde apertam os seus sapatos”, o desejo de transformar algo em suas vidas. Contudo, ela tem, sim, efeitos na prática profissional, já que aquela pessoa que está muito presa às suas próprias angústias fica surda às angústias do outro.
O outro dispositivo, as supervisões, tem um enfoque mais restrito à prática profissional, é um espaço onde levamos casos que estão nos inquietando e estas outras pessoas, mais afastadas e descoladas do caso que está sendo atendido, tem a capacidade de nos emprestar “ouvidos frescos”, menos tomados pelos afetos que o caso está mobilizando. Este último aspecto – como somos tomados emocionalmente pelo que lidamos – é chave para entender que uma boa supervisão não é uma mera orientação técnica, onde alguém que supostamente “sabe mais” vai te dizer o que fazer, mas uma possibilidade de acolher as dificuldades profissionais. A supervisão representa, acima de tudo, um espaço, uma pausa. Ali onde se pode parar para refletir, ao invés de simplesmente continuar reagindo às demandas que não param de chegar.
Não faço aqui uma defesa de que todos estes profissionais e ativistas devam se tornar psicanalistas, mas utilizo as “tecnologias” por nós criadas para apontar para coisas importantes, a necessidade do cuidado tanto com nós mesmos, seres cuidantes, quanto com a nossa prática cotidiana. Aqueles que vão lidar com a escuta da violência se beneficiariam da possibilidade de replicar estas condições, mesmo que com outros recursos.
Sendo o autocuidado a condição básica para escutar, podemos olhar para outras condições que envolvem endereçar o que foi dito pelo outro. Aquele que se mostra disponível é muitas vezes convidado pelo outro a “responder”, a dar uma sugestão, conselho ou até mesmo executar uma ação que poderia minimizar o sofrimento. Todas essas alternativas podem esconder armadilhas. É preciso refletir se a intervenção está potencializando a pessoa, sendo mais um passo dela em direção à mobilização, a transformação e a cura, ou se a intervenção, movida pela angústia, é uma tentativa de aplacar o desamparo.
Para Freud, experiências de desamparo nos remetem às nossas primeiras experiências enquanto bebês, nas quais dependemos de outros seres para continuar vivos, tanto sendo nutridos com o leite materno quanto protegidos de qualquer ameaça. Ver-se novamente desamparado faz com que o sujeito queira retornar a este estágio, ele aceita renunciar a sua autonomia em busca de segurança, é como uma proposta “aceito deixar de ser livre se você prometer me amar e me proteger”. É uma posição ética não aceitar essa proposta, apostando na autonomia de cada ser.
Respostas ao desamparo que transmitem a mensagem “fique calmo, você vai parar de sofrer”, “vai ficar tudo bem”, são um caminho rápido para algo pior, pois quem poderia tirar a dor de uma mãe que perdeu seu filho ou a dor de alguém que perdeu sua casa e seu modo de vida depois de um desastre ambiental-capitalista como o de Altamira e Brumadinho? O que foi perdido será sentido para sempre como falta. Muitas destas demandas não têm respostas mágicas, e se recusar a dar promessas de amparo causam novos sofrimentos próprios, o sofrimento do cuidante ao se deparar com a sua impotência, mas também o sofrimento daquele que suplicava ao ver a não-resposta do cuidante, frustrando-se por não ver a sua dor sendo levada embora.
Esta postura exige que sejamos capazes de suportar seus efeitos, o que passa pelo autocuidado, mas é sobretudo uma postura de humildade ao respeitar um outro princípio que a psicanálise aborda e que está relacionado à autonomia: aquele que fala sempre sabe mais sobre si do que aquele que ouve, o saber é do sujeito. Não importa se já atendi mil pacientes em minha vida, ainda não escutei aquela próxima história, ela é única. A escuta está fundada no nosso não-saber enquanto escutadores, afinal, se soubéssemos antes de escutar o outro, por que perderíamos tempo escutando?
Quando você quer saber demais sobre um outro que não é você, você certamente está adotando uma postura violenta e autoritária. Portanto, não escutar verdadeiramente, ainda mais quando se está em uma função de cuidado, é reproduzir diversas violências. Vemos isto com frequência em serviços do SUS e SUAS, serviços que devem beneficiar a população, mas que se veem emaranhados pelas mesmas violências estruturais que o resto da sociedade. Isto faz com que algumas de suas intervenções também sejam marcadas por ignorar as formas sutis que as violências ocorrem, os silenciamentos, isto faz com que serviços de cuidado acabem atuando como o braço não armado da violência de Estado.
Aqui, é importante a noção de que uma fonte de sofrimento não vai cessar só porque foi reprimida, ela vai sair pela culatra. Os sofrimentos não autorizados buscam outras formas de se exprimir e serem reconhecidos como necessidades, uma mensagem de “preciso ser cuidado” que não conseguiu vir à tona da forma original, o que deixa a verdadeira causa do sofrimento mais difícil de ser identificada. Por exemplo, uma mãe que perde seu filho pela fome ou pela bala pode começar a apresentar perturbações em sua pressão cardíaca, talvez até um ataque do coração que a leve até uma UBS para ser atendida. Uma vez lá, porém, seus sintomas vão ser tratados como uma disfunção no coração, será receitado a ela um remédio cardíaco para tomar diariamente e, novamente, a fonte de seu sofrimento não será escutada. Aqui, o serviço do SUS, que deveria cuidar, reforça uma violência e isto ocorre porque ele foi incapaz de acessar a causa do sofrimento.
Isto ocorreu porque a pessoa que estava ali como clínico, frente a sintomas que deveriam ser tratados, não teve a postura humilde de reconhecer que realmente não sabia o que se passava, este clínico hipotético acreditou que sabia que realmente a causa daquilo que ele viu como um resultado de 180/90 no marcador de pressão arterial e foi autoritário, o que talvez pudesse ter sido evitado se ele tivesse os recursos para perguntar “dona, por que a senhora acha que está tão nervosa?”. E esta recusa em assumir a posição de saber tem efeitos profundos, visto que disponibilizar a escuta para alguém é, no fundo, possibilitar que a pessoa escute a si mesma, como numa possível resposta “está difícil demais viver desde que perdi meu filho”. Se no primeiro texto falamos muito de reconhecimento, temos aqui um reconhecimento muito especial, quando o sujeito reconhece o seu próprio desejo, o que envolve também reconhecer as escolhas e renúncias que ele deve fazer para realizá-lo.
O respeito a palavra é também confiar que aquela pessoa pode se transformar, o que nos impede de dizer “fulana é assim”, sem nenhuma possibilidade de que ela seja outra coisa. Há sempre a esperança do novo, ainda que um novo que carregue a nossa história com ele. Achar outras palavras é modificar a experiência, literalmente modificando o passado, o que ocorreu e que memória temos dele, não só enquanto experiência individual, mas modificando aquilo que está ao nosso redor. É aqui que estão o meio e o fim de todos nós, ativistas e militantes.











