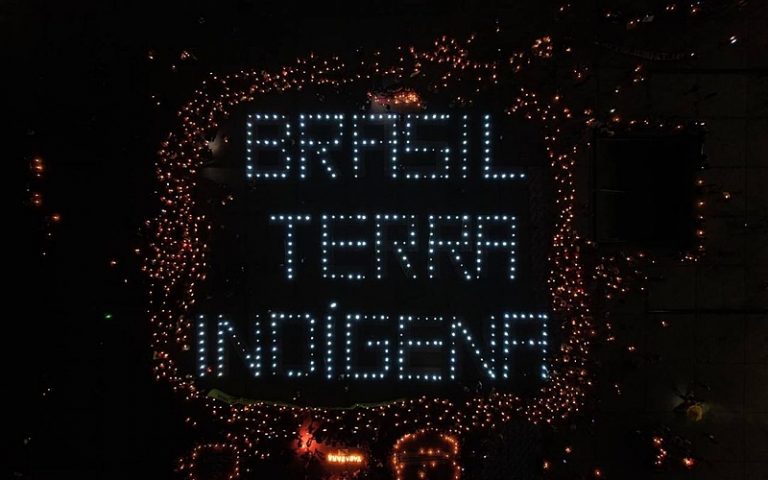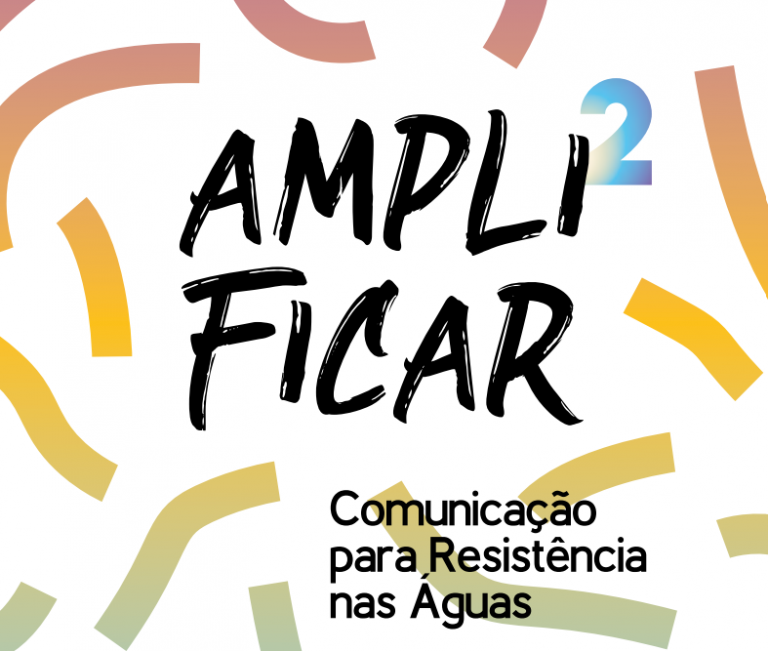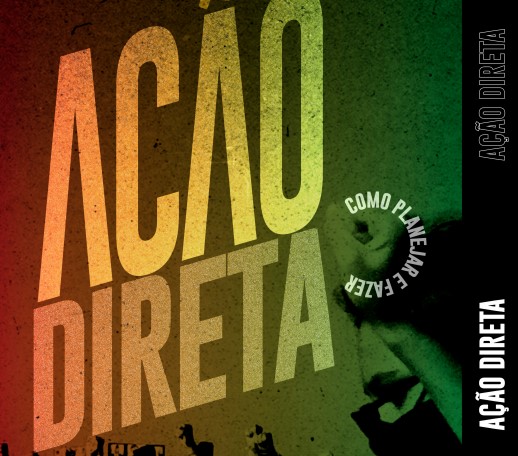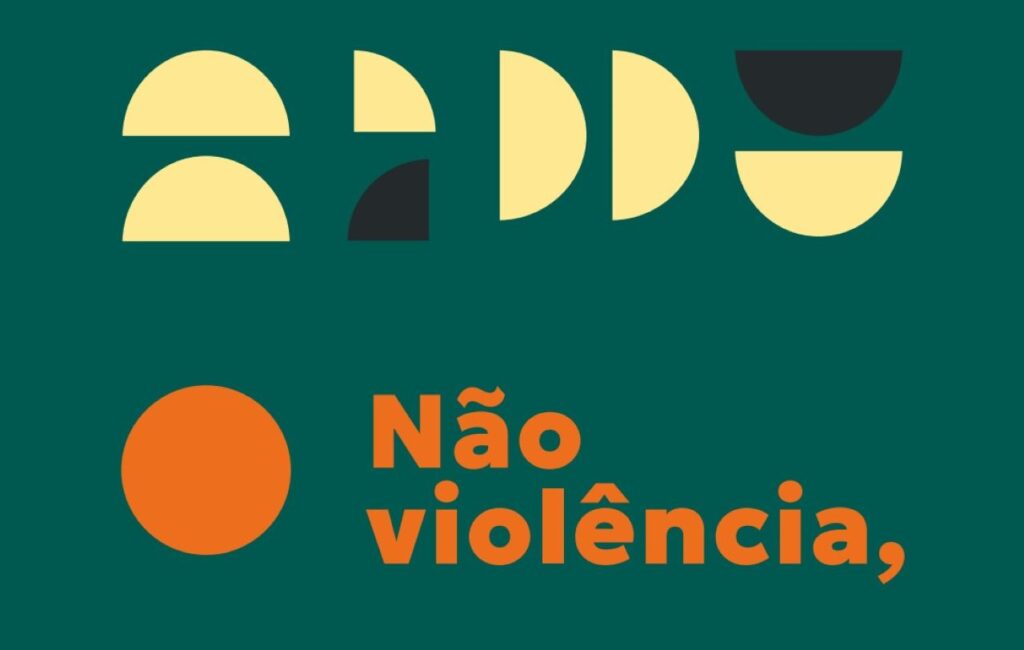Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
Ativismos e democracia: “Território é o lugar dos afetos, das pertenças, das memórias coletivas”
Priscilla dos Reis Ribeiro: Ancestralidade, luta indígena, feminismo e território
"Ancestralidade e luta por território marcam uma resistência que renasce sempre que nos enraizamos", diz a ecoteóloga na série Ativismos e Democracia da Revista Tuíra #4
Ancestralidade
Sempre esteve presente na história de minha família a “lenda” de uma antepassada indígena da qual ninguém se recorda do nome e que foi “pega a laço” para ser trazida para a fazenda dos meus antepassados. Eu-menina, cabeça cheia de criatividade, olhos cheios de poesia e alma encharcada de música, me pegava pensando em como seria essa mulher, se seria verdade esse “causo”, qual seria seu nome. Pois bem, a passagem do tempo que nos arrasta consigo, me fez desejar, na vida adulta, cavar essa narrativa e retirar de sob os escombros da branquitude essa mulher da qual herdei os longos cabelos lisos e negros como a noite sem luar, o rosto redondo e os olhos também negros, puxadinhos que se fecham quando sorrio.
Na travessia iniciada em busca de minha própria autoetnografia, me deparei com a ancestralidade tupinambá que, de tão visceral, reposicionou tudo dentro de mim, especialmente o entendimento de quem sou, dos ciclos da vida e das relações com a coletividade. Abrir os olhos para perceber os atravessamentos da minha história na vivência diária do meu corpo-território, e como isso transborda para o emaranhado do corpo social, e como está enraizado no corpo da terra, me fazendo renascer. Não porque antes eu estivesse desconectada de mim ou alheia a minha espiritualidade, mas sim porque me apresentou outras formas de ser na vida, outros mundos possíveis onde desejo habitar e a Terra sem Males onde desejo pôr os pés ainda nessa vida.
A luta abraçada
Partindo em busca de mim mesma, surpreendi-me ao encontrar os outros. Apaixonei-me pela pele cor de terra, pelos sorrisos, pela nossa língua-mãe que nos foi negada em meio aos epistemicídios coloniais que seguimos sofrendo – prova disso é que ainda hoje continuamos a nos comunicar na língua do colonizador, imposta violentamente. Você que me lê agora assim o faz pela instrumentalidade de uma língua europeia, alienígena ao nosso chão, não originária. Deslumbrei-me pelos povos originários desse território que hoje chamamos Brasil, mas que já foi Pindorama, “terra das palmeiras”, parte imensa e importantíssima de Abya Yala, nossa mátria latinoamérica, chão dos mil povos. Meu coração foi tocado e meu corpo se reconectou irremediavelmente ao Nhandereko (modo de vida Guarani): renasci na Opy (casa de reza) sob a fumaça que transcende e conduz a Nhanderu Ete e compreendi que a causa indígena é parte de nosso DNA histórico – não se pode relegá-la ao esquecimento.
Memória, justiça e território
O direito à memória caminha junto com o direito à justiça e por isso, o fato de ter meus sentimentos profundamente tocados pelos indígenas e ter sido adotada como filha pelos Guarani Mbya, que me deram o poético e simbólico nome de Para Poty, xondaria da Tekoa Ka’aguy Hovy Porã (Aldeia Mata Verde Bonita em Maricá, Rio de Janeiro) , me impulsionou à luta por políticas públicas que tornassem a vida daquela comunidade mais digna. É fato que a nossa Constituição de 1988 nos artigos 231 e 232 garante às populações indígenas os direitos inerentes à cidadania no estado democrático de direito, mas é sabido também que em nosso Congresso por anos a fio, mesmo após a democratização, as necessidades desses povos foram relegadas ao silenciamento conivente de quem deveria lutar pelo estabelecimento efetivo da lei.
Dessa forma, minha entrada no processo de retomada indígena ancestral (etnogênese) e meu retorno à universidade, para aprofundar meus conhecimentos nas epistemes que nos compõem como nação, veio acompanhado do engajamento político que busca operar ações afirmativas nos territórios indígenas. Sabemos que a palavra “território” denota mais do que terra: é o lugar dos afetos, das pertenças, das memórias coletivas. É o ente que imprime em nós relação real de parentesco com a montanha que nos aconselha em seu majestoso existir, o rio que nos lava as lágrimas, as árvores que nos embalam nas suas sombras frescas. É a localização no mundo de onde nosso umbigo está plantado, onde nosso amor floresce, onde nossos olhos se enchem de mar.

A agenda conta com oito pilares essenciais à integridade do sistema democrático brasileiro. São elas:
1- Despolitização e democratização das forças de segurança
2 - Equilíbrio entre os poderes da república
3 - Defesa e fortalecimento do sistema eleitoral
4 - Responsabilização e memória dos crimes contra a democracia
5 - Participação social
6 - Educação cidadã
7 - Qualificação e promoção do debate público
8 - Combate à rede internacional de autoritarismo
Chão e lugar
O bioma que nos pariu é quem identifica nossa subjetividade, pois o carregamos no corpo e na alma – eu trago para essas palavras os verdes múltiplos da Mata Atlântica e o azul celestial da Baía de Guanabara, pois sou do Rio de Janeiro e ele é parte de mim. E quanto a você? Qual dos seis biomas que temos em nosso território exerce guiança aos seus passos de caminhante nessa vida? Será o amazônico, o da Caatinga? Você é filhote do Cerrado, da Mata Atlântica como eu, do Pampa ou do Pantanal? O que a vegetação, os animais, o clima desses lugares dizem sobre você, sobre a cartografia afetiva do seu corpo-mapa, corpo-território, jeito-de-ser-no-mundo?
Repare: por mais que não tenhamos consciência disso, não sabemos ser gente à parte dos nossos territórios. O lugar de onde viemos imprime em nossos corpos marcas e estabelece conexões que nos seguirão (ou guiarão) por toda vida, definindo nosso jeito de comer, vestir, gastar nossos recursos, morar e até amar. Por isso é fundamental nos empenharmos no processo de solucionar seus problemas mais elementares como alimentação, moradia, saúde, educação e cultura. Em outras palavras, a bandeira da justiça social deve tremular alta no mastro da democracia verdadeira que queremos para o nosso país, dentre outras questões urgentes.
Juntar na luta
Não digo com isso que precisamos inventar a roda. Pelo contrário! Há muito que podemos fazer para somar a luta de quem já está atuando: usemos nossas redes sociais para dar visibilidade ao que já está sendo feito de bom; nos tornemos voluntários de coletivos que estão atuando com o pé no chão e o sonho em flor; façamos micropolítica nos ambientes onde circulamos, para reflorestar mentes, modificando mentalidades em prol do sonho comum do bem viver. Yvy Maraey, a Terra sem Males das narrativas ancestrais do povo Guarani, é lugar onde podemos chegar ainda em vida e lá haverá alimento farto para todos, nossos ancestrais dançarão conosco, doenças serão abolidas, pois finalmente teremos paz, terra e território. Que sonho bonito esse! Que sonho possível se estivermos juntos, de braços dados, engajados na vontade que move a força da vida!
Convite
Digo a você que me lê o seguinte. De uma coisa estou muito certa: assumir as pautas indígenas é uma das causas pelas quais vale a pena lutar. Permitir que a vida se desdobre sob a guiança da luta por memória e justiça, pela beleza de dias desfrutados coletivamente, pela soberania alimentar, pela preservação da grande teia da vida, pelas redes de afeto e confiança que podemos tecer juntos. Por todos e todas que vieram antes de nós e impregnaram o chão de nossa terra com o sangue da luta e da resistência, que deixaram seus saberes através dos encantados, pelos que preservam a pedagogia das folhas e das plantas mestras para os que hoje aprendem e multiplicam conhecimento de maneira orgânica na educação popular. Sim, por toda gente que luta amorosamente por dias mais fraternos e pacíficos, eu te convido: vamos juntos?
Newsletter
Mais recentes
Acampamento Terra Livre: A ocupação que ousa pensar um devir indígena para o Brasil pós-Bolsonaro
Acampamento Terra Livre: A ocupação que ousa pensar um devir indígena para o Brasil pós-Bolsonaro
Uma reflexão da Escola de Ativismo sobre a ocupação em Brasília que é a maior mobilização indígena do país

O Acampamento Terra Livre (ATL), que já teve 20 edições e acontece sempre no mês de Abril, é a maior ocupação indígena do planeta e agrega representantes dos diversos povos indígenas presentes em nosso território, que ecoam suas vozes para muito além da aridez do planalto central, onde se reúnem. São vozes que se unem contra o genocídio indígena e por dignidade, justiça, respeito e, sobretudo, demarcação de terras. Porque, como afirmam, sem demarcação não há democracia, e o futuro é indígena.
“Nossos ancestrais sempre nos ensinaram como devemos viver bem, em plena harmonia com outros seres viventes dessa terra mãe. É preciso aliar isso às ferramentas atuais sem deixar que estas desconsiderem esses ensinamentos. O tempo passa e o mundo se transforma, a sociedade se moderniza. Temos que acompanhar esses ciclos da evolução” (1) – Braz França, liderança Baré, ex-diretor da FOIRN.
Diversidade de saberes, diferentes formas de viver
Apesar da colonização e de todo projeto etnogenocida do Estado Brasileiro nesses mais de 500 anos de Brasil, o ATL é exuberante em riqueza cultural e humana – e em resistência também! Apesar das diversas ocorrências de processos de extermínios, os povos indígenas do Brasil resistem. São 305 povos indígenas diferentes em nosso país, representando uma diversidade sem igual no planeta. O ATL conta com marchas, cartazes, banner humano, dentre outras modalidades de ação direta que botam em movimento as reivindicações dos povos ali representados.
Ao longo da programação do 19º ATL em 2023, os diversos grupos indígenas decretaram emergência climática, cerrando fileiras diante de uma questão que afeta toda a humanidade, e conclamaram uma mobilização permanente contra o Marco Temporal que é uma questão que afeta diversos povos hoje no Brasil.
“Minha geração já pegou um território demarcado, homologado, mas a geração dos meus avós não vivenciou isso. Pode parecer que a gente, jovem, não entende esse processo de luta pela terra, mas nossas lideranças são muito cuidadosas em repassar tudo o que acontece, como foi construído tudo aquilo, para a gente conseguir ter acesso ao nosso território”. – João Victor Pankararu, liderança jovem do povo Pankararu.
As demandas e conquistas do 19º Acampamento Terra Livre
Os cerca de seis mil indígenas representando 200 povos, ocuparam a Praça da Cidadania, em Brasília, na maior mobilização indígena do Brasil. E, ao final do ATL, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e suas sete regionais assinalaram em documento a demarcação de terras como ação principal para a garantia dos direitos dos povos originários no país. No documento, a Apib ressalta que o que se passa atualmente não permite que seja possível comemorar os poucos avanços institucionais ocorridos em 2023.
Ainda no 19º ATL, os indígenas que ali compareceram destacaram a resistência do povo Yanomami, que passa por uma situação genocida, de violações de direitos elementares causada pela invasão do território sobretudo por garimpeiros. Os nove indígenas do povo Guarani e Kaiowá detidos de maneira injusta também foram lembrados e, muito em razão da mobilização do ATL, foram libertados no último dia do acampamento.

Mulheres em luta durante a Marcha das Margaridas de 2023
Foto: Vitória Rodrigues
A agenda conta com oito pilares essenciais à integridade do sistema democrático brasileiro. São elas:
1- Despolitização e democratização das forças de segurança
2 - Equilíbrio entre os poderes da república
3 - Defesa e fortalecimento do sistema eleitoral
4 - Responsabilização e memória dos crimes contra a democracia
5 - Participação social
6 - Educação cidadã
7 - Qualificação e promoção do debate público
8 - Combate à rede internacional de autoritarismo
A mensagem principal do ATL foi “o futuro indígena é hoje, sem demarcação não há democracia!”, que deixam claro a esperança de um devir indígena para o país, que possa viver e respeitar a cultura e os modos das centenas de povos ocupando de Oiapoque (2) a Chuí no território brasileiro. E tendo isso em vista, foi entregue um documento ao presidente Lula chamado “Sem demarcação não há democracia!”, no qual são reconhecidos os avanços, mas é assinalado de maneira crucial as inquietações em relação ao posicionamento da Advocacia Geral da União (AGU) relativo ao Marco Temporal, que ainda em 2024 continua sob vistas, e também foi lembrado a ausência de um cronograma para a retomada da política de demarcação e proteção das terras indígenas.
Ao final da ocupação, o governo brasileiro entregou os decretos de homologação de seis Terras Indígenas (TI): TI Rio dos Índios (RS); TI Avá-Canoeiro (GO); TI Tremembé da Barra do Mundaú (CE); TI Kariri-Xocó (AL); TI Uneiuxi (AM) e TI Arara do Rio Amônia (AC). Dessa forma, quebrou-se um jejum de quase 6 anos sem a garantia deste direito fundamental dos povos indígenas.
“Para meu povo Baniwa, território significa um lugar sagrado, porque o povo Baniwa se originou de um lugar sagrado chamado Ripana, que é o umbigo do mundo. É uma cachoeira e, segundo as nossas narrativas, as nossas metodologias, nós nascemos de uma vagina feita de pedra. Então nossa conexão com o território é sagrada, porque a gente nasceu dessa Ripana, dessa cachoeira, chamada atualmente Uapuí, e a gente está ligada a esse lugar”. – Francy Baniwa, liderança do povo Baniwa.
Notas:
1. Todos os depoimentos foram coletados no 18º Acampamento Terra Livre e estão presentes na excelente publicação Povos Indígenas do Brasil (2017/2022), do Instituto Sócio Ambiental
2. Expressão popularmente utilizada como referência às extremidades do território brasileiro. Tecnicamente, o extremo Norte brasileiro situa-se no alto do monte Caburaí (1456 metros de altitude), município de Uiramutã, estado de Roraima, na divisa do Brasil com a Guiana.
Newsletter
Mais recentes
Boxe antifascista
Boxe antifascista
Breno Macedo* nos conta sobre o passado, presente e o futuro do boxe que não rende loas a figuras conservadoras e direitistas
“O recente movimento do boxe antifascista brasileiro teve como espelho realidades externas, para depois olhar para seu próprio passado e retomar o diálogo com os boxeadores esquerdistas de décadas atrás.”

O boxe, esporte que tem trazido muitas medalhas ao Brasil nos Jogos Olímpicos, está presente na sociedade brasileira desde meados da década de 1920. Apesar do seu forte caráter popular e do histórico de adesão pela classe trabalhadora, o boxe nunca esteve muito marcado politicamente no Brasil. Ao pensar a relação entre boxe e política, as lembranças mais vivas são as que relacionam o esporte a um certo conservadorismo, a um flerte com a direita, principalmente quando se faz referência a alguns dos boxeadores de maior destaque do Brasil.
Eder Jofre, como atleta campeão do mundo nos anos 1960 e 70, foi amplamente utilizado pelo regime militar, tal como fizeram com Pelé e a seleção do tri. Quando se aposentou e resolveu se envolver com política eleitoral, Jofre foi vereador por 18 anos seguidos na cidade de São Paulo, a maior parte do tempo pelo PSDB. Sua atuação política foi discreta e poucos benefícios trouxe para o grupo social de onde emergiu: o proletariado.
Outra estrela do pugilismo nacional que também veio da pobreza, que se envolveu com política e que teve atuação discreta, foi o soteropolitano Acelino ‘Popó’ Freitas, campeão do mundo nos anos 1990 e 2000. Popó se aposentou dos ringues em 2007, e, em 2011, aproveitando a fama de ídolo nacional do esporte, foi eleito deputado federal pelo Republicanos, que à época se chamava PRB. Apesar de ter um filho LGBTQIAPN+ e de ser afro-descendente, Popó declarou apoio a Bolsonaro em 2022.
Quando olhamos para os ídolos mais recentes do boxe, como por exemplo o medalhista olímpico em Londres, Esquiva Falcão, o retrospecto não muda muito. Apesar de preferir não se posicionar entre “Lula ou Bolsonaro”, Esquiva vez ou outra solta declarações que mostram sua visão de mundo. Em 2017, Falcão se envolveu numa discussão no Twitter com Thais Araújo e Emicida, criticando o discurso antirracista proferido pela atriz no TEDX São Paulo. Na ocasião, Esquiva se posicionou contra o Dia da Consciência Negra; dizia ser mais importante o “Dia da Consciência Humana”. Ironicamente, menos de um ano depois deste episódio, o pugilista sofreu ataques racistas na internet. Ao ser chamado de macaco no Twitter, o boxeador evangélico respondeu dizendo: “Deus lhe abençoe”. Em 2021, fechou patrocínio com a Havan, participando de um grande evento promovido por Luciano Hang, o famoso “véio da Havan”. Ao anunciar a escolha em patrocinar o pugilista, o empresário disse que “Esquiva tem a cara da Havan: é simples, não tem medo de trabalhar e tem uma história de superação”. Esquiva não relutou em aliar sua imagem a de um personagem tão contraditório como o “véio da Havan”, sonegador de impostos, antivacina, com íntimas relações com o governo Bolsonaro.
Se analisarmos politicamente o mundo das lutas, dos esportes de combate, percebemos que o boxe ainda é “menos direitista” que o MMA e o Jiu-jitsu (1), por exemplo. Lutadores, treinadores e ex-atletas destas modalidades não hesitam em se alinhar ao bolsonarismo, demonstrando o pensamento hegemônico dos praticantes destas lutas. Os principais nomes da família Gracie, baluartes do Brazilian Jiu-Jitsu (2), declaram apoio e mantêm relação de proximidade com Bolsonaro e seus filhos. Antigos ídolos do MMA, Wanderley Silva, Rodrigo Minotauro, José Aldo e Maurício Shogun, também ostentam fotos em motociatas ao lado de Jair. No campo dos atletas ativos no UFC (3), o bolsonarismo também está presente, vide declarações de nomes como Borrachinha, Gilbert Durinho, Igor Araújo e Deiveson Figueiredo, atletas de destaque do MMA.
Raiz revolucionária
Há, entretanto, no mundo do boxe brasileiro, personagens reconhecidamente como de esquerda. Os irmãos Zumbano, que foram um dos principais grupos familiares de pugilistas, tiveram relação próxima com movimentos esquerdistas no Brasil. Waldemar Zumbano, que foi boxeador nos anos 1930 e treinador de renome entre os anos 1940 e 1990, teve íntima relação com movimentos revolucionários na década de 1930. Waldemar chegou a ficar na ilegalidade durante a ditadura Vargas, participou ativamente da “revoada dos galinhas verdes” em 1935, quando antifascistas enfrentaram os integralistas no centro de São Paulo. Waldemar fazia parte da Brigada de Choque do Partido Comunista (4). Um dos irmãos de Waldemar, Higino Zumbano, também militou em frentes esquerdistas na década de 1930. Durante a ditadura militar que teve início em 1964, os irmãos Zumbano já não mais militavam em grupos armados, como fizeram décadas antes. As torturas, prisões e exílios que sofreram, somados ao peso da idade, fizeram com que a família Zumbano passasse a evitar a vida política. Pouco a pouco, o passado de militância socialista dos Zumbano foi apagado, silenciado, e hoje pouco se fala sobre esse tema.
No Brasil, o movimento de boxe antifascista evoca a memória de Waldemar Zumbano, personagem que já enxergava o esporte como uma ferramenta de transformação social há décadas atrás. Waldemar Zumbano defendia a popularização e estatização do boxe no Brasil já nos anos 1950, antes mesmo do governo revolucionário de Cuba colocar em prática tais medidas. A linha de pensamento de Waldemar Zumbano, entretanto, não teve uma trajetória linear até o atual boxe nacional. O recente movimento do boxe antifascista brasileiro teve como espelho realidades externas, para depois olhar para seu próprio passado e retomar o diálogo com os boxeadores esquerdistas de décadas atrás.
Como surgiu o boxe antifascista?
Boxeadores, lutadores e praticantes de artes marciais flertando com o espectro político de direita não é exclusividade do Brasil de Jair Bolsonaro. Por permitir gerar uma rápida associação a valores como machismo, homofobia, nacionalismo, supremacia e meritocracia, não é de hoje que o Boxe atrai fascistóides para seu seio. Apesar do esporte ter sido amplamente difundido e utilizado como símbolo nacional na União Soviética e em Cuba de Fidel, o boxe também foi, historicamente, apropriado por simpatizantes do fascismo.
Não por acaso, o movimento do boxe antifascista surgiu justamente onde surgiu o fascismo de Benito Mussolini: a Itália. País onde o boxe é muito popular desde meados do século 20, a Itália possui uma cena de boxe bem estabelecida, o que faz com que tal modalidade seja difundida por toda geografia do país (diferentemente do Brasil). Em meados dos anos 1990, começaram a surgir as primeiras academias antifascistas, que se auto-intitulavam Palestra Popolare, ou academia popular, em tradução direta.
Mariano Aloíso, imigrante calabrês em Roma, foi um dos fundadores da Palestra Popolare San Lorenzo, que fica em bairro homônimo no centro de Roma. Amante do boxe e militante antifascista desde jovem, Mariano se via obrigado a treinar com professores simpatizantes do fascismo italiano. Com pouco mais de 20 anos, adepto da cultura Skinhead Antirrascista (Sharp – Skin Heads Against Racial Prejudice e Rash – Red and Anarchist Skin Heads) (4), Mariano decidiu fazer algo para mudar aquela situação. Ao invés de fazer como boa parte de seus amigos, que se negavam a praticar boxe para não ter que conviver com fachos, Mariano se uniu com camaradas que passavam pela mesma situação para fundar uma “academia vermelha”, ou Palestra Popolare.
A proposta era simples: criar uma academia de boxe livre de símbolos fascistas e comportamentos discriminatórios, espaço que atendesse a demanda do público de esquerda e extrema-esquerda. Mariano cita que, além da paixão pelo pugilismo, treinar boxe também tinha uma importância prática para tal público, uma vez que desenvolvia a autodefesa e o preparo físico para militantes de esquerda. O ítalo-baiano Carlos Marighella se orgulharia. Conflitos com grupos neonazistas não eram raros àquela época, o que demandava que os antifascistas estivessem prontos para algum eventual embate físico.
A Palestra Popolare San Lorenzo pouco a pouco foi ganhando corpo. Ocupando um prédio municipal que se encontrava abandonado na cidade, a Palestra foi atraindo cada vez mais adeptos, pessoas que se sentiam seguras em frequentar um lugar que se definia como antixenófobo, anti-homofóbico, antimachista e anticapitalista. Com o passar dos anos, a Palestra se filiou a Federação Pugilística Italiana e passou a participar de campeonatos oficiais, ganhando terreno num espaço até então inacessível a militantes de esquerda. Novas modalidades de luta passaram a ser ministradas na academia e o campo de atuação não se restringia apenas ao boxe, abarcando também outros esportes de combate e atividades físicas.
A história de Mariano com a Palestra Popolare San Lorenzo é apenas um exemplo prático de como começaram a surgir as academias antifascistas. Na mesma época que surgiu a primeira Palestra em Roma, em Cosensa na Calábria, sul da Italia, surgia a Associação Boxe Popolare, criada nas mesmas condições que a San Lorenzo. Este mesmo movimento que ocorreu na Itália do final dos 1990 ocorreu em outros países nas décadas seguintes. Inglaterra, Áustria, Espanha, França e Argentina viram surgir suas “academias vermelhas” nos anos 2000.
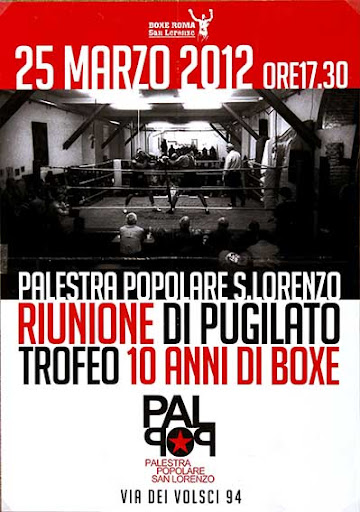
Torneio de boxe antifascista na Itália
O boxe antifascista chega ao Brasil
Inaugurada em 2003, a academia MM Boxe em Rio Claro, interior de São Paulo, criou laços com algumas academias populares italianas a partir de 2015, quando já tinha mais de dez anos de trabalhos sociais com jovens da cidade. Ao conhecer os conceitos defendidos pelos camaradas italianos, tais como a não-mercantilização do esporte, o combate ao racismo e o machismo, o respeito pela diversidade e a autogestão, a MM Boxe “caiu em si” e entendeu que se tratava de uma “Palestra Popolare à brasileira”. Ainda que não tivesse se definido como antifascista anteriormente, a MM Boxe já realizava uma ação direta por meio do esporte há anos. A influência conceitual dos camaradas italianos fez com que a academia de Rio Claro passasse, desde então, a se definir como ela sempre foi: antifascista. Trabalhando com o boxe competitivo de alto rendimento, a MM Boxe enviou sua equipe de atletas para treinar e lutar em academias populares italianas em 2016 e 2018. Jovens negros e periféricos do interior do Brasil viajaram para a Europa, sendo recepcionados por uma rede de companheiros de esquerda em cidades como Roma, Bologna, Genova, Perugia, Napoli, entre outras. Um dos treinadores da MM Boxe, Breno Macedo, passou seis meses em Roma em 2017, dando aulas de boxe na Palestra Popolare Quarticciolo, academia que hoje (2024) se configura como a maior academia antifascista da Itália.
A primeira equipe de boxe do Brasil que nasce como antifascista, fundada como uma forma de ação direta contra o fascismo, é o Boxe Autônomo, de São Paulo. “Apadrinhada” pela MM Boxe, o projeto do Boxe Autônomo surgiu de companheiros que conheciam a cena do esporte popular em outros países e que se lamentavam de São Paulo não ter uma cena do boxe antifa. O Boxe Autônomo começou dentro da ocupação Leila Khaled, na Liberdade, que recebia famílias de imigrantes de origem palestina e migrantes de diferentes regiões do Brasil. Defendendo bandeiras como o anticapitalismo, o antimachismo e o antirracismo, o Boxe Autônomo passou e passa por diferentes espaços populares de São Paulo, como a Ocupação Mauá e a Comunidade do Moinho, até estabelecer sua sede na Casa do Povo, centro cultural da comunidade judaica no Bom Retiro.
Buscando oferecer um ambiente para a prática do boxe livre de homofobia, do machismo, da xenofobia, da intolerância religiosa e de pensamentos preconceituosos, o Boxe Autônomo atende uma demanda da cidade de São Paulo. Hoje, em janeiro de 2024, circularam pela academia popular do Boxe Autônomo na Casa do Povo pessoas atraídas por diferentes motivos: militantes de esquerda, membros da comunidade LGBTQIAPN+, população do entorno, moradores de comunidades do centro de São Paulo, estudantes universitários identificados com a causa antifascista, pessoas de baixa renda atraídos pelos preços populares, trabalhadores da região central da cidade.
Realizar trabalho social com grupos desfavorecidos economicamente não é exclusividade do Boxe Autônomo ou da MM Boxe, pelo contrário. No Brasil, a maior parte dos e das pugilistas de destaque são oriundos de projetos sociais espalhados pelo país. Entretanto, é praticamente inexistente a consciência de classe e de raça por parte destes projetos, que acabam se esvaziando ideologicamente. Não é raro encontrar academias periféricas, composta majoritariamente por pessoas negras, que ignoram o tema do racismo estrutural brasileiro; garotas que praticam boxe, esporte que excluiu historicamente as mulheres de seu meio, dizendo serem antifeministas, influenciadas por líderes religiosos ligados a extrema direita brasileira; treinadores e atletas que trabalham com boxeadoras gays, mas que propagam ideias homofóbicas em seu dia a dia. As próprias boxeadoras LGBTQIAPN+ de destaque evitam tocar no assunto, para não levantar “bandeiras polêmicas” no Brasil homofóbico. Tais situações contraditórias são fruto desse vazio político que cerca o boxe brasileiro, e é também neste ponto que o boxe antifascista se propõe a fazer a diferença.
Hoje, a MM Boxe e o Boxe Autônomo inspiram movimentos parecidos em outras localidades do Brasil. Apesar de não haver por aqui uma rede de academias esquerdistas bem estabelecida, há um grande número de praticantes de boxe de esquerda, público que admira, suporta e dá forças aos projetos já existentes. Ao participar do circuito de competições oficiais da CBBoxe (6), a MM e o Autônomo também mostram que o esporte pode ser levado à excelência e trazer resultados sem perder seu caráter político. Uma coisa não anula a outra. Muito pelo contrário, o boxe se fortalece com o antifascismo e a política se difunde através do esporte.
TEXTO
Breno Macedo
Oriundo de uma família de boxeadores, foi atleta amador e chegou a ser campeão paulista.
publicado em
- 29/10/2024
Temas

AS ACADEMIAS
MM Boxe
Na cidade de Rio Claro (SP), a MM Boxe atende aproximadamente 30 crianças e adolescentes e 50 adultos. Realiza ainda festas e eventos culturais com a participação de grupos autônomos da cidade. Localizada em um antigo galpão ferroviário, a equipe atua no entorno do espaço, local que sofre de abandono do poder público e privado. Desde a sua fundação, em 2003, mais de mil crianças e adolescentes já passaram pela Academia.
Endereço: Rua 1B, 357, Cidade Nova, Rio Claro SP
Site: @mmboxe
Para conhecer mais: Canal do Youtube @mmboxe
Boxe Autônomo
O coletivo Boxe Autônomo, criado em 2015, já passou pela Ocupação Leila Khaled, Ocupação Mauá, Favela do Moinho e atualmente funciona na Casa do Povo, no Bom Retiro, em São Paulo, oferecendo aulas de boxe a preços populares. Oferece aulas gratuitas para crianças e jovens da região central de São Paulo, sem apoio governamental ou privado.
Endereço: Rua Três Rios, 252, Bom Retiro, São Paulo SP

Fachada de academia antifascista na Itália
Notas:
1. MMA (Mixead Martial Arts) e o Brazilian Jiu-Jitsu são modalidades de lutas muito popular no Brasil e onde os brasileiros obtém grande destaque internacional.
2. A Familia Gracie é conhecida no Brasil por criar e difundir o BJJ (brazilian Jiu Jistu), tendo como iniciadores desta tradição os irmãos Carlos e Helio Gracie, ainda na primeira metade do século passado.
3. A Brigada de Choque do Partido servia como uma espécie de batalhão de guarda-costas em manifestações e atos. A tensão entre comunistas e militares fascistóides era muito alta nos anos 1930 e a partir de 1935 deu-se início a um período de repressão violenta contra os esquerdistas.
4. Conferir pesquisa de mestrado da USP, “Sangue, Suor e Lágrimas: O Boxe em SP de 1928 a 1953”, de autoria de Breno Macedo.
5. Correntes que evocam as origens proletárias do skinhead inglês, onde filhos de classes subalternas britânicas conviviam com imigrantes jamaicanos e caribenhos. O skinhead, é, em sua origem, antirracista, e sua identidade visual foi sequestrada por movimentos neonazistas europeus.
6. Confederação Brasileira de Boxe, órgão máximo do esporte no país, ligado ao Comitê Olimpico Brasileiro.
Newsletter

- Regulação das Plataformas de Mídia Social: Uma medida crucial envolve a regulação das plataformas de mídia social, que frequentemente são catalisadoras da disseminação da desinformação em massa. As autoridades regulatórias devem implementar medidas rigorosas para conter a propagação de informações enganosas. Isso inclui a transparência das políticas de moderação de conteúdo, a remoção de conteúdo falso e a responsabilização das plataformas por danos causados pela desinformação.
- Valorização da Cadeia de Produção de Informação em Contextos de Desertos de Notícias: Em áreas com escassa cobertura midiática, é essencial valorizar e apoiar a produção local de informações. Isso inclui o fortalecimento de veículos de comunicação independentes e a capacitação de jornalistas locais para cobrir questões climáticas e socioambientais.
- Diversidade de Vozes: Promover a diversidade de vozes e perspectivas na discussão das mudanças climáticas e questões ambientais é crucial. Isso inclui dar voz a comunidades afetadas desproporcionalmente por esses problemas, como povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos vulnerabilizados em territórios de contextos urbanos periféricos. Pesquisadores podem apoiar a amplificação dessas vozes e histórias.
- Justiça Climática e anti-racismo: A luta contra a desinformação ambiental deve estar ligada à promoção da justiça climática e equidade racial. Isso implica em abordar as disparidades socioeconômicas e raciais em relação às mudanças climáticas e garantir soluções equitativas. Pesquisadores podem contribuir com análises sobre essas disparidades, inclusive na pesquisa em comunicação, enquanto a sociedade civil pode fazer campanhas para pressionar os tomadores de decisão.
Mais recentes
Pensar o Brasil a partir do confronto e do revide
Pensar o Brasil a partir do confronto e do revide
É possível pensar a medalha de Hebert Conceição, sua comemoração eufórica ao som do nobre guerreiro negro lutador, seu grito de desabafo, como uma forma de revide contra as instituições e pessoas que militam contra o boxe.

Relembro alguns acontecimentos ocorridos durante os Jogos Olímpicos de 2021 no Japão. Foi nessa edição que o soteropolitano Hebert Conceição ganhou uma medalha de ouro de forma extraordinária, na modalidade Boxe Olímpico. Digna de um heroísmo épico, como nos jogos olímpicos da Antiguidade. Aliás, o boxe foi o esporte que mais medalhas rendeu ao Brasil naquela edição.
No dia 1 de agosto de 2021, Hebert Conceição comemora sua vitória, durante as quartas-de-final, aos gritos, em tom de desabafo, em frente às câmeras: “Eu mereço pra caralho! Tô trabalhando pra caralho, porra! Aqui é Brasil”. Eufórico, o atleta havia assegurado, com a vitória, uma medalha olímpica – ainda sem saber a cor. Mais tarde, segundo o próprio Hebert, a comemoração expansiva foi interpretada como atitude antidesportista por um dirigente da equipe de Portugal, que reclamou formalmente, através de uma queixa, ao Comitê Olímpico Internacional, organizador do evento. Nenhuma punição foi-lhe imputada.
Seis dias depois, na madrugada de 7 de agosto, acordo com os berros de Alex Mendonça, treinador de boxe olímpico, que me recebia em sua casa no município de Dias D’Ávila, região metropolitana de Salvador. Ele grita: “Nocaute, nocaute!”. Desço as escadas do pequeno sobrado e sou recebido por seu olhar lacrimejado, dividido entre minha recepção espalhafatosa e a TV da sala, onde, juntos, comemoramos incrédulos, e assustados, a conquista da medalha de ouro do boxeador baiano. Aos poucos, nos damos conta do acontecido. Em desvantagem, desde o início do combate, contra um atleta ucraniano invicto em competições oficiais havia mais de dois anos, o representante brasileiro o nocauteou, isto é, derrubou o oponente com um potente golpe cruzado com o punho direito. Venceu faltando pouco mais de um minuto para o término do duelo. Entre pedidos de desculpa pelos gritos e justificativas por não ter me acordado para assistir à luta final, Alex e eu nos abraçamos e comemoramos, junto de seu filho Yan e Acauã, meu assistente de pesquisa.
Corpos-territórios
Passados alguns dias, acompanhei a chegada de Hebert ao aeroporto de Salvador. Dezenas de pessoas, entre familiares, treinadores, atletas, amigos, profissionais da imprensa e simpatizantes, esperavam por sua chegada. Junto de Mone (Amonio Silva), treinador baiano da equipe brasileira representante em Tóquio, o medalhista foi recebido com grande festa. Um de seus amigos carregava uma grande caixa de som nos ombros, na qual ecoava uma única música, repetidamente:
Nobre guerreiro negro de alma leve,
nobre guerreiro negro lutador,
que os bons ventos calmos assim te levem
pra onde você for
“Madiba” é uma composição do bloco soteropolitano Olodum, gravada para o carnaval de 2015 e que homenageia o líder sul-africano Nelson Mandela. Foi cantada por Hebert, ainda em cima do ringue, no dia de sua triunfante conquista, e virou símbolo da medalha de ouro do boxeador. Em Salvador, cidade natal de Hebert Conceição, assim como de Robson Conceição, também campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016, a popularidade do boxe está intimamente ligada a outras práticas populares afrodescendentes, como o carnaval e a capoeira. Ou seja, tem suas bases no processo mais amplo da formação urbana soteropolitana, concomitante ao processo de reafricanização (1) que influenciou profundamente a juventude afrodescendente na capital baiana, a partir do surgimento e ascensão dos blocos afro, como o próprio Olodum, em meados dos anos 1970 do século 20. Assim, a qualificação de nobre guerreiro negro lutador aponta para o alcance e ancoragem das políticas de valorização da negritude propagadas de forma generalizada na vida social soteropolitana.
Dias antes, exatamente em 31 de julho, o então secretário de redação do jornal Folha de São Paulo, Roberto Dias, publicou uma opinião no referido jornal, intitulada As lutas nos jogos. Nesta, expõe sua aversão à prática do boxe, sugerindo, inclusive, seu banimento dos Jogos Olímpicos. Os argumentos apontados pelo autor não apresentam nenhuma novidade, sendo uma atualização de ideias difundidas há mais de cem anos no Brasil: o boxe é reduzido à agressão mútua, comparado de forma pejorativa a uma briga de galos e, portanto, deveria ser proibido. Para este, há de chegar o dia em que o boxe sairá do programa olímpico “pelos motivos certos”, ou seja, por não merecer ser considerado um esporte.
Narrativas de marginalização, repressão e perseguição policial, assim como aconteceu no passado com outras manifestações culturais afrodescendentes, como o samba e a capoeira – ou atualmente com o funk – foram constantes durante todo o século 20. O fato elementar e primordial a se considerar é que, no Brasil, historicamente, o boxe é um esporte praticado por gente pobre e preta – vide a composição da atual seleção olímpica, formada quase que integralmente por pessoas não brancas. As escolas e projetos sociais que iniciam e formam atletas competidores estão majoritariamente localizados em favelas, quebradas e bairros populares. É um saber desenvolvido nas periferias dos grandes centros urbanos, com protagonismo dos moradores, treinadores e atletas desses espaços. “O boxe é uma pedagogia da favela, playboy não luta boxe”, contou-me Raff Giglio, renomado treinador carioca.
O caráter gratuito e beneficente, o discurso político de que a formação cidadã é prioritária sobre a formação competitiva, assim como a aglutinação de outras atividades culturais no mesmo espaço, acabam por reforçar a propriedade de projeto social das academias de boxe olímpico. Assim, são crianças e jovens os principais atendidos por estas instituições. Ou seja, parte dos processos de socialização juvenil, assim como os ritos de iniciação à vida adulta, acontecem coetaneamente à iniciação e formação enquanto atletas competidores. Assim, a noção de que o boxe é um bem social tem sido fundamental para sua aceitação e inserção popular. Nesses territórios, o corpo esportivizado é, muitas vezes, salvo conduto, motivo de orgulho, dignidade e pertencimento frente às poucas perspectivas de renda da população jovem, à ineficácia de amparo do Estado e à violência policial cotidiana.
A cisão irrecuperável entre formas da sensibilidade (2) que marca a distância entre o feito de Hebert Conceição – nascido, criado e iniciado no boxe em um bairro da periferia de Salvador – e o texto de Roberto Dias é uma poderosa imagem para se pensar o confronto de raça e classe que estrutura a formação social do Brasil. Em um esforço de síntese, podemos dizer que Roberto Dias apresenta, em seus argumentos, o medo das elites através da hierarquização e desumanização de um saber racializado, ou seja, representa o modo de pensar e agir da branquitude; traduz a centralidade da violência antinegra em forma de opinião. Assim, é possível pensar a medalha de Hebert Conceição, sua comemoração eufórica ao som do nobre guerreiro negro lutador, seu grito de desabafo, como uma forma de revide contra as instituições e pessoas que militam contra o boxe. Sua vitória não foi comemorada pelo secretário de redação porque é a vitória de um Brasil específico. O Brasil do Quilombo dos Palmares.
Venho estudando o boxe há oito anos (3). Nessa trajetória, estive em academias, ginásios, ruas e fundos de quintal em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Havana e Santiago em Cuba. De forma geral, o que pude conhecer e verificar nesses últimos anos é a multiplicação das escolas de boxe olímpico no Brasil, fenômeno que tem relação com as políticas públicas desenvolvidas a partir do primeiro governo Lula (2002), com destaque para a implementação do programa federal Bolsa Atleta. Nesses espaços, e são muitas suas variações, o boxe é uma Escola. Possui método, pedagogia, disciplina, moralidade, história, ancestralidade e linhagem. Os professores, ou treinadores, que assumem protagonismo no processo (ensinar, acolher, salvar, projetar, circular), realizam um trabalho de dedicação e intenso comprometimento.
Como pesquisador do boxe, o que me chama atenção é a constante associação do boxe à pobreza, escassez e violência. O que é um equívoco, que varia da ingenuidade ao mau-caratismo. Boxe é sobre uma performance estética, ritual, esportiva, a partir de uma postura destemida, afrontosa e agressiva em um ambiente competitivo, regulado e regido por regras de conduta. Ou seja, a performance agressiva do boxe não possui relação direta com violência.
Assim, a partir de uma perspectiva etnográfica e da filosofia fanoniana (4), pontos de vista que informam minha escrita e ética, considero que a qualificação do boxe como exclusivamente violento é uma alegoria racista enquanto ferramenta de hierarquização, desumanização, deslegitimação e poder. Com a intenção de desassociar as duas coisas, acho importante compreendermos, mesmo que de forma provisória e pedagógica, alguns dos princípios que fundamentam o conceito de violência. Ao mesmo tempo, e com a mesma importância, precisamos entender algo que está conceitualmente mais próximo do boxe, que é justamente o revés da violência. Algo que chamo de revide.
Em um recente curso ministrado por mim, intitulado “Antropologia do Revide”, cheguei, colaborativamente, a uma definição prévia desses fundamentos que comunicam a violência, sendo:
- Segregação espacial/residencial;
- Terror policial e encarceramento;
- Marginalização econômica (sub-empregos e baixa remuneração);
- Assimetria no acesso à infraestrutura urbana e recursos sociais (hospitais, escolas, segurança, formas de mobilidade, etc.);
- Epistemicídio (apagamento/aniquilamento, invisibilização de saberes e formas de conhecimento);
- Linguagem que promove hierarquização subjetiva (desaprovação, hostilidade, desdém, infantilização, animalização, etc.).
Os quatro primeiros princípios têm sua materialidade perceptível nas políticas públicas e nos procedimentos da burguesia. São formas de conceber as relações de classe e raça que estruturam a sociedade brasileira. Já os dois últimos podem ocorrer de forma sutil e mesmo cordial, estando próximos do que o antropólogo Luís Roberto Cardoso de Oliveira classificou como insulto moral, que, “em vista de sua aparente ‘imaterialidade’, tendia a ser invisibilizado como uma agressão que merecesse reparação” (5). De forma geral, a interconexão destes princípios nos permitem identificar e nomear como violência as formas como se dão a manutenção dos privilégios da branquitude (6).
TEXTO
Michel de Paula Soares
Doutorando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pesquisador do LabNAU\USP, atua também como gestor e treinador do Boxe Autônomo
publicado em
- 29/10/2024
Temas
Por outro lado, o revide seria toda e qualquer forma de reação, oposição ou insurgência contra esses seis princípios. Não é, portanto, outra forma de violência, pagar na mesma moeda. São saberes extensivamente praticados por pessoas, coletivos e populações que sofrem a violência. Ou seja, são formas criativamente inventadas no sentido de se criar condições para se viver uma vida digna. Sendo a violência antinegra uma dimensão constitutiva das relações sociais e da reprodução da ordem urbana, considerando o antagonismo estrutural que existe entre sociedade civil e negritude, são as práticas de revide que permitem nos aproximarmos de um entendimento real sobre assimetrias, desigualdades e performances de poder. Aqui não estou inventando a roda. O revide está amparado na ideia de contraviolência, de Frantz Fanon (7); no quilombismo de Abdias Nascimento (8), nas práticas de desvio de Édouard Glissant (9).
Práticas de revide não são, necessariamente, respostas imediatas e diretas, não se resumem a um contra-ataque (mas também podem ser). Não significam declaração de guerra, muito menos instabilidade psíquica. São condutas constantemente operadas no cotidiano, historicamente elaboradas desde o estabelecimento das relações coloniais em solo brasileiro. Isso porque não apenas a morte social, mas a resistência ao sistema colonial – perpetuamente atualizado – realizada através de um imenso leque de táticas e estratégias, negociações e conflitos, rupturas e guerras, festas e agregações diversas, fundou a experiência afrodescendente em solo brasileiro. Assim, pedagogias, tradições e saberes em prol da gestão da vida e das sociabilidades que renegam a necropolítica (10) são constantemente criadas e recriadas em contextos associativos diversos. Inclusive nas escolas de boxe olímpico (11). Espaços autônomos para se “cantar, folgar e brincar” (12), práticas de rivalidade e de solidariedade, são inúmeras as formas de revide. São ações políticas organizadas, independentemente de suas eficácias ou radicalismos, produzidas também através do autocuidado, da opacidade, da disciplina, ou mesmo como fuga, negociação, acordos coletivos. Tem a ver com “estratégias, técnicas e ferramentas que somente uma corporalidade e subjetividade capaz de habitar a fragilidade consegue desenvolver” (13).
Muitas dessas características foram construídas na experiência coletiva da diáspora africana em Brasil. Ou seja, aprender a se proteger, a proteger o próprio corpo e o coletivo, a si próprio e ao irmão, aprender a revidar a partir de diversas maneiras é uma pedagogia fundamental que atravessa a história do Brasil desde a chegada do primeiro navio negreiro. Dessa maneira, não apenas práticas e tradições religiosas, políticas e socioeconômicas, mas também festas, agremiações esportivas e performances de gênero podem ser pensadas e discutidas enquanto resultado dos embates diretos contra o racismo que organiza a sociedade brasileira em suas diversas escalas.
O revide também não pode ser confundido com o pacifismo, muito menos com a conciliação (14). No Brasil, a construção de uma suposta democracia racial, pautada no pressuposto de uma multirracialidade mais ou menos harmônica, é sustentada pelo projeto conciliatório de classe e raça que busca invisibilizar uma assimetria fundamental. É essa conciliação arquitetada pela Estado e pela burguesia que vai permitir, por exemplo, a apropriação de práticas e saberes afrodiaspóricos enquanto símbolo nacional, passível de ser consumida, apropriada, vendida, manipulada, contrabandeada, roubada, enquanto mantém o controle e subordinação racial através da violência. Em outras palavras, “para manter a acomodação das possíveis tensões raciais, utiliza-se do argumento cultural retirando-lhe o seu conteúdo racial” (15).
O pacifismo forçado, vigiado e controlado pelo Estado e pela burguesia não passa de um dispositivo que opera na chave da segregação e da gentrificação. O pacto narcísico da branquitude (16) pressupõe a ficção de relações sociais pacificadas, a partir da evitação de confronto pessoal ou coletivo. Dessa forma, podemos afirmar que a branquitude não desenvolveu conhecimento, tradição e subjetividade para ser confrontada. Por isso, por ter desenvolvido, enquanto tradição, ter medo (17), não suporta ser confrontada. É dessa incapacidade que nasce a aversão ao boxe. Porque o boxe é sobre confronto, revide (18), ou seja, não é sobre bater e apanhar, mas sim sobre ser confrontado e conseguir revidar. É sobre disputa de território, no espaço e no tempo. Logo, forma uma coletividade que suporta o confronto enquanto parte fundamental das relações sociais. Confronto em diversas escalas: o confronto contra si, contra o próprio medo; o confronto contra a diferença que representa o outro, o confronto contra o ego, contra o medo da intimidade que é tocar a face do outro e ser tocado; e o confronto do ambiente competitivo em si.
***
Dessa maneira, contra uma tendência neoliberal de subestimar os conflitos em mérito da formação de sociabilidades pacificadas, considero o revide como padrão relacional preeminente às relações de conciliação e submissão dos corpos e coletivos racializados. Isso porque, na América colonial recriada sob a plantation, o corpo oprimido, racializado, nunca esteve submisso, jamais deixou de revidar. Ou seja, reações contra a violência estrutural e programática do Estado e da branquitude são fundamentais para entender a formação das relações de classe, raça e gênero no Brasil.
Perto do final, espero ter deixado óbvia a importância de se priorizar a dimensão racial enquanto categoria analítica. Ou seja, reconhecer a dimensão central do racismo na manutenção das relações sociais e na produção dos espaços, instituições, territórios e formas de circulação. É a partir dessa consideração que podemos pensar o revide como padrão relacional atuante no Brasil desde sua formação colonial. Partindo da implicância que significa viver em uma nação cujo projeto histórico e ideal de brasilidade – o povo brasileiro – é pautado pela antinegritude, é preciso levar a sério quando treinadores dizem que o boxe é um projeto de emancipação do povo negro. O que significa alcançar o mais alto posto da representatividade esportiva nacional em uma nação pós-escravista, cujo Estado e burguesia atualizam sistematicamente suas instituições, ideologia e valores pautadas no racismo? O grito de Hebert Conceição talvez nos indique um caminho para essa resposta.
Notas:
1. Osmundo Pinho. “O mundo negro: Sócio-antropologia da reafricanização em Salvador”. Tese de Doutorado em Ciências Sociais apresentada ao Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2003.
2. Édouard Glissant. “Espaço fechado, palavra aberta”. Tradução de Diva Barbaro Damato. Estudos Avançados, vol.3, nr.7, 1989.
3. As ideias apresentadas nessa comunicação fazem parte da tese Antropologia da Esquiva – Ancestralidade, pedagogia e coragem na formação do boxe olímpico brasileiro, defendida no PPGAS/USP.
4. Frantz Fanon. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
5. Luís Roberto Cardoso de Oliveira. “Existe Violência Sem Agressão Moral?” Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.23, nr.67, 2008.
6. As “novas” inquietações epistemológicas compreendem que a violência em seu viés físico, intelectual, cultura e político, está no cerne da manutenção dos privilégios da branquitude, na submissão de negros e indígenas na América Latina. O que percebo, entretanto, é que há uma apropriação limitada da categoria. Ver: Ana Luiza Pinheiro Flauzina. “Pelo amor ou pela dor: apontamentos sobre o uso da violência como resistência ao genocídio”. In: Motim: horizontes do genocídio antinegro na Diáspora. Brasília: Brado Negro, 2017.
7. Frantz Fanon. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968
8. NASCIMENTO, Abdias. “Documento 7: O Quilombismo”. In: O Quilombismo: Documentos de uma Militância Pan-Africanista. São Paulo: Editora Perspectiva; Rio de Janeiro: Ipeafro, 2019.
9. Édouard Glissant. “Espaço fechado, palavra aberta”. Tradução de Diva Barbaro Damato. Estudos Avançados, vol.3, nr.7, 1989.
10. MBEMBE, Achille. “Necropolítica”. Arte & Ensaios nr.32, 2016.
11. É desse dom, desse vir-a-ser sempre pulsante que o Estado se vale em forma de representação nacional nos Jogos Olímpicos, em complexos arranjos, saturados por conflitos e negociações.
12. REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 (2009).
13. Jota Mombaça. “Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência!” 32º Bienal de São Paulo, Incerteza Viva. Fundação Bienal de São Paulo, 2016.
14. O arcabouço teórico de Frantz Fanon é, novamente, fundamental para o desenvolvimento de uma perspectiva radical, não pautada pela conciliação. Isso porque sua tese fundamental, desenvolvida em Os Condenados da Terra (1968) é que a partir da perspectiva da conciliação (moderna, humanista) não há dispositivos de compromisso ou de superação para a incomunicabilidade, e essencialmente, inhumanidade projetada no corpo negro.
15. Sílvio Humberto dos P. Cunha. “Um retrato fiel da Bahia: sociedade-racismo-economia na transição para o trabalho livre no Recôncavo açucareiro, 1871-1902”. Tese de doutoramento apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de Doutor em Economia.
16. Maria Aparecida Silva Bento. “Pactos Narcísicos no Racismo: Branquitude e poder nas organizações e no poder público”. Tese de doutoramento apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutora em Psicologia. 2002.
17. “Como sabemos, é necessário um mínimo de imaginação para se ter medo. Mesmo os chamados medos instintivos, os ‘medos animais’, não são senão atos de imaginação entranhados no etograma da espécie por um doloroso aprendizado originário, imemorial, como nos ensinaram Friederich Nietszche e Samuel Butler. Pois é preciso aprender, ter aprendido, a ter medo”. In: Eduardo Viveiros de Castro. “O medo dos outros”. In: Revista de Antropologia. São Paulo, USP, v. 54, nr 2, 2011.
Newsletter
Mais recentes
Ativismos e democracia: “Primeiro a sabedoria ancestral e depois o conhecimento”
Casé Angatu: Ancestralidade Tupinambá, os desafios do movimento indigenista no Nordeste e a luta por demarcação de terra
"Primeiro a sabedoria ancestral e depois o conhecimento", disse Angatu na série Ativismos e Democracia, da Revista Tuíra #4
Katuara, Katukaruene e Katupituna … Emimotara opá katuana pupé pá (1).
Meu nome é Casé Angatu. Meu nome não indígena, que está no registro de nascimento, é Carlos José Ferreira dos Santos. Nasci em 20 de outubro de 1963.
Minha formação é em História pela Unesp de Franca. Sou mestre em História pela PUC de SP, Doutor em Arquitetura e Urbanismo da FAU/USP, com pós-doutorado em Psicologia pela Unesp de Assis/SP. Sou historiador como profissão, professor universitário, indígena e militante pela luta do meu povo. Chamam de ativista, mas prefiro a palavra militante, pois sou antes de tudo um indígena. Antes de ser historiador, professor universitário, mestre, doutor, eu sou indígena e me oriento pela sabedoria dos meus ancestrais e daqueles que já se encantaram, pela sabedoria da natureza. Primeiro vem a minha indianidade, depois a formação. Primeiro, a indianidade depois, a profissão. Primeiro a sabedoria ancestral e depois o conhecimento.
Sou autor de alguns livros, o mais conhecido “Nem tudo era italiano” (2), escrito há mais de 28 anos, onde trato da presença indígena na cidade de São Paulo. E de vários outros artigos, capítulos, vídeos, filmes, tratando sempre da temática indígena.
Povo e território tupinambá
Eu vivo com o povo Tupinambá. Eu sou do povo Xukuru. O povo do meu pai é de Palmeira dos Índios, Alagoas. Minha mãe é Kaigang do interior paulista. Os dois se conheceram, casaram e foram viver na cultura Xukuru, onde cresci por muito tempo. Vim morar com o povo Tupinambá, em Olivença, que fica na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A Terra Indígena Tupinambá envolve três municípios: Ilhéus, Una e Buerarema.
O povo Xukuru é um povo de luta, mas como estou vivendo com o povo Tupinambá, vou falar dele. É um povo Tupi, o principal povo em quantidade que ocupava a faixa litorânea do Brasil quando das invasões europeias do século XVI. Sim, este país foi invadido e não foi “desinvadido”. Os invasores não foram embora e estão aqui há 524 anos. O povo Tupinambá foi um dos primeiros povos na linha de contato, na linha de frente, de resistência e de re-existência das invasões europeias.
Os nossos mais antigos contam: os tupinambás eram um povo que tinha aquilo que chamam de antropofagia, mas que eu chamo de angakaru (anga=alma, karu=comer), que é comer a alma. É uma negação da ideia de canibalismo, uma contraposição à ideia de antropofagia. Nas lutas entre os parentes, o guerreiro (ou a guerreira) era levado para aquela aldeia “vitoriosa” e, depois de um ano de convivência, ou mais, ou menos, era ritualisticamente devorado no sentido de respeito a esse guerreiro. Não era um ato de barbárie.
Pierre Clastres tem alguns textos que falam sobre essas questões. O livro é “A Sociedade contra o Estado” (3). Ele se inspira nas lutas dos meus ancestrais. Também há pensadores como Rousseau que apontam isso não como barbárie. O amor também era livre. Não havia a família monogâmica; podia haver, mas não era um princípio. Nós não éramos e nem nunca fomos binários. Não temos a binariedade, o bem e o mal, o certo e o errado, o homem e a mulher, o paraíso e o inferno.
Nós, contam os ancestrais e ainda vemos hoje, não éramos binários na nossa relação com a vida, com a natureza. Nós somos a natureza e a natureza faz parte de nós também. Não há uma binariedade, há outra forma de se relacionar com o mundo. Então os invasores, estranharam e detestaram, até porque eles queriam as nossas terras. Só há duas formas de espoliar a terra de um povo que não quer ceder essas terras: genocidando – e assim começa o genocídio – ou etnocidando, tentando catequizar, tentando nos aldeanizar, desindializar. Essa é a história do contato com os invasores europeus do século XVI.

“Nós somos a natureza e a natureza faz parte de nós também. Não há uma binariedade, há outra forma de se relacionar com o mundo”.
Invasão e resistência
Os tupinambás foram os que mais sofreram junto com os aimorés, com os goitacazes e outros povos que estiveram na linha de frente do processo de invasão. A violência foi tão grande porque sobre nós foi decretada a chamada “guerra justa”, entre aspas, porque esse termo era aplicado pelos portugueses, pelos jesuítas, pelos invasores para justificar o genocídio, o etnocídio, o estupro, a prisão, a escravidão dos povos originários que não aceitavam a dominação e se rebelavam. Nós protagonizamos o tempo todo formas de resistência e re-existência e por vezes ainda persiste a ideia de que os tupinambás deixaram de existir no século XVII ou ainda no século XVI, tamanha a violência que essa “guerra justa” provocou em nossos corpos, em nossas almas, sobre nós. Restava resistir e reexistir.
Em nossa cantoria, a gente faz o nosso Toré. Lá em Olivença se chama Porancy. A gente canta em Olivença, assim:
Tupinambá subiu a serra todo coberto de pena.
Ele foi, ele é, ele é o Rei da Jurema.
Ou seja, nós subimos a serra, nos retiramos, ficamos com diferentes formas de resistência e de re-existência espiritual, cultural, de alma – por isso estamos vivos até hoje. Não só os Tupinambá, mas também o povo Murá, Charrua, Guató, entre outros povos considerados extintos.
É preciso lembrar dois momentos históricos: em 1559, Mem de Sá, governador geral da Bahia, vem pra Olivença e comete um dos maiores massacres da história, o Massacre do Rio Cururupe; e na década de 1930-40, o indígena Caboclo Marcelino se levanta contra os coronéis do cacau para demarcar a terra e evitar que Olivença – a antiga terra indígena se tornou aldeamento católico no século XVII – passasse a ser propriedade deles.
A espera da homologação
Em 2002, saiu o laudo do reconhecimento étnico oficial pela FUNAI, e depois de aproximadamente sete anos, em 20 abril de 2009 (pela mesma Funai com sua equipe e Susana Veiga, uma antropóloga portuguesa que fez o reconhecimento étnico), foi publicado o relatório circunstanciado de limitação da terra indígena Tupinambá de Olivença. Desde então, temos o território oficializado nas suas demarcações, tamanho e estrutura (47.360 hectares em Ilhéus, Itabuna e Buerarema). Portanto deveríamos ter nosso direito à terra. De lá pra cá, todos os processos jurídicos daqueles que se colocaram contra a demarcação foram ultrapassados. O processo só se encerra quando há a homologação do relatório, publicado no Diário Oficial. Portanto só precisaria haver a homologação pelo Ministério da Justiça ao qual caberia esse reconhecimento e a portaria demarcatória ocorrer com a assinatura da presidenta ou presidente. O relatório para ser homologado ficou na mesa da Presidência da República de diferentes gestões, mesmo nas de esquerda.
A presidenta Dilma não homologou e não publicou a portaria demarcatória. O Temer muito menos, porque atende os interesses daqueles que estão no setor ruralista. Nas eleições de 2018, com a eleição do presidente fascista, miliciano, anti-indígena e genocida dos povos originários, Jair Bolsonaro, aí mesmo que não ocorreria a homologação. Para piorar a situação, no dia 30 de dezembro de 2019, na calada da noite, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, manda de volta cerca de 27 relatórios demarcatórios para a Funai para serem revistos com novas regras, seguindo 19 condicionantes que serviram para demarcar a terra indígena Raposa do Sol e estabelecendo o marco temporal de 1988 como medida condicionante.
Fazer valer o indigenato
TEXTO
Casé Angatu
Militante indígena, historiador e professor universitário.
publicado em
- 29/10/2024
Temas
A principal luta, não só do povo Tupinambá, mas de todos os povos indígenas é pela demarcação imediata de todas as terras indígenas. Fazendo valer o artigo 231 e 232 da Constituição, que dizia que em cinco anos todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas, e o respeito à nossa autonomia e alteridade, como diz a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional está tentando aprovar uma série de medidas, como o marco temporal e a ideia de que os indígenas podem comercializar suas terras. Terra indígena é propriedade coletiva de um povo, não é propriedade privada. O nosso direito é o do indigenato, tese defendida por João Mendes Júnior em 1912. Nosso direito é anterior a qualquer propriedade privada e mesmo à propriedade do Estado sobre os territórios. É um direito que antecede o Estado brasileiro e antecede a qualquer direito à propriedade privada. É um direito que não tem o que questionar.
Por isso a gente diz que essa é a principal luta, fazer valer um direito à terra demarcada não como propriedade, mas como coletiva e como pertencimento, de nós pertencendo a ela e ela a nós. Não é um direito como nós sendo donos da terra. Nós somos a própria Terra. Îandê Yby. Nós somos os que preservamos a natureza porque nossa alma está na natureza, nossos espíritos estão na natureza, nossos ancestrais estão na natureza. Portanto a luta é para respeitar nossa forma de ser, nossa indianidade, nossa temporalidade.
Por isso também a Convenção 169 é importante. Qualquer medida do Estado tem de passar por uma consulta prévia e informada aos povos originários. Infelizmente, sob a chancela do nefasto e terrorista marco temporal, terras demarcadas poderão ser revistas e as que ainda não foram demarcadas, como a Tupinambá, podem não ter demarcação.
Direito à demarcação, direito de garantia ao que já está demarcado, direito e dever de respeitar a nossa autonomia e a nossa alteridade, direito à saúde, fortalecimento da secretaria de saúde dos povos indígenas), direito à educação diferenciada, direito às cotas na universidade e outros órgãos públicos – essas são nossas principais lutas.
Unidade e diversidade
Nós somos povos no plural. Sempre fomos povos originários. Pelos dados do IBGE de 2010, são mais de 305 povos indígenas e mais de 274 línguas (4). Nós temos nossa diversidade, somos diversos, e isso tem que ser respeitado. Sempre fomos nesses 524 anos essa pluralidade, por isso que somos povos originários no plural; e atualmente continua assim com diferentes contextos históricos e culturais.
Há os povos que não querem o contato, não querem se integrar na chamada sociedade “civilizada”, se é que podemos chamar isso de civilizado. São os povos isolados, que eu prefiro chamar eles de povos livres.
Há os povos de contato recente em diferentes contextos históricos. Há os povos de contato seculares como é o meu povo, o povo Tupinambá, os povos que estavam na faixa litorânea com contato há mais de 524 anos. Há pessoas indígenas morando nas cidades, em aldeias que estão nas cidades, também chamadas de aldeias urbanas. Você tem indígenas, que estão se autodeclarando, que moram fora de aldeias.
Veja: é uma diversidade, então o que nos une? É a luta pelo direito à demarcação territorial, respeito das nossas formas de ser, da nossa autonomia, nossa alteridade, respeito à natureza que consideramos sagrada. Esses são os elementos que nos unem. Esses elementos ultrapassam as distâncias nesse país “continental”, país que nós chamávamos de Pindoyby – Terra das Palmeiras – da grande Abya Yala, que alguns chamam de América.
É por aí que acontece a nossa unidade: nos encontros nacionais que ocorrem em Brasília, como o Acampamento Terra Livre (ATL), nas manifestações que nós somos obrigados a fazer, através da mídia alternativa e da internet, nós nos comunicamos e criamos nossa unidade para termos nossos direitos garantidos. É uma unidade acima de tudo na luta.
Unidade e diversidade
O debate sobre esse marco temporal parte de um recurso extraordinário movido pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xokleng, que habita a Terra Indígena Ibirama- La-Klãnõ de Santa Catarina, e por outros dois povos, os Kaingang e os Guarani. Esse recurso, que ganhou um status de repercussão geral que foi dado pelo STF, ocorreu em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Olhe quanto tempo já se passou para que o STF pudesse ter votado e derrubado o Marco Temporal…
Então são vários os momentos desde 2019 em que nós vamos às ruas nos manifestar para que o STF derrube o marco temporal. Isso acontece todo ano. E aí o [ministro] Alexandre de Moraes, mesmo sendo contra o marco temporal, aventa uma série de medidas que devem ser tomadas por aqueles que se dizem proprietários das terras indígenas, uma série de medidas que já estão previstas no processo demarcatório. Com isso o ministro que votaria depois dele, um ministro bolsonarista, pediu novamente vistas do processo. Isso me faz pensar que o STF não quer dar um parecer final derrubando o marco temporal por duas situações: porque boa parte dos juízes é a favor do marco temporal e tem relações com os ruralistas ou porque esperam que o Congresso decida. Só que o Congresso Nacional, todos nós sabemos, tem uma forte bancada de direita, conservadora, ruralista e anti-indígena. Essa demora é uma barreira.
Eles dizem: “a lei tarda, mas não falha”. Eu costumo dizer: “a Lei tardando já está falhando em vários casos e inclusive nesse” (5).
Caberia, sim, ao STF votar imediatamente pela derrubada do marco temporal. Essa é a principal dificuldade, porque senão nós seremos, e eu me sinto assim, uma moeda de troca para a governabilidade do atual governo. Não vou me estender muito sobre essa governabilidade porque o novo governo criou um Ministério dos Povos Indígenas. A outra barreira é o governo federal.
Apoio de não-indígenas
Toda luta de não indígenas que nos apoie e nos fortaleça sempre foi e sempre será bem-vinda. Na luta da constituinte pelos artigos 231 e 232, que teve a grande participação do parente Ailton Krenak, tivemos muito apoio do grande Dalmo de Abreu Dallari e outras pessoas não indígenas.
A Lei 11345, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura indígena nas escolas oficiais, também contou com apoio de não indígenas. Essa luta contra o marco temporal conta com o apoio e a participação dos irmãos não indígenas, que nos importam muito porque servem como um escudo contra as armas de quem não quer demarcação neste país.
Desafios do movimento indígena nordestino
Nós, povos originários do Nordeste e de lugares onde ocorreu o processo colonial há mais tempo, carecemos primeiro que todos reconheçam que somos indígenas. Quando se fala que existe indígena no Nordeste, muitos dizem que “no Nordeste não existem mais indígenas, porque as invasões que aconteceram há 524 anos exterminaram os indígenas, que foram todos mortos” etc. Parem com essa visão!
Como diz o grande líder Chicão Xukuru, “massacrados sim, exterminados não!”. Nós fomos massacrados, nós fomos presos, mortos, genocidados, estuprados, mas nós resistimos e re-existimos. As pessoas podem ter certeza e convicção de que uma das páginas mais belas de re-existência e resistência ocorreu entre os indígenas nordestinos e de todas as áreas de ocupações antigas. Sofremos preconceito e racismo grande, porque sempre vem alguém dizer que “os indígenas do Nordeste não existem mais, se miscigenaram, se misturaram”. Eu digo: “nós existimos sim, e temos o direito ao nosso território”. E digo mais, é uma resistência forte e bela porque quando um indígena do Nordeste, que é a antiga frente de invasão, se levanta, nós fortalecemos a luta de todos os indígenas do Brasil inteiro.
Gostaria de falar aqui dos parentes Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que sofrem um dos maiores massacres, quase cotidiano. Tem indígenas de lá presos nesse país. Assim como no Nordeste, do sul da Bahia onde está o povo Tupinambá, sofremos humilhações, massacres, mortes, tentam a todo momento não reconhecer nossa indianidade e nosso direito à terra, isso também acontece lá no Mato Grosso do Sul com os Guarani Kaiowá. Então, a luta do indígena nordestino é a luta da existência e re-existência.
Muitas pessoas me perguntam: “Casé, eu não consigo enxergar a cultura indígena na minha cultura e na formação sociocultural brasileira”. Eu digo: “Você não consegue enxergar porque não é pra você enxergar. É para nos inviabilizar, é pra nos silenciar.” Nós, indígenas nordestinos estamos presentes na forma de falar, na forma de comer, nas festas juninas (que eu sempre digo que é uma festa acima de tudo indígena), na forma de ouvir música, de dançar, de dialogar. Muita gente fala: “Eu tenho uma avó pega a laço ou por cachorro”. Eu digo: “Essa sua avó, sua bisavó, é aquela indígena do Nordeste ou de outras faixas de ocupação antiga, que foi retirada da aldeia e foi por vezes violentada. A resistência dos povos indígenas nordestinos é uma das mais belas e mais fortes resistências que existem neste país.
Luta indígena e democracia
Não existe democracia neste país chamado Brasil se não houver respeito aos direitos dos povos originários. Não existe democracia enquanto todas as terras indígenas não forem demarcadas e que tenham garantia de serem demarcadas. Não existe democracia neste país enquanto não se reconhecer que o início dele ocorreu por meio das invasões, da espoliação das terras originais, da escravidão indígena, do estupro das populações indígenas – da tentativa de nos etnocidar. Não existe democracia neste país sem respeitar nossas diferentes formas de resistência e re-existência. Não vai haver democracia neste país enquanto todas as terras originárias não forem demarcadas e os povos indígenas forem respeitados em sua forma de ser.
Democracia e terras indígenas demarcadas é a mesma pauta, não são pautas diferenciadas. Por isso que a gente canta em Olivença:
Oh devolvam nossas terras que essas terras nos pertencem
Pois mataram e ensanguentaram os nossos pobres parentes
Vamos todos nessa marcha pra lembrar o que passou
Nossos antepassados que seu sangue derramou
Awêrê … Kwekatureté! (6)
Notas:
1. Bom dia. Boa tarde e Boa noite… Desejo que esteja tudo bem com todos/todas/todes.
2. Carlos José Ferreira dos Santos. Nem tudo era italiano – São Paulo e pobreza (1890-1915)”, São Paulo, Fapesp; Annablume Editora, 1998.
3. Pierre Clastres. A Sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. Rio de Janeiro, Editora Francisco Alves, 1978.
4. https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022-02/brasil-registra-274-linguas-indigenas-diferentes-faladas-por-305-etnias
5. Foi o que aconteceu com a votação na PL 490, em 30/05/2023, com os deputados federais que votaram a favor de uma PL totalmente contrária aos nossos interesses, que defende o Marco Temporal. Ao votar na PL 450 que agora foi para o Senado e ganhou uma nova numeração e quando ele não decide ele joga para o Congresso e nosso receio é que já aprovado pelos deputados, indo para o Senado, seja aprovado no Senado também.
6. “Salve… Gratidão!”
Newsletter
Mais recentes
Ativismos e democracia: “Ativismo é tirar daquilo que parece não ter nada e colocar onde parece não caber”
Julhin de Tia Lica: O rico artivismo na cultura popular e a permacultura que transformam a vida no sertão de Seridó
"Ativismo é tirar daquilo que parece não ter nada e colocar onde parece não caber", disse Julhin na série Ativismos e Democracia, da Revista Tuíra #4
Eu sou Julio César Silva de Oliveira, tenho 25 anos, mas todo mundo aqui da comunidade onde moro, no povoado Currais Novos, na zona rural de Jardim do Seridó, no Sertão Potiguar, me chama de Julhin de Tia Lica. Tia Lica é assim conhecida minha avó, porque foi professora do ensino infantil na comunidade e marcou a vida de várias gerações. Como no interior sempre você é de “alguém”, carrega os ancestrais no nome, eu sou de Tia Lica. Foi ela quem me ensinou a amar minha terra, meu lugar, minha cultura e o que faço hoje: sou ‘artivista’ de cultura popular, trabalho com aquilo que pesquiso e me atravessa: teatro de João Redondo, Coco, Papangus, Irmandades do Rosário. Inventei até de compor, como síntese dos sentimentos que tenho quando estou fazendo-descobrindo meu lugar.
O artista
Ter nascido na zona rural me proporcionou aprender com a agricultura familiar, estudar numa escola rural; aprendi a ler o mundo a partir do meu chão. Foi com minha mãe que aprendi a amar a terra, e na escola me descobri artista.
Minha primeira brincadeira de João Redondo (teatro de bonecos do Nordeste) foi aos oito anos na escola. Foi na escola que fui apresentado ao teatro, às cantigas. Nessa mesma fase tenho minhas primeiras lembranças da Irmandade do Rosário na procissão, do encanto com os cantadores de coco. Quando entrei na igreja protestante, tudo aquilo de cultura popular que eu via e vivia foi substituído por outras formas de arte mais aceitas pela igreja, e isso de forma inconsciente e velada. Aquilo que via de cultura popular na igreja sempre era mostrado de forma caricata e com o intuito de evangelizar pessoas. Com isso me distanciei da minha arte e da minha própria identidade. Mas foi justamente nesse lugar, a igreja, que abri os meus olhos quanto à minha própria necessidade de autoafirmação e retomada da identidade perdida.
Culto, cultura e cultivo
Foi olhando pra pessoa e obra de Jesus que entendi que mais importante é construir e não destruir, afirmar a beleza do diferente e não subjugar em busca de tornar o diferente um igual, fazer pontes e não muros; aprendi que a vida é integral e deve ser vista de forma holística. Essa retomada precisava ser feita de outra forma. Comecei a militar dentro da própria igreja sobre decolonialidade, racismo e suas múltiplas faces, diálogo inter-religioso, religação com o corpo da terra, ancestralidade e tudo aquilo que precisamos deixar e aquilo que não devemos abrir mão para seguir e ter uma fé saudável. Hoje sintetizo essa luta, que é tão abrangente e que tem tantas formas, em três pilares: culto, cultura e cultivo. Começamos, minha companheira e eu, um centro de permacultura no meio do Sertão do Seridó, chamado Agrofloresta Seridó, onde trabalhamos esses três eixos (culto, cultura e cultivo) e pensamos a integração dos saberes acadêmicos com os saberes ancestrais, desde a arquitetura até a arte, promovendo encontros e festivais na cidade e na zona rural.
Se a postura da religião fosse realmente de conservação da vida, principalmente quando falamos desse direito supremo, vida não seria um problema, mas uma solução. Aquilo que vemos, ouvimos e lemos todos os dias, é em grande parte resultado da conservação de uma cultura de morte, fruto de fundamentalismo religioso, que assassina corpos e conhecimentos existentes que são produtores de vida.
Quando esses princípios tão preciosos do existir enquanto comunidade humana são feridos, muitas vezes por pessoas do meu lado, da minha religião, que cometem essas violências, ao mesmo tempo que sou ferido, sofro e choro, sou impulsionado e instigado a permanecer e canalizar a dor e a raiva que sinto, para pensar: como posso gerar transformação e mudança de mente aqui, no meu entorno? Então, amantes e companheiras, a arte e a educação popular saltam.

Artivismo
Na verdade não consigo desassociar o meu ativismo “permacultural” da arte. Ela é minha voz, minhas mãos, minhas pernas. Parafraseando o grande poeta Pinto do Monteiro: “é ela quem tira de onde não tem, pra botar aonde não cabe”, e é exatamente esse o meu ativismo: tirar daquilo que parece não ter nada e colocar onde parece não caber.
Fazemos, sim, denúncias do que já nos está posto. Na minha primeira obra artística, chamada “Auto do Céu” – álbum musical (1) e livro lançados na pandemia em todas as plataformas digitais -, critico a loucura insustentável dos modos de vida dos grandes centros e, como nós, pessoas de cultura oral, sofremos nesses lugares. Pela poesia de cordel, pelo audiovisual em documentários, mostramos o outro lado das energias renováveis que nos assolam aqui no Sertão. Tudo isso é importante, mas só com uma identidade forte e restaurada é que nosso povo tem poder de reagir.
Pensando nisso eu idealizei o Festival Sankofa: Encontro dos Reinos Pretos do Rio Grande do Norte. O encontro reúne as três manifestações culturais de matriz africana que têm reis e rainhas do nosso estado (Congos, Maracatu e Irmandades do Rosário) e acontece sempre no Quilombo da Boa Vista. Pela manhã, com as oficinas voltadas à identidade, e em Jardim do Seridó, à noite, com um grande cortejo que leva até a Casa do Rosário, onde temos uma noite repleta de atrações que valorizam a identidade do povo preto do Seridó. O encontro tem também uma forte contribuição para a região no campo do diálogo interreligioso. Em 2022, pela primeira vez, pais e mães de santo andaram livremente com seus trajes, cantando para seus orixás na cidade do Seridó, e esse foi um momento de muita fé e de muito respeito.
Não há como separar a arte do ativismo, pois uma não existe sem a outra: Artivismo.
Volta
Quebrou-se a barra, o Sol se alevantou
Mas o que eu mais quero é vê-lo se pôr
E ver na parede os ponteiros girar
O tempo correr e depressa passar
Em todos os cantos só vejo você
Aperte esse passo que eu quero te ver
A prece que eu faço é pra não morrer
Só no teu abraço é que eu posso viver
Há, quando tu voltar praqui
Tudo vai ser diferente
Não vai ter tempo pra choro
Só pra se mostrar os dentes
Quando anoiteceu, dormi
E o tempo foi embora sem me avisar
Quando eu me avexei, o tempo parou
Volte logo que eu já tô agoniado
Meu peito tá apertado com saudade de você
Me solte aqui que eu tô preso nesse mundé
Fraco feito um bezerro novo sem puder ficar de pé
Esse meu mundo tá em tempo de explodir
Já tá apui de cuspir o povo que mora nele
É violência, injustiça, incoerência
O povo morre de doença e eles deitado na rede
E eternamente tão deitado em berço esplêndido
E o povo aqui morrendo se ter nem onde cair
O sangue escorre da pista e o povo grita justiça
E assim seguem na vida sem motivos pra sorrir
E volte logo pois só olhando em seu rosto
É que sai esse desgosto e que eu posso invivêscer
Enquanto isso sigo estancado a sangria
Falando da alegria que só existe em você
Ah, quando o céu no chão cair
Como um verso de repente
E um curisco ressurgir
Os sonhos de antigamente
Quando anoiteceu, dormi
E o tempo foi embora sem me avisar
Quando eu me avexei, o tempo parou
É a derradeira viagem desse soldado
Futuro
Existem lutas que pegam a gente de forma mais profunda. Ser artivista, como gosto de dizer, numa região como o Seridó, pressupõe muitas dores, sentimento de solidão, abandono… É ver a coisa toda acontecendo e não ter para quem contar, a quem recorrer, é ver caminhões de madeira (muitas vezes ilegal) serem queimados, parques eólicos e fotovoltaicos serem construídos indiscriminadamente nas nossas serras, causando tantos impactos não só no meio ambiente mas na vida das comunidades, nas suas culturas… É tentar promover ações e não achar os meios e os recursos.
É angustiante olhar pra tudo isso e pensar: o que vai virar isso aqui? Mas acredito que as sementes plantadas frutificam; acredito que, com esse trabalho de base que fazemos, conseguimos despertar algumas pessoas que acabam por se tornar pessoas chaves nas lutas.
O processo de retomada indígena Tarairiú (2) que estamos vivendo, por exemplo, tem me gerado muita expectativa, pois é um marco importantíssimo de articulação, ou desarticulação na verdade, desse sistema colonial em que vivemos aqui, pois ele abrange todas as áreas e permeia todos os problemas socioambientais que vivemos no nosso território.
A luta no sertão do Seridó e a democracia
TEXTO
Julhin de Tia Lica
Artista, educador popular, permacultor
publicado em
- 29/10/2024
Temas
Uma das marcas para sabermos se a democracia chegou é a liberdade e soberania dos territórios – e não temos isso aqui ainda. Costumo dizer que o Seridó é um dos lugares onde a colonização mais deu certo: terra altamente degradada com um dos maiores índices de desertificação do Brasil e, ainda assim, em estado de avanço dessa condição por causa das indústrias de telhas e tijolos, carvão e, agora mais recentemente, as usinas eólicas e fotovoltaicas. Os povos indígenas tidos com exterminados, apesar de existirem (mas não se reconhecerem como tal); comunidades quilombolas enfraquecidas quanto às suas identidades e tradições; classe trabalhadora submissa, acrítica e conformada com as tantas explorações do capital oligárquico manifesto nas grandes empresas e na política local… Toda essa análise da conjuntura seridoense causa cansaço e dor, pois as raízes da colonização estão fincadas muito fundas no nosso território.
A maior ferramenta para quebrar a colonialidade é o trabalho de restauração da identidade pela arte e pela educação popular. Buscar uma sensibilização do nosso povo quanto ao seu entorno e condição, tentando de alguma forma tirar as escamas dos olhos das nossas comunidades, como um sonho que tem aos pouquinhos se tornado possível pela arte e pela educação popular.
Esperamos muito que mais pra frente possamos olhar pra trás, pra toda essa história e possamos ver que o fruto dessa luta foi um território vivo, que valoriza a pluralidade, com um povo que entendeu a necessidade de restaurar sua identidade e sua terra.
Notas:
1. Disponível em: https://open.spotify.com/intl-pt/album/2fFN2uMrW1z4FErdXWWaFq?autoplay=true
2. Tarairiú é uma das quatro nações indígenas que passaram por um processo de apagamento histórico no estado do Rio Grande do Norte. A partir da primeira década do século XXI, passa a acontecer um movimento mais massivo pelo reconhecimento da identidade tarairiú no estado.
Newsletter
Mais recentes
Ativismos e democracia: “Além da participação mínima que é o voto, o nível acima é do ativismo, que ainda não é, mas pode chegar a ser, o da militância”
Chico Whitaker: Uma reflexão sobre fazer político, da sobre a política partidária e do ativismo antinuclear
"Além da participação mínima que é o voto, o nível acima é do ativismo, que ainda não é, mas pode chegar a ser, o da militância", disse o arquiteto na série Ativismos e Democracia da Revista Tuíra #04
Francisco Whitaker, nascido em São Paulo em 1931, foi diretor de planejamento da reforma agrária no Governo João Goulart, lutou contra a ditadura militar, e partiu para o exílio em 1966. Voltou ao país em 1981. Com atuação política fortemente vinculada às comunidades eclesiais de base, foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores por dois mandatos (entre 1988 e 1996) e líder do governo de Luíza Erundina na Câmara Municipal de São Paulo. É um dos criadores do Fórum Social Mundial(2001).
Quando eu me decidi a passar a ser “ativista”, digamos, eu tinha décadas de atividade política em diferentes níveis. Foi uma decisão que tomei num certo momento da vida, quando deixei de lado a atividade profissional técnica e resolvi me dedicar à política – à participação política na linha da formação. Penso que a formação é um elemento fundamental: que as pessoas entendam mais no que elas estão metidas, no que significa a atividade política. Eu tenho 40 anos disso. Eu diria que o ativismo é muito recente; eu mesmo comecei a usar a expressão porque para mim foi muito prático. Lá pelas tantas me perguntavam “O que você é?”. O que é que sou eu? Eu então me chamei de especialista em ideias gerais. Eu mexia com tanta coisa, estava metido em tanta coisa que a expressão ideias gerais servia. Eu não sou acadêmico, não sou cientista, não sou sociólogo. Eu sou um planejador, mais do que arquiteto. Isso me ajuda até hoje, é evidente, faz parte da formação. Mas a melhor palavra, a que pegou, é ativista. Agora, quando aparece alguém me pedindo para enviar um mini currículo, eu digo, coloca aí: ativista social.
Níveis da participação política
Há diferentes tipos de participação política. Eu começaria pela participação passiva, importante porque é a forma de participação da maioria das pessoas. Por participarem passivamente e por se recusarem, por exemplo, seja a votar, seja a pensar nos outros, seja a participar de atividades e movimentos etc, caem naquele velho problema, expresso em uma frase, que eu repito sempre, do cardeal Paulo Evaristo Arns: “há diferentes formas de participar da política e não participar da política é a pior delas”. Evidentemente isso significa se omitir diante do processo coletivo, inclusive para que as decisões mais adequadas para o bem comum possam ser tomadas. Se você se omite, você deixa acontecer: seja o que Deus quiser, às vezes seja o que o Diabo quiser. Deixar de participar da política, o que se propunha numa certa época à Igreja, é a pior forma.
O segundo nível de participação seria, no mínimo, na democracia: o voto. Trata-se de um poder enorme. Na verdade, esses caras que estão lá em cima foram colocados pela gente, aliás, uma quantidade enorme de pessoas que não participam, mas, na hora de votar, votam (1). Por isso, é preciso abrir espaço para, por exemplo, a necessidade de que se tenha um Legislativo minimamente preparado para a responsabilidade que tem, sendo que o Legislativo – eu descobri isso de maneira muito clara na minha passagem pela Câmara Municipal [de São Paulo] – tem um poder enorme. O Executivo não pode mexer uma palha sem autorização legal. Se o Legislativo for composto por oportunistas compráveis, estamos perdidos. E é isso que acontece no Brasil. O nível do Legislativo, especialmente o federal, é composto por pessoas que veem a atividade política como uma grande boquinha, uma mera atividade para ganhar dinheiro. Elas pensam em se eleger para, depois, lá dentro, poder chantagear o prefeito, o governador, o presidente, ou as empresas que dependem de decisões legislativas. O mecanismo é esse.
Então, primeiro é a participação passiva; em seguida, a participação ativa de pelo menos eleger pessoas. Depois disso se dá um salto: começa a participação ativa, em movimentos, entrando-se assim no patamar da militância. Significa se assumir como militante de causas, de programas, de projetos, de campanhas das pessoas que precisam ser eleitas. Há ainda o quarto nível de participação, que os picaretas mais almejam, que é a participação no poder político institucional: mandatos legislativos ou cargos no Executivo, na máquina do Estado de forma geral.
Onde o ativismo se situa? Situa-se exatamente na passagem ao nível da militância. Eu quase diria: além da participação mínima que é o voto, o nível acima é do ativismo, que ainda não é, mas pode chegar a ser, o da militância.
Das comunidades eclesiais de base à Câmara de Vereadores ao ativismo
A primeira atividade que fiz, depois que voltei de um exílio de 15 anos, foi trabalhar com comunidades de base, e depois com o desemprego, na grande crise de 1983, e que levou a Igreja a se ocupar muito dos desempregados. Nós criamos uma associação, que não era de desempregados, mas de solidariedade no desemprego. Uma associação que tinha católicos, protestantes e espíritas – juntos –, que organizava grupos de desempregados junto com empregados no que chamávamos de grupos de solidariedade. Mil coisas se desenvolveram a partir daí. Durante quatro anos trabalhei nesse negócio. O que era isso? No fundo, um aprendizado da cooperação, da colaboração, da ajuda mútua, o que já é, do ponto de vista educativo, a negação do princípio motor do sistema que nos domina – a competição. Substituir a competição dos desempregados por empregos ou na vida pela cooperação em grupos – esse era o princípio da comunidade eclesial de base. Formar grupos que se reúnem com objetivo comum – de resolver, todos juntos, um determinado problema. Claro, nesse processo podemos ter engajamento político, engajamento em movimentos etc. Não há uma fronteira precisa.
Quer dizer, há fronteira para quem escolhe uma ou outra posição de luta. Por exemplo, para mim houve uma fronteira. Eu fiquei na Câmara Municipal de São Paulo durante dois mandatos. Me candidatei a deputado federal no meio do segundo mandato, ainda bem que não fui eleito (virei suplente). Se eu tivesse sido eleito, eu morreria, porque a luta lá é bravíssima. O sofrimento, o que a gente tem de engolir de sapo, é uma loucura. Eu vivi um pouco isso como vereador, e fiz um balanço no final. Eu estava na hora de resolver sobre um terceiro mandato. Pelo que contam os meus amigos, eu poderia ser eleito tranquilamente. No entanto, na hora de decidir, eu fiz um balanço econômico, de custo-benefício. E concluí que o custo do trabalho na Câmara Municipal, em meio à maioria que não estava lá para pensar no bem comum – passei pelo governo de Luiza Erundina e depois pelo governo do Maluf (que mandou um recado para a bancada do PT: “quanto vocês custam?”), tive em certo momento de andar com guarda-costas por conta de uma CPI da qual fui relator –, não valia a pena.
O balanço era: esse tipo de sofrimento em relação a qual resultado? Não mudou nada, digamos; não cassamos quem deveria ter sido cassado; arrebentamos com esquemas de corrupção que estavam montados lá, mas eles depois se acertaram. Quando o Maluf ganhou [a eleição de 1992 em São Paulo], aconteceu o que está acontecendo com o [presidente da Câmara dos Deputados Arthur] Lira: acerta com ele o que deve ser aprovado e o que não deve ser aprovado, não tem discussão de nada, tem acerto prévio na hora da votação com o líder, vota e pronto. É muito desgastante. Isso me fez concluir o seguinte: como político que está preocupado com o interesse coletivo, eu não tenho lugar aqui.
Durante meus dois mandatos, fiz muita coisa do ponto de vista da formação. Havia grupos espalhados pela cidade inteira fazendo reunião, mas falei: “olha, não dá; eu vou acabar me esvaindo aqui sem resultados”. Onde estava a ação política possível? Pensei: vou voltar para os movimentos sociais, para os movimentos de que eu tinha participado antes de ser eleito vereador, como nos processos de participação popular na Constituinte (que produziu as emendas populares, um marco histórico), aquilo, sim, enchia o coração da gente. Então não me candidatei a um terceiro mandato. Também me afastei da vida partidária, porque naquele tempo, ela já tinha me dado uma porção de desgostos, e o próprio compromisso com a vida partidária se tornou impossível. Saí do partido para continuar somente no nível do ativismo – que visa o coletivo, mas trabalha de forma diferente da militância dos movimentos – e virei um militante sem partido, de causas sociais. Nessa eu me tornei literalmente ativista, na luta antinuclear, no Fórum Social Mundial (FSM); entrei em um monte de coisas que encheram a minha vida, me dando muito mais satisfação e tranquilidade para viver e fazer o que era possível.
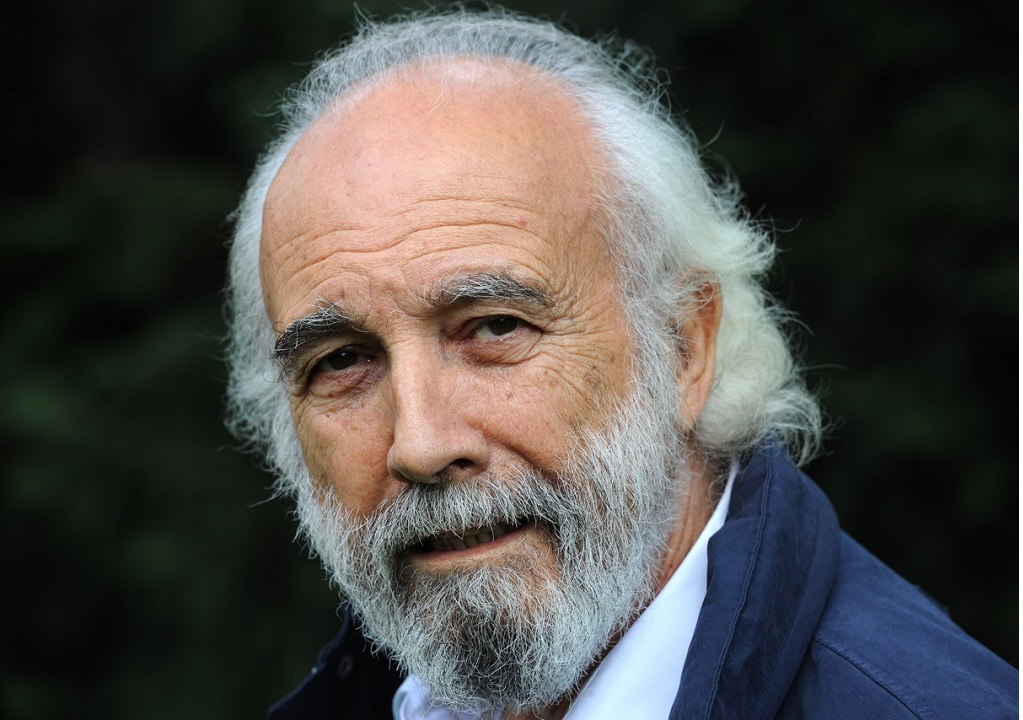
A agenda conta com oito pilares essenciais à integridade do sistema democrático brasileiro. São elas:
1- Despolitização e democratização das forças de segurança
2 - Equilíbrio entre os poderes da república
3 - Defesa e fortalecimento do sistema eleitoral
4 - Responsabilização e memória dos crimes contra a democracia
5 - Participação social
6 - Educação cidadã
7 - Qualificação e promoção do debate público
8 - Combate à rede internacional de autoritarismo
Poder e serviço
Quando a luta da gente dentro dos partidos, dentro dos próprios movimentos e dentro da instituição é vista como uma carreira, que é passar de um nível para outro, subindo na hierarquia do poder (isto é, uma corrida para ter mais poder); quando vira isso, a pessoa não se dá conta do que ela deixou para trás: o ativismo, que visa outra coisa, que não visa ter poder, visa aumentar o poder dos que não tem. Eu pensaria o ativismo dentro dessa linha, que implica em considerar que o poder pode ser usado de duas formas: fazer o seu poder crescer cada vez mais ou o fazer o poder estar a serviço da autonomia dos outros, a serviço do poder dos outros. É uma luta absolutamente contra a corrente.
Que papel teria o ativismo na democracia em sua essência? Trabalhar pelo bem comum sem pensar em seguir carreiras ou em realizar projetos pessoais. O projeto pessoal vai ser feito na medida das circunstâncias. O ativista tem que estar disponível, disponível para acertar, tem que ser capaz de deixar coisas de lado e de pegar outras, não pela necessidade da própria carreira ou satisfação, mas em função da necessidade da luta.
A natureza do ativismo
O ativismo, por exemplo, é o que se encarrega da formação da política. O ativista é, fundamentalmente, um formador político. Ele, encontrando pessoas, criando oportunidades, fazendo surgir possibilidades e trazendo gente para as lutas, inclusive para que se engajem como militantes em partidos e em movimentos, faz uma atividade de abertura, de fazer as pessoas acordarem para a política e para o seu poder. Acordar para, depois, através da sua militância e participação, fazer pressão sobre determinadas decisões, para que sejam voltadas para o bem comum e não voltadas para interesses particulares.
O ativismo, eu diria, é um tipo de militância na ação de animação, de articulações das pessoas em torno de objetivos comuns visando o bem comum.
Nuclear Não!
TEXTO
Chico Whitaker
Arquiteto, ativista social e antinuclear
publicado em
- 29/10/2024
Temas
Dez anos depois de ajudar a criar o Fórum Social Mundial, vem um cidadão aqui na minha casa, o Alfredo Bosi, professor de literatura, junto com a mulher dele, Eclea. Dizia: “Nós temos duas ou três usinas funcionando… Você viu o que aconteceu em Fukushima (2)? Se acontecer em São Paulo, o que aconteceu lá… Nós precisamos fazer alguma coisa.” Nos anos 1980, tentaram construir uma usina na Juréia e eles fizeram parte do movimento. Não pode passar em brancas nuvens o que aconteceu em Fukushima, disseram. Então, por causa disso, eu entrei na pauta, comecei a tentar entender, e me tornei também um ativista antinuclear.
Eu agora sou antinuclear ferrenho, convicto. As usinas são uma forma disfarçada de se aprofundar na tecnologia do urânio para fazer bombas atômicas. As usinas têm uma característica que pouca gente sabe: sua função é gerar eletricidade, só que elas têm um subproduto que é o resultado da operação no reator nuclear, um tipo de elemento que mal existia na natureza. Essa história de energia elétrica é a balela que foi criada para permitir a multiplicação das usinas. Dentro dos reatores, 97% dos átomos de urânio não são físseis e se transformam em plutônio, o mais radioativo dos elementos radioativos. E – como foi testado em Nagasaki – o plutônio é o melhor combustível para as bombas.
Por apenas dois mandatos legislativos no Brasil
Uma das minhas “causas perdidas” é a luta pela limitação da permanência no Legislativo por no máximo dois mandatos. No primeiro mandato, a pessoa aprenderia; no segundo, faria sem se preocupar com a reeleição; faria o que precisa ser feito. Uma das doenças do Legislativo é a necessidade de se reeleger, e a pessoa adapta todas as suas atividades, todos as suas posições à busca por votos. Daí entra na corrupção, para conseguir dinheiro para a campanha e assim por diante. Um sujeito dizia: “Aquilo é uma pinguinha muito boa. A gente se vicia…”
Como é hoje? Qual é o seguimento da coisa? É subir, subir até chegar à cúpula. A política, do jeito que funciona, não como ela é, mas como ela funciona, é a política da esperteza. É a política do golpinho. A política que se faz na prática é a política velha, contra a qual o FSM tentou ser uma alternativa e uma mudança. A política velha é a política do golpe. O mais esperto é o que sabe passar a rasteira mais rápido, ser mais oportunista, que sabe voltar o cavalo que passou na frente dele, que têm a visão rápida da oportunidade de se sair vencedor. Os que não se aproveitam as chances que lhe são dadas para ganhar dinheiro são considerados bobões.
Eu imagino a quantidade de ativistas muito bons que nós teríamos se os nossos deputados federais, estaduais, vereadores fixassem esse objetivo [do limite de dois mandatos] e, uma vez saindo, passassem a ser assessores dos novos parlamentares e de movimentos sociais. Imagine a riqueza, a quantidade de ex-parlamentares, com experiência política, podendo ajudar. Quando voltei do exílio, aprendi, na imersão nas comunidades eclesiais de base, que elas tinham coordenadores com mandato limitado e que, quando saíam, viravam auxiliares do coordenador seguinte. Como regra. Imagine se a gente conseguisse. O PT, do qual eu participava, cogitou em levar essa bandeira dos dois mandatos, mas com o tempo ela caiu sozinha.
O abandono do trabalho de base
Nas análises sobre o que aconteceu em 2018 [com a eleição de Bolsonaro], uma das razões apontadas muito claramente é o abandono pelos partidos de esquerda do trabalho de educação, de formação, de nucleação que existia no começo do PT de forma intensa (aliás, essa era uma das teses principais do Plínio de Arruda Sampaio dentro do partido, à época). Os núcleos propiciavam as ocasiões de discutir, de debater, de aprender, de crescer politicamente e de atuar de forma mais eficaz. Houve um abandono total desse projeto. O PT se burocratizou, a máquina se tornou uma máquina de burocratas, dentro dela se instalou o sistema de poder e de luta pelo poder, num processo político extremamente piramidal. Isso por um lado. De outro lado, grande parte das lideranças dos movimentos sociais foram chamadas para reforçar a base do governo. Lá elas encontraram uma máquina totalmente burocratizada e de comportamento burocrático e oportunista. Dentro dessa máquina tem gente que quer fazer as coisas, mudar, disposta, inclusive militante, capaz de se sacrificar no trabalho. Mas os movimentos sociais ficaram todos descabeçados, ficaram entregues a pessoas que se burocratizaram.
Um militante de um partido pode ser também um ativista político. Um ativista de movimento pode ser também um militante. Você pode estar numa atividade partidária, mas você pode também estar numa atividade junto à sociedade, na nucleação da sociedade, na elevação do nível político. Pensando na minha experiência pessoal, quando chegava uma pessoa nova, eu não perguntava qual o partido político dela, nem dizia “saia do seu partido para vir para cá”. Ao contrário, a proposta era: tente introduzir no seu partido essas ideias.
No fundo o trabalho do ativista é – a expressão não é boa – de baixo para cima da sociedade. Pode até ser de cima para baixo, mas é especialmente um trabalho de animação, de levar ideias, de levar conceitos, de levar a vontade de mudar as coisas.
O ativismo sem democracia
Em regimes autoritários, o ativismo passa a ser mais perigoso. Mas esse ativismo é que pode minar as bases do autoritarismo. Ele valoriza as pessoas e as comunidades diante de poderes que são autocráticos, que definem o que tem que ser para todos. Eu não vejo a impossibilidade do ativismo mais perigoso – talvez seja igualmente necessário numa etapa, até que se consiga a retomada democrática. Isso tem muito a ver com a cultura geral. O problema da competição não é só uma regrinha de jogo, é também uma cultura. Nessa sociedade somos educados desde criancinhas a competir. Por isso, mesmo num regime que não é autoritário é também muito duro. A democracia é incompleta, se combina com aspectos como racismo, com misoginia, com todos esses, digamos, desvirtuamentos da relação social.
Em regimes autocráticos, a imagem da democracia pode ajudar. Ainda que nossa democracia seja muito incompleta e muito mambembe, os regimes autoritários não chegaram nem nesse ponto. Há espaço para uma luta pela democracia como princípio básico, como regra básica. Depois, dentro dela, vamos melhorar, vamos fazer com que seja efetiva: democracia social, democracia econômica, democracia racial, igualdade. Um princípio, aliás, das Nações Unidas desde 1945: que todos nasçam livres e iguais em direitos e dignidade. O mundo ainda luta para que todos nasçam livres e iguais em direitos e dignidade. A que distância estamos! Que caminhada temos pela nossa frente!
Horizontalidade e não-competição
A horizontalidade é essencial, porque a competição leva como resultado à verticalização. Um dos grandes princípios do Fórum Social Mundial era ser um espaço horizontal. Quem lutava no Fórum para ele se transformar em movimento era todo mundo que tinha um pensamento verticalizado. A horizontalidade é um dos princípios da nova prática politica, o que não significa que não existam pessoas que possam puxar mais que os outros, porque têm mais capacidade de comunicação ou veem as coisas mais rapidamente.
Eu participo de um grupo que reuniu os antigos criadores do Fórum Social Mundial (FSM). Não todos, mas uns 10 ou 12 que sobraram, fiéis à perspectiva de fazer o FMS se desenvolver. Lá estão os mais antigos (como Oded Grajew), alguns que vieram depois e gente que não estava no FSM, mas foi sendo agregada. Somos todos ativistas de diferentes campos. Demos o nome de Coletivo 660, porque o prédio do primeiro secretariado do FSM ficava na Rua General Jardim, 660. Nos reunimos uma vez por semana. O mais interessante desse grupo é que dentro dele não existe absolutamente competição. Nós superamos isso. Quer dizer, nós introjetamos totalmente a prática política que o Fórum propõe: não disputemos, não lutemos por poder aqui dentro, vamos nos reconhecer mutuamente, descobrir o que os outros fazem, aprender com eles, encontrar convergências e nos articularmos para outras ações. Nós passamos a bola; por mais importante que seja a bola, passamos a bola para o outro. Nós confiamos e sabemos que ninguém vai dar um golpe em cima do outro. Eu estou num outro grupo, Todos pelo Bem Comum, e é a mesma coisa: não tem competição entre nós.
Notas:
1. À época do depoimento, Jair Bolsonaro ocupava a presidência da República.
2. Desastre nuclear desencadeado por um terremoto e um tsunami na Central Nuclear de Fukushima, no Japão, em 11 de março de 2011, quando três reatores da usina colapsaram.
Newsletter
Mais recentes
Do interior dos interiores: bastidores da laive
Do interior dos interiores: bastidores da laive
Um interior guarda muitos interiores. Provocado pelas tantas experiências no território quilombola do Vão Grande, alguns textos narram encontros escritos por quem se encontrou
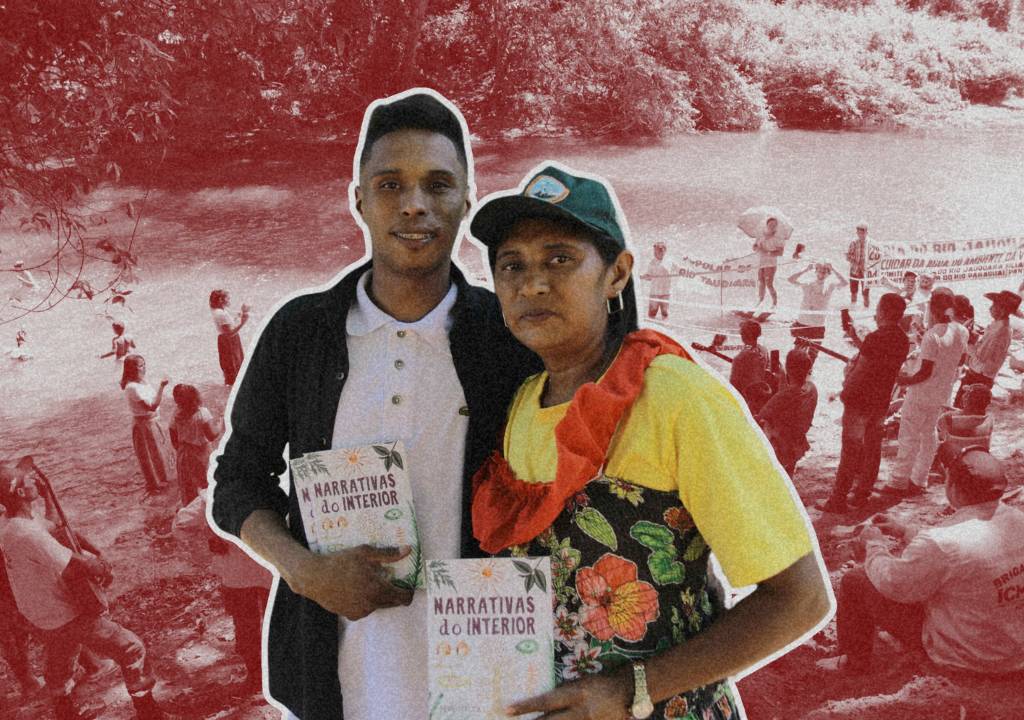
Aconteceu no dia 19 de agosto de 2022, o lançamento do livro Narrativas do Interior. Aconteceu em forma da laive. Laive é um neologismo desses tempos da jovem internete. Essa tal de internete que chegou chegando. Por mais incrível que possa parecer, sobretudo para os mais jovens, o mundo já existia (e até funcionava) antes da internete. Ela, a internete, chegou, aproximou e afastou, acelerou. Mexe e remexe, sacode, balança. Lança. Assim realizamos a laive de lançamento, uma lançalaive: lançamento em modo laive. Lançamento e entrelaçamento de narrativas e interiores.
Tal acontecimento exigiu grande preparação. Para tudo dar certinho, afinal era muita gente envolvida, muita história, narrativas e interiores. Um jovem quilombola se experimentando escritor das narrativas colhidas desde menino numa terra encantada: o território quilombola do Vão Grande.
Desconhecido
Des_conhecido
Des conhecido
Se_conhecendo
Conhecendo
Conhe_sendo
Sendo conhecido
Devagar vamos conhecendo esta terra e seu povo em ações de fazer(-se) comunidade, de “produção do comum” no dizer dos dotô, “que era tudo comum” no palavreado do quilombo. Aqui no território acompanhamos de perto a preparação da laive. A laive lança o livro, lança para o mundo um livro. Um livro que lança para o mundo as narrativas e, com as narrativas, narradores e narradoras, gente que conta causos, gente que faz coisas, gente que cria objetos e, ao criar objetos, cria gentes e modos de vida. Gente que luta, luta pela terra, gente que labuta, labuta pela vida.
Gente que faz viola de cocho, gente que toca viola de cocho.
Gente que faz ganzá, gente que toca ganzá.
Gente que dança e que reza, gente que preza seus santos e santas, gente de fé.
Gente que tece, gente que fia, gente que cria.
Gente que vive da terra, que cuida da terra, gente que traz gente para esta terra.
Gente que tira remédio das plantas
Gente que canta.
Gente que segura o céu, gente que segura na mão uma vida inteira:
e viva a parteira!!!
viva
viva
Gente que luta pelo rio
no calor e no frio
o rio onde o jaú quara na beira
luta de uma vida inteira
Rio livre, vivo e sem fronteira
Jauquara, o rio emoção. Apesar do frio.
Frio.
Certamente o dia mais frio do ano aqui neste mato grosso e trêmulo de frio.
Bom mesmo foi ribuçar na festa de aniversário do João Batista que aconteceu na casa do pai-véio Chico. Para este povo quilombola, o verbo ribuçar significa “ficar bem quentinho debaixo de roupa quente ou de cobertores”. Pensei em ribuçar na fogueira ali no barraquinho do terreno, mas não posso usar este verbo. Então ficamos ali aproveitando o calor da fogueira mesmo e brincando com as pequenas Luiza e Maria. Ribuçar veio depois, debaixo dos cobertores do Programa Aconchego. Ahâã?
No dia e na hora marcados, estávamos lá. Tudo preparado, computador ligado e a internete funcionando. Caminhando do jeitinho que gostaríamos exceto pelo vento anunciado pela chuva do dia anterior e do frio mais forte do ano.
Rio do frio
Frio, muito frio neste Mato Grosso.
Por mais incrível que possa parecer, passamos frio no estado do Mato Grosso.
Até o último momento, Lindalva passava o café para receber parentes. Um livro que narra os interiores. Mas que interiores?
Os parente tudo chegando: Ditos, Tonhos, Clemente, Júnio, Nenê…
Uma laive que lança interiores merece que os interiores estejam na laive. E estavam ali posicionados no plano da câmera. Ali no interior do buraquinho (da câmera), os interiores narrados nas Narrativas.
Estavam ali: Dito 1000, Dito 400, Dito Baiano, Dito Vitor, Antônio, Claudenilson, Larissa, Ivo, Clemente, Francisco, Zacarias, Lindalva, Junior, Pedro, Mila e mais alguéns que talvez me escapem às memórias. Gente muito interessada, gente muito atenta aos acontecimentos do livro e da laive. Talvez um inédito inaugura aquele momento meio mágico, meio místico, meio mítico. Estávamos ali, pouca gente acostumada com laive, talvez apenas eu, Mariana Lacerda e Pedro Paulo porque certamente Pedro Silva, o escritor inaugural inaugurando uma lançalaive e se inaugurando nela. Posicionamos o lepitopi sobre a mesa de forma que o vento não prejudicasse a tela. Diante dela, Pedro Paulo, que assina Pedro Silva como reforço no esforço do nome carregamento das tradições e narrativas de interiores. Do lado direito, Lindalva, sua mãe. Do lado esquerdo, pai-véio Chico, seu avô.
De nossa parte, tudo começou em 2019, mais precisamente em 28 de abril como canta Dito Ilino, o Dito Ilino (Dito Baiano)
RENASCEU ENTRE AS COLINAS / SUAS ÁGUAS SEM IGUAL / CORTANDO SERRA E MONTANHA / COM DESTINO AO PANTANAL / TRAZENDO ESPERANÇA E VIDA / PARA MUITOS CORAÇÕES / SEU EXISTIR É UMA HERANÇA PRA FUTURAS GERAÇÕES
RIO JAUQUARA, RIO JAUQUARA / FAÇO AQUI MINHA HOMENAGEM PRA ESSAS ÁGUAS QUE NÃO PÁRA / RIO JAUQUARA, RIO JAUQUARA / SUAS ÁGUAS COR DE ANIL / DEIXO AQUI MINHA HOMENAGEM: 28 DE ABRIL. DEIXO AQUI MINHA HOMENAGEM: 28 DE ABRIL.
Muitos olhares atentos à tela e ao buraquinho de vrido que fica em cima dela, que os sabido chama de câmera. Dois olhares atentos aos muitos olhares: enquanto a laive rolava, Mariana, “nossa dotora devogada”, dedicada, observa as expressões, olhares e percebe lágrimas. Lágrimas contidas ou corridas. E percebe gente se fazendo rio, gente vertendo, vertedoura de fortes emoções em forma de lágrimas que, pingando, alimentam a terra e o lençol freático. Gente do território quilombola, gente território de passagem de afetos alegres que metabolizam a água do rio Jauquara em corpos afetivos e, na forma de lágrima, devolvem para o rio a água limpíssima, água emocionada:
“estou muito orgulhoso de tudo isso. Obrigado pra você que agora considero filho meu também, obrigado por ajudar esse meu neto a escrever esse livro que fala de nossa gente, de nossa terra, de nossa tradição. Hoje eu me sinto com o dever cumprido. Eu que nunca pensei em chegar tão longe nessa vida…”, disse o seu Francisco.
A dotôra adevogada vê no olhar do seu Francisco muita emoção, respeito, carinho. Acho que pouca gente viu isso porque enxergar exige sensibilidade. Estava ali, tudo ali naquele rosto marcado pelo tempo, marcado pela vida. Seu Francisco, o pai-véio, fez versos para este momento especial. Sua canção diz assim:
OLHA MEU PEDRO PAULO / ESSES VERSO É PRA VOCÊ / MAS É VERDADE
COM TODAS INTELIGÊNCIA, ENTÃO / EU QUERO É TE AGRADECER / MAS É VERDADE / MAS EU QUE NASCI PRA PADECER / NESSE MUNDO DE MEU DEUS / MÃE, MAS NÃO HÁ DE SER NADA, NÃO.
Tamarindando na laive
No Vão Grande o tamarindeiro tem propriedades medicinais. Dessa medicina que acalma a alma: a_calma_a_alma
Aqui não se aceita barragem. Barragem é como o Vão Grande denomina uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH. Em coro de vozes, gritam:
PCH, aqui não!
ou
Barragem, aqui não!
Nos bastidores da laive, percebemos uma nuance emocional: no momento de muita emoção, recorre-se ao tamarindo. Para segurar o choro, Tonho disse que ia até ali fora para comer um tamarindo. Tamarindo costumam ser frutas azedinhas mas, segundo o Tonho e o Nenê, o tamarineiro lá da Lindalva é docinho que só. Sair do barraquinho da laive e ir até o tamarineiro era um jeito de conter o choro, um jeito de barrar o rio de lágrimas. Mas aquele não era um tamarineiro qualquer. O encantamento dá ao tamarineiro da Lindalva as propriedades medicinais já mencionadas: acalma a alma. Segura o choro, mas o docinho do tamarindo permite o escoamento da água. Barra mas não barra tanto assim. A lágrima corre na hora de contar da laive, a emoção brota da terra no pé de tamarindo e nos permite ver a fluidez das lágrimas correndo no Tonho também.
Tonho e Chico abastecendo o rio Jauquara.
Chico, Tonho e Lindalva olhos d´água lavando a alma.
Tonho e Chico nascentes do Jauquara.
Mais um pouco da laive
Mas voltemos ao lançalaive. Para tanto, contamos com a ajuda de Milton Nascimento que também lança ao mundo narrativas de interiores das Minas Gerais. Uma canção em particular: “Canções e Momentos”.
HÁ CANÇÕES E HÁ MOMENTOS / QUE EU NÃO SEI COMO EXPLICAR / EM QUE A VOZ É UM INSTRUMENTO / QUE EU NÃO POSSO CONTROLAR / ELA VAI AO INFINITO / ELA AMARRA A TODOS NÓS / E É UM SÓ SENTIMENTO / NA PLATÉIA E NA VOZ
HÁ CANÇÕES E HÁ MOMENTOS / EM QUE A VOZ VEM DA RAIZ / E EU NÃO SEI SE QUANDO TRISTE / OU SE QUANDO SOU FELIZ / EU SÓ SEI QUE HÁ MOMENTOS / QUE SE CASA COM CANÇÃO / DE FAZER TAL CASAMENTO / VIVE A MINHA PROFISSÃO
Nesta canção, Milton diz que a voz é o instrumento do cantor e da cantora. Logo Milton cujo nascimento trouxe ao mundo a voz que Elis Regina considerava divina. Ela disse mais ou menos o seguinte: “Se Deus cantasse, teria a voz de Milton Nascimento”. Pensando com ele, podemos considerar que a voz é também o instrumento de quem fala as palavras que nascem no coração. Podemos considerar o “coração” como a raiz do sentimento que, quando muito forte dilui a fronteira entre tristeza e felicidade, mais ou menos daí pode vir um sentido para a palavra política, para a palavra democracia, sobretudo para a palavra parlamento. Sim, porque no parlamento, uma expressão da política e da democracia, se parlamenta. No idioma francês, parler significa falar. Mas falar o que? mas falar como? falar para quem?
Aqui no território quilombola do Vão Grande a prática da fala é muito presente. Segundo a Ana Mumbuca, nos territórios se fala muito, a transmissão das tradições, dos saberes, a produção dos saberes se dá na forma da palavra falada, da expressão da oralidade. Parlamenta-se e muito aqui. E Pedro Paulo trans_formado em Pedro Silva registra essas palavras nascidas no interior do Brasil, no Mato Grosso, no interior do Quilombo do Vão Grande com sua escrita. Palavra registrada em papel, de alguma forma, imortalizada no papel. Palavras com palavras, palavras que estão ali, uma do ladinho da outra. Palavras aos pares, ímpares, conjunto de palavras. Tudo verdade, tudo verdade. Tudo invenção, portanto, verdade. Invenção e verdade de mãos dadas e dançando São Gonçalo, registradas, cravadas em pedra bruta, em madeira feita papel.
A laive registra palavras faladas e interiores. Do interior do seu Francisco e da finada Benedita, da Lindalva, dos Ditos, dos Tonhos, das rezadeiras e das cumades, do interior de tanta gente “nascida e criada aqui”, de tanta gente que “lutou por esta terra”, que sobreviveu às ameaças, gente que ficou escondida no mato por dias e dias, gente que escapou de facada, de bala, de fogo botado na casa de páia, de gente que venceu “mardição de atraso de vida”, “gente raiz daqui” tipo gente maniva, gente semente de pé de manga, gente ingazeiro, mas também gente ipê-amarelo e florido como no terreno do pai-véio Chico.

Mulheres em luta durante a Marcha das Margaridas de 2023
Foto: Vitória Rodrigues
Territórios interiores
Ao final da laive, um amigo disse: “Ivan, sinto que já podemos morrer. Fizemos uma coisa muito bonita nesta vida”.
“O meu orgulho de ver esse guri escrevendo e levando para bastante lugares esse livro que ele fez através de mim e da avó dele. Grato de ver esse guri educado e cuidando desse bem preparado. Sinto feliz em ver esse meu neto me colocando nesse lugar de liderança nesses assunto de tradição. Peço que ele siga em frente nesse caminho dos estudo dele”. (Francisco, o pai-véio)
“O Pedro falou no livro a respeito do nosso território, de nossa vivência, do nosso palavreado, muita coisa sobre a nossa localidade aqui” (Benedito Ilino)
Claudenilson Bento da Guia, o Nenê, guia nosso olhar. Ele também escreveu:
“A laive do dia 19/08/22 foi muito bom porque Pedro Silva falou umas coisa boa. Ele falou sobre o rio Jauquara. Ele falou como começou o dia do rio Jauquara em um dia lá em Cáceres.
Nessa laive teve até emoção. O Dito Ilino ficou emocionado, quase ninguém viu. Eu vi no rosto dele. Ele fez uma cara de durão mas não segurou umas horas, o rosto dele mostrou. A Lindalva ficou emocionada com os elogios que deram para o Pedro. E o Chico também ficou emocionado com os elogios do Pedro e do vídeo gravado dele quando colocaram (na laive). E, no fim, teve até cururú para o encerramento: Chico tocando viola de cocho, Zacarias e o Dito tocando ganzá”. (texto que está numa folha de poesias, um trabalho da professora Márcia com o tema: a importância do rio Jauquara. Trabalho que desdobrou em uma brincadeira gostosa de ‘ser escritor de poesias’. Nenê tem 12 anos).
***
O sorriso estampado no rosto do Pedro, um sorriso misto de forte emoção e a tensão de falar ao vivo, um sorriso descoberta que aperta o coração, revela a gratidão. Gratidão aos amigos e amigas que caminharam ao lado do Pedro na pesquisa e na escrita, e na laive. E na caminhada do Comitê Popular de Defesa do Rio Jauquara.

Mulheres em luta durante a Marcha das Margaridas de 2023
Foto: Vitória Rodrigues
Do interior dos interiores: benzeção, Bento e a benta
Um tal Antônio
Um certo tio
Num certo dia de julho naquele ano da graça de 2022.
Um tal Bento
Bento primeiro, Bento segundo, Bento terceiro
Bento, bento: re_Bento.
Rebentou
A rebenta: mais uma benta na família Bento.
O carro parou:
“Antonio Bento, sua neta nasceu no caminho da maternidade”
Parou na estrada aquele carro meia_bomba: explosão de vida!
Enfermeira, acompanhante, motorista…
Motorista… motorista que conta a história é aquele que_mente. Um motorista clama pra vida vingar, um motorista chama pra vida chegar. Mais uma vida naquele Vão, naquele vale encantado, mais uma vida cabe porque a boa vida vale.
O motorista clama, mas não mente. Melhorar uma história real é um fazer poético, é fazer beleza na hora de contar. É criar um interesse por um episódio, por um causo. Aprendemos isso com o pantaneiro Manoel de Barros. Aprendemos isso com o povo do sítio lá naquele grande Vão de morros. Prefiro falar serras, Vão de Serras, para não falar de morros. Talvez um grande Vão cujo rio do bravo jaú esculpiu a rocha das morrarias matogrossenses.
Naquele vale encantada
cheiro de terra molhada
passando pela vaca malhada
onde Saci Pererê é Subanaré
e sua traquinagem amarrando bezerro
e trançando rabos e cabelo
Mas nossa história aconteceu do outro lado do rio.
De início, uma certa expectativa tomou conta de mim.
Assim:
O Tal de Antônio estava se transformando. O famoso pescadô, famoso pelas histórias e pelas capturas de grandes criaturas das águas doces pintadas de dourado, o Tal Antônio transformava-se. Não era noite, tampouco lua cheia. Transformação que dava vistas, ali, à luz do dia. Estava ali dentro do carro cruzando as águas do rio encantado, driblando criaturas enormes e jaús quarando nas beiras.
Besteira?
Não!
O minhocão das águas nos deu passagem, o peixe grande, imensas rochas roladas no leito abriram passagem para a nossa embarcação, aquele pequeno Fiat Uno com velas imensas torneadas pelo vento derivando naquele mar de água doce.
Bem, nossa pequena embarcação passou com as rodas molhadas, mais uma vez cruzamos o Jauquara sob o sol escaldante daquele mato. Mas não um mato qualquer, um mato grosso, grosso grosso. No interior do vale encantado, no interior do Mato Grosso. Justo ali, do meu lado, o tal Antônio metamorfoseando. Logo vi…
Ele já não era o Antônio, quem estava ali era Bento,
do tal de Antônio para
o tal de Bento.
Seguimos para a casa da criança.
Uma criança que chora
que a mãe reclama
e clama por rezas
e clama por orações.
Ali estava a rebenta, pequena, num macacão vermelho.
Chegamos.
A criança não chora.
Amor
Amora
Ela vê o avô
Antonio Bento
Ele puxa uma folhinha de arruda que trouxe.
E começa o ritual.
Bem, eu estava ali com o Antônio Bento para benzer a rebenta, Josiele, sua netinha recém chegada.
Antonio Bento fala as primeiras palavras quase sussurrando, a pequenina ri.
Uma ritualística que passa por um canto manso do avô, gestos com o braço direito que às vezes sugerem uma cruz rabiscada no ar, outras vezes desenham círculos sobre a menina. Os olhos da pequenina acompanham tudo atentamente. A canção é mansa, a voz do avô é doce. Faço silêncio. A criança ri.
Antônio está vestido de amarelo, Camiseta da Brigada Quilombola, gandola, calça e bota. No peito do macacão da menina, palavras: “Eu amo meu irmão”. Braços e pernas não param um minuto, parece que tenta acompanhar os movimentos do avô. Talvez uma benzeção chegue à pequena como o convite. Talvez a voz doce do avô, o Bento que benze, chegue como canção. Talvez os olhares se cruzem na graça e alegria. Sim, porque o avô é esse sujeito da palavra doce, do convite, do gesto sereno.
Olhos de jabuticaba.
Bento termina o ritual de benzeção, como ele diz, tocando a neta. As duas mãos espalmadas sobre os pés, depois no tronco. Quase tocando aquele corpinho frenético, e um breve sinal da cruz com o dedão da mão direita na testa da pequenina.
Ela ri.
Ela ri muito.
Parece gostar da brincadeira.
Para ela, brincadeira.
Para ele, benzeção.
Então, não ouvi choro nem reclamação.
Só ouvi doçuras.
Vi apenas gestos.
Apenas aqui compreendido como muita coisa.
Uma energia de vida pulsante entre aquele Bento e aquela criança.
Ele, Bento
Ela, benta
Mais uma benta na família Bento.
Eis a benzeção do Bento na pequena Josiele.
Segundo encontro:
A mãe sente dores no peito. Talvez consequência do início da amamentação, talvez uma certa angústia ou depressão como dizem no vale encantado. Tem muito canto neste vale: Siriri, Cururu, São Gonçalo, ladainhas. Pai-véio Chico, grande cantador e capelão cuja fama transita por todo canto deste Mato Grosso, observa esse encontro conosco.
A mãe sente dores e pede as bençãos do pai. Antonio Bento pergunta do choro da neta. Resposta: “não chora mais. Mas essa dor no peito, aqui no lado direito, essa não passa. Vai e volta. E volta”. Bento avô, agora Bento pai e nova benzeção.
Resultado?
Bem, quem sabe um terceiro encontro possa responder. De qualquer maneira, tudo ficará bem. Afinal, o vale encantado, esse Vão Grande de tanta música que sai das violas de cocho, da garganta afinadíssima das respondedeiras quando os capelão tiram a reza, do sotaque quase incompreensível para os ouvidos poucados do encantamento, da música linda que sai da garganta dos galos, das galinhas, vacas e bezerros, das muitas espécies de passarinho…. Vão Grande de muita beleza, das imagens e dos sons encantadores, do calor capaz de descongelar olhos e ouvidos poucados de encanto, beleza e poesia. Vão Grande de Ditos e não ditos, de Marias, Bentos e bentas, Rosas e mangas… De tanta beleza com força de cura para corpo e curas para a alma. Cura pela fé e pela beleza.
O livro Narrativas do interior pode ser baixado aqui Narrativas_do_Interior_LIVRO_digital.pdf (escoladeativismo.org.br)
TEXTO
Ivan Rubens Dário Jr.
Educador popular na Escola de Ativismo
publicado em
- 29/10/2024
Temas
Mais recentes
As resistências ao fundamentalismo religioso e os futuros horizontes de ação
As resistências ao fundamentalismo religioso e os futuros horizontes de ação
É preciso compreender a Bíblia, Deus, Fé e toda essa dimensão da religiosidade como forma de compreensão do mundo, e que através dessas linguagens podemos construir uma libertação que une a classe trabalhadora por um projeto comum de justiça.
“Dejamos lo que nos divide y busquemos lo que nos une“
Camilo Torres

É impossível desvincular a religião dos projetos políticos de dominação e libertação na América Latina. Desde o colonialismo, a religiosidade foi utilizada para oprimir, violentar, escravizar como também para empoderar, organizar e libertar. Hoje em dia, a força da religião no continente e o avanço de uma gramática religiosa na política institucional é notória. Cada vez mais religiosos, progressistas e reacionários, têm se articulado para propagar seus projetos, linguagens e demandas no cotidiano da fé e também das esferas de incidência pública.
O fundamentalismo religioso tem se tornado realidade em todos os países de Nuestra América. Após a instauração do neoliberalismo nos territórios latino-americanos, houve um avanço da direita nas esferas políticas e sociais na região. Esse processo se refletiu não apenas pela retirada de direitos da classe trabalhadora, mas também em discursos de enfraquecimento das instituições democráticas.
O fundamentalismo é, portanto, um dos instrumentos para esse projeto neoliberal e sua manutenção, que tem como objetivo a fixação de uma verdade única, imutável e inquestionável – sendo assim, é antidialógico e antiplural. O dossiê n° 59 do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social aborda esse tema (1), aprofundando e apontando as origens do fundamentalismo e essa suposta verdade absoluta, dogmática, que vai muito além da religião, pois constrói modelos de vida políticos, econômicos e sociais.
É fato, como mencionamos acima, que a dimensão religiosa para o povo latino-americano e caribenho é algo que faz parte de nossa história, foi e é uma ferramenta fundamental para as resistências contra as opressões e para o avanço de lutas populares. Porém, os fundamentalismos têm se infiltrado em todos os espaços, para além do âmbito religioso, aliado a políticas neoliberais e extrativistas, e avançado fortemente.
É importante para o campo popular entender que o fundamentalismo religioso não seja algo que apenas os religiosos têm que lidar. Este fenômeno não está mais apenas dentro das paredes dos templos, antes está nas grandes instituições, nos espaços de poder e, cada vez mais, entranhado a nossa vida cotidiana, afetando as minorias e enfraquecendo a luta popular.
Dessa forma, compreendemos que esses enfrentamentos não devem ser segmentados e fragmentados, mas antes devemos pensar estratégias entre o campo popular e os cristãos ecumênicos e progressistas, de toda a América Latina, para combater esses discursos. Não se vence o fundamentalismo nas urnas! A esquerda não deve cometer os mesmos erros de se acomodar com a vitória das eleições presidenciais e deixar a temática da religião como algo insignificante para a reconstrução do país.
Nosso povo tem fé
Nesse caminhar tortuoso da religião cristã na América Latina, mantemos viva a tradição da resistência a partir da fé, buscando compreender a complexidade da relação entre fé, luta e classe trabalhadora. A pesquisa “Evangélicos, Política e Trabalho de Base”, do Tricontinental Brasil, tem encarado a tarefa de pensar metodologias de pesquisa que estejam enraizadas na experiência do povo e na ciência popular. Carregamos dentro de nós os vícios das metodologias aprendidas na pesquisa burguesa, que visam uma neutralidade entre o objeto e o pesquisador, não se importando, necessariamente, quanto a uma transformação social a partir do conhecimento gerado. Assumir que a não-neutralidade é um primeiro passo para nos entendermos pesquisadoras de um instituto marxista, que nas palavras da companheira Kelli Mafort do MST, visa a “prática revolucionária”. Nos colocamos enquanto pesquisadoras-militantes para esse diálogo profundo com a militância, na produção de conhecimento a partir de experiências concretas e articulação contra os fundamentalismos em Nuestra América.
Antes da pandemia chegar no continente latino-americano, o Tricontinental Brasil organizou uma roda de conversa com evangélicos do acampamento Marielle Vive do MST, no interior do estado de São Paulo. O tema central desse diálogo com a militância era acerca das possibilidades e contradições vividas no cotidiano entre a fé e a luta. Grande parte dos evangélicos que estavam presentes no encontro disseram que estar no MST era uma missão divina. Mas o mais interessante foi ver, nas tantas falas, as negociações entre as diversas identidades de nosso povo e, no caso, entre serem crentes e militantes de um movimento popular aguerrido contra tudo o que o fundamentalismo religioso propaga. No acampamento conversamos com Luiza, de 45 anos, missionária e frequentadora da igreja pentecostal Assembleia de Deus, que afirmou: “Um missionário disse que ia para um lugar que teria muita luta. Aprendi na igreja a ajudar, dar esperança. Eu gosto de lutar. No MST, aprendi o papel do coletivo, aprendi a me relacionar, é um desafio, uma realização, uma conquista”. O adventista José Wilson nos contou que, numa formação política, utilizou uma passagem bíblica para afirmar seu pensamento e que uma companheira, a princípio, não gostou do uso da Bíblia naquele espaço; porém, no final da formação, eles dialogaram acerca do ocorrido. Wilson defendeu que há espaço para política e para a religião e que, na sua percepção, as duas coisas se complementam.
Quando negligenciamos a dimensão religiosa do nosso povo criamos um buraco entre “nós e eles” – indivíduos da mesma classe. O povo latino-americano é, em sua maioria, cristão – todos os países da América Latina contam com pelo menos 50% da população cristã (com exceção do Uruguai, com 44,4% de cristãos), sendo que a grande maioria ultrapassa os 80% (entre católicos e evangélicos). Mais de 90% da população professa uma fé cristã em países como Bolívia, Equador, Paraguai e Peru. Os dados (2) também mostram um trânsito religioso que segue sendo tendência em muitos países. Guatemala, Nicarágua e Honduras atualmente diminuíram a distância do percentual entre católicos e evangélicos. El Salvador, Brasil, Costa Rica, Panamá, República Dominicana e Bolívia têm, todos, mais de 20% da população evangélica. Se olharmos mais de perto, nos territórios mais populares, esse percentual se amplia.
É nesse contexto que temos que olhar a religião e seu poder de mobilização. A classe trabalhadora vive sua religiosidade de forma cotidiana, em seus ritos individuais, em suas conversas cúmplices com Deus, em seus valores e nos espaços coletivos de comunhão. É nesse cotidiano que nossa classe segue caminhando para uma identidade crente forjada na palavra irmão mais do que trabalhador. Isso demonstra o poder da religião nas bases, em que os códigos de linguagem são outros, não mais de um povo que se organiza exclusivamente a partir de sindicatos, coletivos sociais de luta, movimentos populares, mas nas igrejas. Não é à toa, como pudemos ver, mas fruto de uma metodologia que dialoga diretamente com as necessidades objetivas e subjetivas de nossa classe. Não se faz revolução sem um sujeito revolucionário e, no caso latino-americano, ousamos dizer, não avançaremos para nenhuma transformação radical de nossa sociedade sem considerar, na prática, a formação cristã de nosso povo.
A esquerda precisa compreender que não podemos simplesmente acabar com a religião, até porque na prática isso não se concretiza; mas devemos olhar para os elementos que fundamentam essa fé e as possibilidades de diálogo em suas fissuras para o combate dos fundamentalismos que hoje hegemonizaram o discurso religioso também nos territórios mais pauperizados de nossa classe.
Se uma nova roupagem da fé se instaurou nas casas das famílias trabalhadoras, é a partir dali, de um resgate inovador das nossas teologias libertadoras de luta que iremos partir para combater o fundamentalismo religioso e construirmos uma nova morada onde a fé seja respeitada e inclusive absorvida como uma linguagem legítima de nossa classe. Temos que estar abertos a uma compreensão mais abrangente da religião, como nos ensinou Fidel Castro: “no puede haber nada más antimarxista que la petrificacion de las ideas” (3).
O fundamentalismo religioso não será extinto a partir da nossa racionalidade marxista, já que é um projeto de poder imperialista, com financiamento estadunidense, que ganhou corações e mentes da nossa classe. Nossa disputa é nessa batalha de ideias e emoções, no diálogo profundo e respeitoso com o povo crente que encontrou na Bíblia um caminho possível de sobrevivência diante das tantas adversidades vividas em nosso continente. A Bíblia se tornou o livro da classe trabalhadora, caminhando lado a lado com o povo. É por conta dela que muitos fiéis em situação de vulnerabilidade são instigados a aprender a ler e é na Bíblia que buscam respostas, força e direcionamento.
É preciso compreender a Bíblia, Deus, Fé e toda essa dimensão da religiosidade como forma de compreensão do mundo, e que através dessas linguagens podemos construir uma libertação que une a classe trabalhadora por um projeto comum de justiça. A base dos movimentos populares – que lutam por terra, moradia e outros direitos sociais – estão repletas de religiosos, cristãos e cristãs comprometidos com a luta e a fé. Não se trata de quem não tem uma identidade religiosa fingir a pertença, mas de nos abrirmos ao mundo do outro, ao conhecimento do outro. Como Paulo Freire aponta, em uma linda passagem do seu livro Pedagogia da Esperança, ninguém é “mais sabido” que ninguém, os saberes são feitos para serem dialetizados, na certeza da capacidade do outro, assim como de nós mesmos, sermos mais. O conhecimento do outro, mesmo quando equivocado, pode ser desconstruído, refeito, superado – assim como os nossos –, e nos alimentarmos das linguagens que nos escaparam é tarefa militante junto a nossa classe.

Mulheres em luta durante a Marcha das Margaridas de 2023
Foto: Vitória Rodrigues
Resgatar o pensamento do marxista italiano Antonio Gramsci acerca da religião e do cristianismo, em especial o papel da Igreja Católica, nos auxilia para irmos além da discussão da crença ou não crença em Deus, mas antes compreender a religião e sua força em movimentar corações e mentes para a ação política. Gramsci, dirigente do Partido Comunista da Itália, vai além da máxima de Marx acerca da religião ser o ópio do povo, pois, como conhecedor de sua cultura e história, não podia ignorar que a religião, sendo instrumento de denúncia e protesto frente às mazelas sofridas, é também potência de criação coletiva de novos valores éticos e morais frente a uma realidade opressora.
A compreensão de Gramsci sobre a religião não é ingênua, pois ele compreende as opressões históricas contra o povo em que a religião foi protagonista, muitas vezes domesticando a classe trabalhadora e explorando suas fragilidades. Porém, o marxista italiano encontra na religião o fermento necessário para a mobilização das massas na construção de um senso comum contra-hegemônico. Ou seja, a religião traz em si uma dupla face em disputa; é tanto alienação quanto força transformadora.
Nesse sentido, a defesa puramente anticlerical e ateísta em nossas táticas revolucionárias será empecilho com roupagem elitista, inclusive, contra a superação de visões fundamentalistas que hoje ocupam nossos territórios. Como vimos, a direita cristã soube agir estrategicamente em um campo que por anos fomos nós, marxistas, que avançamos – atuando lado a lado com os trabalhadores mais empobrecidos, sujeitos da transformação social, rumo a uma sociedade livre de qualquer opressão.
A ilha que nos anima a caminhar
Nessa tarefa, Cuba tem muito a nos ensinar sobre as possibilidades de avanço no diálogo entre a construção da Revolução e articulação entre fé e luta. Após um momento inicial, muitos religiosos que permaneceram em Cuba não se sentiam, de fato, parte do processo revolucionário, dada a resistência do Estado às Igrejas, fruto de uma leitura ainda limitada do tema pelo marxismo europeu e também pela origem estadunidenses das igrejas evangélicas no país. Essa resistência ainda era muito presente na década de 1970, mas foi lentamente abrindo espaços para uma nova perspectiva de atuação conjunta entre Igreja e Estado.
Segundo a teóloga cubana Gisela Pérez, a Revolução Cubana se deu conta que nem todos os líderes religiosos eram contrarrevolucionários, pelo contrário! Em um processo de aproximação com o tema, Fidel Castro reconheceu que, de fato, os evangélicos haviam sido discriminados e se comprometeu a corrigir esse erro. Ele e os membros das Igrejas sabiam que esse processo não seria fácil dada a formação antirreligiosa de boa parte dos membros do Estado, mas, com o avanço do diálogo, as tensões iniciais da Revolução abriram espaços para uma aliança estratégica entre Estado e Igreja, principalmente com as igrejas evangélicas. Em entrevista para Frei Betto, realizada em 1985, Fidel afirma que percebia que os evangélicos tinham um compromisso forte com a população mais humilde, além de terem uma disciplina militante em suas igrejas. A pesquisadora cubana Caridad Massón afirma que o aspecto inicial antirreligioso da Revolução passa a mudar a partir da década de 1980, fruto de ações pró-revolucionárias de religiosos cubanos e também pela Teologia da Libertação que avançava em toda a América Latina. Sendo assim, não era mais possível ignorar a força social do segmento religioso em nosso continente e, consequentemente, em Cuba.
A Revolução Cubana soube, com o tempo, acolher e incorporar os elementos de fé para o fortalecimento da luta. Podemos aqui também contar com Gramsci: “Os socialistas marxistas não são antirreligiosos; o Estado operário não perseguirá a religião; o Estado operário solicitará aos proletários cristãos a lealdade que todo Estado demanda de seus cidadãos” (4). Enquanto esquerda devemos sim criticar e denunciar setores da religião, aliados ao poder, como instrumento de alienação da classe, mas precisamos reconhecer, como Gramsci aponta, a força do cristianismo popular que se torna resistência e voz de denúncia frente a opressão burguesa.
Se o fundamentalismo conseguiu, a partir de muito financiamento e trabalho de base nos territórios, criar um senso comum entre os trabalhadores mesmo que em contradição com suas vidas cotidianas, será a partir do concreto e das tantas linguagens que atravessam a vida desses trabalhadores que construiremos uma possibilidade crítica e revolucionária de viverem sua fé. Reelaborar criticamente a fé do nosso povo é um caminho necessário e urgente para consolidarmos a filosofia da práxis no continente latino-americano.
Do ponto de vista das estratégias marxistas a partir dos ensinamentos gramscianos, podemos refletir que um primeiro passo é olharmos para as forças contra-hegemônicas do campo religioso que já seguem resistindo. Sabemos que o crente não é simplesmente passivo frente à sua religião, mas que é através dela que ele produz e reproduz visões de mundo – não sem contradições, sem reformulações. Como Gramsci aponta, “há um catolicismo dos camponeses, um catolicismo dos pequenos burgueses e operários da cidade, um catolicismo das mulheres e um catolicismo também variado dos intelectuais” (5). Assim é com os evangélicos também, dado que quando falamos de religião, falamos de uma multiplicidade de uma mesma crença. Portanto, é importante não generalizar e homogeneizar os evangélicos na América Latina, os colocando enquanto fundamentalistas ou massa de manobra. Um ponto importante que Gramsci enfatiza é o distanciamento entre os pensadores e o povo, ou seja, uma reflexão que não tem chão, não tem concretude, não tem como pensar a religião hoje sem que estejamos enraizados nos territórios, absorvendo e trocando as experiências cotidianas com a fé. Não basta para nós, enquanto esquerda, repetirmos o sentimento antirreligioso de alguns pensadores do marxismo ocidental para lidar com a religiosidade no Sul Global, que está presente não apenas na América Latina, mas no continente africano e asiático também, independentemente se é o cristianismo ou não.
Se o centro do debate fundamentalista no continente latino-americano tem sido a bandeira contra a chamada “ideologia de gênero”, é nesse caminho que as resistências se firmam, se consolidam e só podem avançar dialetizando linguagens entre a fé e a luta. O fundamentalismo reage aos avanços do campo progressista, temos que olhar para esses avanços e fortalecê-los junto a nossa classe, a partir dessa outra linguagem que, como dissemos, escapou ao marxismo nas últimas décadas. É a partir daí que o marxismo consegue desatar os nós no diálogo popular e avançar nesse campo ocupado pelos nossos inimigos. Se reinventar não é inventar o novo a partir do vazio, é saber, conhecer e dialogar com caminhos que seguem resistindo muitas vezes isolados do campo popular marxista. Resgatar nossa história recente e enxergar as resistências que ocupam também nossos territórios é iniciar a construção de pontes necessárias e imprescindíveis entre fé e luta. Nesse sentido, nos colocamos a tarefa de contar uma nova história, não tão nova assim, de recomeços, resistências de lutas concretas e cotidianas em nosso continente.
Agonia: o re-encantar e o re-conhecer os nossos
O peruano marxista José Carlos Mariátegui, usando o termo Agonia, de Miguel de Unamuno, nos chama para a necessidade de nos re-encantarmos. Tanto os revolucionários marxistas quanto os cristãos revolucionários foram almas agônicas, em luta por esse re-encantamento (6). Essa agonia revolucionária, para Mariátegui, se traduz também na superação do antagonismo entre fé e ateísmo, igualando a emoção revolucionária com a emoção religiosa. Na verdade, Mariátegui quer dizer que o que nos move, seres agônicos por justiça, é mais do que qualquer instituição pode limitar, é um sentimento profundo na busca por algo que ainda não se realizou e que teimosamente buscamos construir como necessidade vital. Mariátegui amplia o conceito costumeiro de falar de religião e nos provoca afirmando que uma revolução é sempre religiosa, dialetizando, portanto, o materialismo e a religião, a mística revolucionária e a fé, os cristãos e os marxistas.
É importante frisar que a partir desses entrelaçamentos do cotidiano, que a fé evangélica também é força e fôlego para a luta, e isso não é de agora. É necessário lembrar figuras importantes de protestantes da Teologia da Libertação, como Richard Shaull (1919-2002), teólogo presbiteriano norte-americano que viveu muitas décadas no Brasil, e dedicou seus estudos no diálogo entre o cristianismo e categorias marxistas, relacionando temas sociais com a fé evangélica, sendo nomeado de “teólogo da revolução”. Rubem Alves (1933-2014), aluno de Shaull, e que em tese de doutorado traz pela primeira vez o termo “Teologia da Libertação”. As contribuições de Alves são imensas, pois traz a dimensão do corpo e da subjetividade no contexto da luta de classes. Ainda na reflexão teológica, nomes como a teóloga e biblista mexicana Elsa Tamez (1951- ); a teóloga argentina Marcella Althaus-Reid (1952-2009), a teóloga brasileira e ativista da Comissão Pastoral da Terra, Nancy Cardoso (1959 – ) aprofundaram a dimensão do corpo e da sexualidade a partir da teologia feminista e queer, trazendo críticas à Teologia da Libertação que, por inúmeras vezes, excluiu mulheres e dissidentes de gêneros e sexualidades das abordagens e práxis teológicas.
Além desses nomes, importantes organizações protestantes surgiram criando um ecumenismo evangélico de resistência, como ISAL – Iglesia y Sociedade en América Latina (Igreja e Sociedade na América Latina), em um desdobramento da assembleia em Huampani, perto de Lima, Peru, que foi resultado das Conferências Evangélicas Latino-americanas (CELAS), “talvez, a iniciativa mais importante na criação de um movimento de libertação entre os protestantes latino-americanos” (7). Outras organizações foram se formando, como o Conselho Latino-americano de Igrejas (CLAI), que surgiu em 1978 a partir da Conferência Evangélica de Oaxtepec, no México; Departamento Ecumênico de Informação (DEI) em Costa Rica; o Centro Ecumênico para a Evangelização e Educação Popular (CESEEP), em São Paulo, ou o Centro Ecumênico para Documentação e Informação (CEDI) no Rio de Janeiro, hoje KOINONIA Presença Ecumênica, e ações dessas instituições no Conselho Mundial de Igrejas.
Em Cuba, no ano de 1987, dentro do contexto que já abordamos e compreendendo a necessidade de avançar do ponto de vista ecumênico na defesa da revolução, foi fundado o
Centro Martin Luther King a partir do trabalho dos pastores batistas Raúl Suárez Ramos e Clara Rodés e outros religiosos. O CMLK se baseia
“numa ética emancipatória de inspiração cristã; no compromisso consciente, rebelde e profético com o povo cubano, a Revolução e o socialismo; na defesa da vida plena de todos os seres humanos como centralidade, sem exclusões ou discriminações, vinculada ao respeito aos direitos da natureza. Assume diversidade geracional, gênero, cor da pele, origem, opções sexuais, ocupações, conhecimentos e crenças, com sentido ecumênico e de justiça social” (8).
Atualmente não é possível falar em defesa da Revolução e no enfrentamento ao fundamentalismo religioso sem entender o papel do CMLK que a partir de talleres que contemplam temas conjunturais e históricos, abarcando a solidariedade latino-americana com uma metodologia libertadora, tem sido pólo de discussão e construção de conhecimento nessa tão necessária junção entre fé e luta. Além disso, o Centro tem se debruçado em inovar suas ações nos territórios tanto no sentido da solidariedade como na construção de um projeto de educação popular para todo o país. O Centro é uma referência hoje tanto dessas ações práticas quanto de aprofundamento teórico, por meio de publicações em livros e revistas, e segue fortalecendo a imagem de Cuba como farol da esquerda latino-americana.
Assim como o CMLK, o Ceseep – Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular tem sido para o Brasil e a América Latina um espaço fundamental de formação e resistência:
O Ceseep (…) é um centro latino-americano e ecumênico de formação popular, fundado em 1982, com o objetivo de prestar serviços às lideranças de movimentos sociais e comunidades das diferentes Igrejas cristãs em seus trabalhos pastorais e de promoção humana (9).
Inspirado na pedagogia de Paulo Freire, o Ceseep se tornou uma grande referência de Educação Popular, um espaço que abarca as tantas religiosidades do povo latino-americano em uma relação dialética entre teoria e prática junto aos movimentos sociais e ecumênicos. Além de ser um espaço de debate e formação, o Ceseep tem produzido materiais a partir dessas experiências e abre seus espaços para que circulem reflexões de todo continente latino-americano.
Para além dos grupos religiosos e ecumênicos que seguem resistindo e construindo novas teologias libertadoras, os movimentos sociais não religiosos também têm se (re)organizado para debater a questão religiosa para além de uma pauta conjuntural, colocando o tema como estratégico no diálogo com a base da classe trabalhadora. No Brasil, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos (MTD), a partir da tarefa de reconstruir novas metodologias de trabalho de base urbana, constatou, durante as ações de solidariedade na pandemia, a necessidade de construir um trabalho concreto e cotidiano com o povo religioso. Essa percepção se deu por um grupo de militantes de Brasília, que compreendeu que era impossível o diálogo com a base em que estavam atuando sem aprofundar o papel da religião para nossa classe, assim como sem absorver e aprender a linguagem religiosa que atravessava seus cotidianos.
A partir dessa percepção, os militantes do MTD se articularam com religiosos progressistas de diversas vertentes, assim como com a pesquisa “Evangélicos, Política e Trabalho de Base”, do Tricontinental Brasil. Passamos, Tricontinental e MTD-DF, a realizar com esse grupo reuniões periódicas de formação e debate sobre a realidade buscando construir novas possibilidades de ação nos territórios a partir da fé. Para Márcia, militante do MTD: “Cabe a nós a tarefa de compreender a espiritualidade evangélica no cotidiano do nosso povo; retomarmos o diálogo contínuo e não sazonal para que se construa uma outra narrativa nos territórios; olharmos para nós, enquanto esquerda, e o que estamos oferecendo, e sempre lembrar-nos que trabalho de base e militância são feitos com amizade – é uma paixão indignada e cheia de ternura”.
O MST também é um exemplo importante desse processo necessário. A direção do Movimento tem buscado junto a atores do campo religioso progressista, como a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, grupo evangélico criado em 2016 contra o golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, possibilidades de diáĺogo com os trabalhadores pentecostais a partir do programa “Papo de Crente” que por meio de uma linguagem (neo)pentecostal, toca em temas importantes na disputa contra o fundamentalismo religioso. A proposta do Programa é contar com vozes do (neo)pentecostalismo progressista que consigam abordar temas conjunturais por meio da fé do nosso povo. O Papo de Crente está no ar desde 2021 em diversas rádios do Brasil em grande parte do território nacional e tem sido um espaço importante na batalha de ideias. Para além deste diálogo direto com o público crente, o MST tem se desafiado a inserir o debate religioso com sua militância, ajudando a construir espaços de formação também lado a lado com a pesquisa sobre evangélicos do Tricontinental Brasil, por meio de seminários abertos introduzindo o tema, além de espaços de debate e aprofundamento em diversas de suas instâncias estratégicas.
A luta na América Latina e Caribe: internacionalismo em marcha
Nesse contexto, o Tricontinental Brasil tem buscado se organizar enquanto campo popular latino-americano para compreender de que forma os fundamentalismos têm afetado o cotidiano da classe trabalhadora, rural e periférica e as comunidades tradicionais nas lutas pela terra, direitos trabalhistas, direitos sexuais e reprodutivos, políticas afirmativas para a população negra e LGBTQIA+. Para além de uma análise conjuntural, pensamos que era importante articular estratégias entre os campos populares e religiosos progressistas em Nuestra América para conter esses avanços fundamentalistas e propor novas formas criativas dessas saídas. O momento presente aponta fragilidades em muitos discursos fundamentalistas, e é importante explorar essas fissuras as expondo e propondo outras frestas de luz.
A partir dessa análise, o Tricontinental, o MST e o Centro Martin Luther King têm se reunido periodicamente desde abril de 2021, de forma virtual, para a construção de uma articulação revolucionária ecumênica contra os fundamentalismos religiosos na América Latina junto aos movimentos religiosos, ecumênicos e populares não-religiosos, a partir da compreensão do fenômeno e de suas especificidades em cada país, além da construção de uma agenda comum mirando a vida cotidiana dos trabalhadores. Em maio de 2022, ainda de forma virtual, este coletivo junto a Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra da Argentina, realizou o “Encuentro de Articulación Abya Yala: Enfrentando Fundamentalismos”. O Encontro contou com a presença de oito países (Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela e Uruguai), representados por cerca de 50 militantes, ativistas, pesquisadores e educadores populares de organizações de diversas naturezas, com a proposta de ser um primeiro momento dessa articulação. Buscamos compreender quais experiências têm sido desenvolvidas para o enfrentamento dos fundamentalismos nos campos cristãos, feministas, populares e que pautas e agendas comuns devemos fortalecer nesse enfrentamento.
Dentre as tantas contribuições, alguns apontamentos merecem ser destacados, dentre eles, que precisamos começar pela realidade com os temas mais concretos, sobre a água, sobre o trabalho, sobre as desigualdades, de que temos que ir para a disputa e com palavras “carinhosamente rebeldes”, e de que toda ação comunitária deve partir da educação popular, em uma conexão concreta, cotidiana, presencial.
A proposta é que esses encontros se transformem em publicações sobre o fenômeno com um caráter propositivo de ações, assim como criar mecanismos que nos deem subsídios práticos para o enfrentamento dos fundamentalismos em nossos países, junto aos nossos movimentos. O primeiro Encuentro pôde nos mostrar que diversas ações têm sido realizadas e que é urgente criarmos uma unidade no sentido da construção de uma ação efetiva e um movimento contra-hegemônico, abarcando a fé do povo latino-americano. Esse é um caminho que os coletivos envolvidos sonham em percorrer enquanto movimentos populares e ecumênicos na América Latina. Sabemos que não é fácil criar uma articulação político-religiosa de luta, porém, entendemos que é uma tarefa necessária para frear o fundamentalismo religioso em nossos territórios e que temos nossa própria história como inspiração. Dessa forma, buscamos construir a partir de tarefas a curto, médio e longo prazo, entendendo que uma articulação internacional leva tempo para ser construída, mas que não nos falta coragem.
Considerações (não tão) finais
Nos colocamos, portanto, na tarefa, enquanto militantes e revolucionários, de satisfazer a necessidade de infinito que existe em nós, e isso não se resolve única e exclusivamente pela razão, mas por aquilo que move nossa classe, nos seus desejos mais profundos – na crença por algo que ainda não se concretizou, que é impalpável. Transformar a salvação individual em projeto coletivo é traduzir a urgência do novo a partir da nossa história, de um olhar crítico sobre a realidade e também, da fé, no sentido profundo que Mariátegui nos ensinou, a partir daqueles que crêem: “Quem faz a história são os homens possuídos e iluminados por uma crença superior, por uma esperança sobre-humana; os demais homens, são o coro anônimo do drama”.
Newsletter
Mais recentes
Da produção à modulação do espaço: apontamentos para o ativismo brasileiro em tempos de disrupção cibernética e crise climática
Da produção à modulação do espaço: apontamentos para o ativismo brasileiro em tempos de disrupção cibernética e crise climática
Entender as interrelações entre realidade vivida e ciberespaço para recriarmos ativismos prenhes de novas cosmopercepções e aquilombamento, numa realidade de emergência climática.
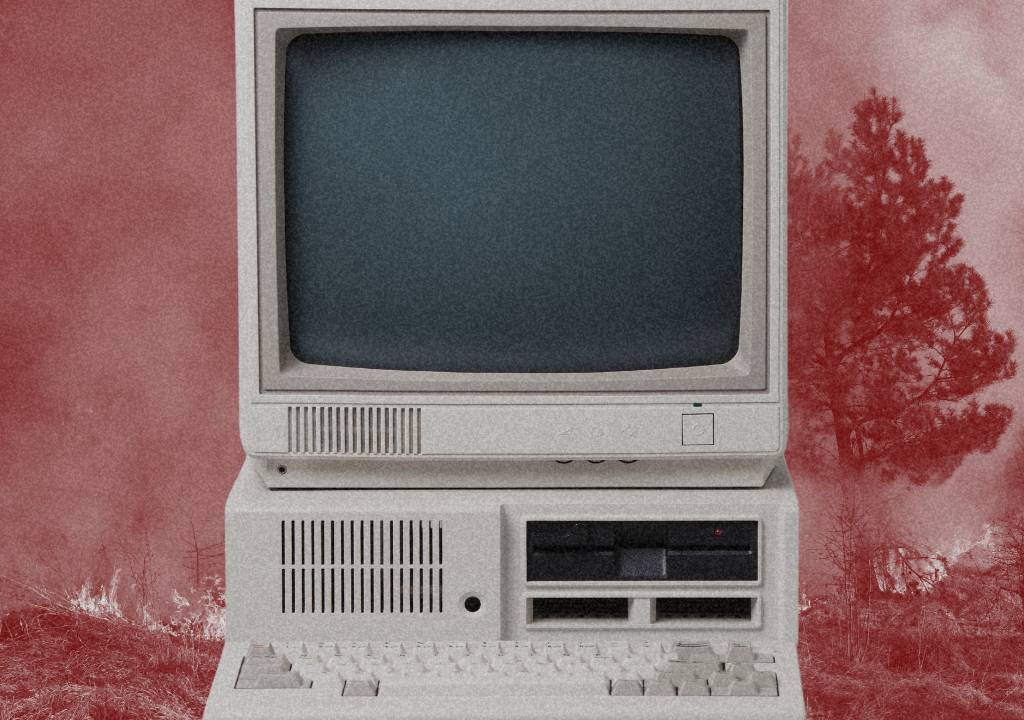
Introdução
Agir ativamente para transformar o espaço contemporâneo em suas múltiplas sociabilidades desigualmente afetadas por impactantes mudanças sociais, tecnológicas e ambientais que, co-relacionadas, definem o prognóstico de colapso das relações da natureza terrana pela crescente crise climática global e intensa disrupção dos sistemas econômicos pela transformação sociotécnica cibernética (Rede Mundial de Computadores, Datacenters, Redes Sociais, Ciborgues, Financeirização Dataficada, Inteligência Artificial, Robótica, Realidade Aumentada, Internet das Coisas, Plataformização, Gerenciamento Algorítmico, entre outras) – é necessário. Mas, como agir neste sistema-mundo (a)?
A co-relação complexa entre relações da natureza e relações sociotécnicas redesenha o espaço e transforma a condição de possibilidades (b) dos discursos que legitimam as ações do sujeito ativista, seja individual ou coletivo. Os modos do ativismo que luta pela transformação do espaço neste sistema-mundo capitalístico (c) – que domina e controla a rede de relações (d) entre natureza e sociotécnicas – não possui uma ação condizente que garanta o valor de uso (e), humano e não humano, para aqueles que habitam o espaço. O valor mercadoria é, ainda, o que violentamente move a materialidade social e histórica dos centros e periferias do sistema-mundo, sejam estes capitalistas, socialistas ou comunistas.Os instrumentos do “direito à” conforme teorizado pelo [1] liberalismo do direito universal, ou pelo [2] recorte marxiano do direito à urbanidade também para o campo ou periferias teorizado por Henri Lefebvre na década de 1960 ou mesmo o [3] direito às infraestruturas das forças de produção em vigência na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade ou aqueles [4] praticados no cotidiano pelos múltiplos ativismos brasileiros de mobilidade urbana, quilombismo, ecologismo, etc., não fazem frente aos novos arranjos das castas (f) proprietárias e suas superestruturas, cada vez mais violentadoras das relações da natureza e das sociabilidades descapitalizadas.
A proposta deste texto parte das questões apontadas acima e indaga com quais teorias ou categorias de pensamento o ativismo, que age no e para o espaço, e que usa os instrumentos do campo do urbanismo e do planejamento urbano e territorial, pode fazer frente a essas transformações. O Direito à Cidade ou o direito ambiental, o planejamento ou as políticas de desenvolvimento e suas categorias moventes como campo, cidade, rural e urbano, zoneamento, área de preservação ou conservação entre outras, são ainda uma resposta? E o Brasil periferia (de acordo com sistema-mundo estruturado pelas instituições como o Banco Mundial, FMI, BID, ONU, entre outros), centro das disputas das relações da natureza, participa e/ou é impactado de que modo pelas infraestruturas e superestruturas do capitalismo cibernético (mediado pelas sociotecnopolíticas cibernéticas) imposto aos territórios sujeitados?
Intenta-se aqui formular uma reflexão – amparada na teoria da produção do espaço de Lefebvre – para os ativismos do campo ambiental e da cibernética e também para as práticas do campo do urbanismo e do planejamento urbano e regional ainda muito instrumentalizado por categorias de um tempo pretérito.
A produção do espaço
“A produção do espaço” (g), publicada no ano de 1974 por Henri Lefebvre, é uma teoria crítica marxiana que descreve como os campos da arquitetura, do urbanismo e do planejamento urbano moderno, inspirados por diretrizes pretensamente universais da racionalidade funcionalista, prescreveram uma lógica de “homogeneidade-fragmentação-hierarquização” à organização do espaço. A concepção de projetos e planos por essa lógica tentava equilibrar, de um lado, [1] noções convencionais oriundas do humanismo liberal herdado do século XIX e de certo modo revisado pelas críticas
socialistas/comunistas (com o auge no maio de 1968) e, de outro, [2] as forças econômicas do capitalismo industrial, dependente do mercado imobiliário urbano para a reprodução biológica, da força de trabalho e das relações sociais necessárias ao seu desenvolvimento.
Essa lógica de organização espacial faz parte de longo processo da história ocidental, que separa “natureza” percebida como “coisa” e “inferior” da “cultura” como exclusiva ao “humano” e “superior”. No capitalismo, essa relação dominadora e controladora das castas humanas (masculinistas, brancas, eurocentradas) sobre as “coisas inferiores” passa por uma transformação. Saem da ordem da “natureza” e passam para a ordem da “cultura”, da “civilização”, e é este “progresso” que permite aos humanos o direito de produzir, como se deuses fossem, essas “coisas” e dispor destas como “mercadoria”. A terra, na ordem da natureza, é herança divina sem valor de troca; na ordem da cultura, é herança dos pactos civilizatórios patriarcais ocidentais – que permitem ao proprietário “a faculdade de usar, gozar e dispor a coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer injustamente a possua ou detenha (h), sendo esse um direito inviolável e sagrado no mundo ocidental (i).
Paulatinamente, as castas do capitalismo atribuíram às “coisas” do tempo e ao espaço, o valor de troca “justo” a elas, retirando o valor de uso dos assujeitados a elas, sejam humanos ou não humanos, vivos e não vivos. O espaço dominado e controlado pelos proprietários que se organizam pelo sistema capitalista transformou-se em produto infinitamente reprodutível e disponível para troca. Os ganhos, com poucos limites, desse capital que fica à disposição dos humanos das castas proprietárias aumentam seu poder de planejar a produção de suas “mercadorias”, impondo seus interesses privados às vidas terranas das cidades, do campo e dos biomas originários.
Lefebvre aponta que o marxismo, em sua estrita tradição, considera o espaço como base material a partir da qual se apoiam as relações de produção do capitalismo. Mas o autor demonstra que o espaço extrapola o debate sobre a condição “base-estrutura-superestrutura” porque, no capitalismo moderno, o espaço deixa de ser um “chão” em que a mercadoria é fabricada e passa a ser a própria mercadoria. Essa passagem histórica à produção do espaço está onde há uma articulação concomitante e imbricada de três dimensões: do percebido, concebido e vivido.
Esse tríplice arranjo ocorre dentro de uma relação dialética (j) entre o sujeito (individual ou coletivo) nas dimensões inseparáveis do:
- – Percebido: em que o sujeito [decifra, lê, percebe] o espaço através de uma relação dialética entre suas práticas cotidianas e a realidade tangível do espaço. A percepção do espaço se dá pela experiência que cada sujeito cria ao apropriar-se do mesmo e depende de um letramento sobre os códigos aí presentes. Exemplo: um europeu colonizador não consegue ler as sociabilidades humanas e não humanas da floresta e o indígena mais livre da colonização mal lê os códigos espaciais das cidades. Ambos não possuem o letramento necessário à percepção de cada território. O ativismo age quando modifica a condição de possibilidades de aquisição de letramento na dimensão do percebido.
- – Concebido: todo espaço tangível no presente capitalista foi anteriormente idealizado por um saber disciplinar, seja de cientistas, planejadores, urbanistas, tecnocratas, etc. que dominam as noções convencionadas para o desenho/desígnio do espaço (por exemplo: a lógica homogeneidade-fragmentação-hierarquização do planejamento moderno). Essa idealização, ou concepção, é ordenada pelos interesses privados das castas dominantes do capitalismo limitado apenas pelas condições mínimas necessárias à reprodução biológica da força de trabalho e das relações sociais necessárias à sua manutenção. No capitalismo os assujeitados, trabalhadores ou ativistas, não concebem o espaço – não por falta de predicados para idealizar, mas por falta de poder.
- – Vivido: a experiência cotidiana no espaço, a vida, acontece sob o domínio daquilo que foi anteriormente idealizado e depende do letramento dos códigos que permitem ler, ou perceber, o que foi concebido. Uma escola, uma rua, até mesmo uma floresta preservada, no capitalismo, só são vividos se o sujeito entende os códigos idealizados para esse espaço. Mas no vivido há a possibilidade de transformação daquilo que foi idealizado para o espaço, pela transdução dos códigos (pela transformação da natureza da informação que muda o código). O vivido (individual ou coletivo) é o campo de forças subjetivas em que os códigos dominantes são postos em xeque. É a dimensão em que as forças ativistas resistem ao concebido e transformam os códigos e o letramento do percebido.
A triplicidade percebido-concebido-vivido não é um modelo abstrato de espaço. É a apreensão concreta, pelo sujeito (individual e coletivo), de todo e qualquer espaço, no capitalismo. Ex: Toda escola tem [1] a dimensão do poder dominante que projeta as espacialidades necessárias ao educar, tem [2] a dimensão de um código entre professores e estudantes que permitem compreender o que foi projetado como sala de aula, pátio de recreio, diretoria e essas dão condições para que [3] a dimensão vivida das experiências de aprendizado aconteçam no espaço.
Entre várias questões levantadas nessa obra e em outras durante a década de 1980, Lefebvre já percebia a presença de um novo código capitalista sendo concebido (projetado e planejado). As pistas vinham de elementos que pareciam, à época, utopias tecnológicas concebidas no campo da eletrônica, da informática e de um emergente campo da cibernética. Uma outra natureza para as dimensões do espaço – criada pelo agenciamento sociotécnico de diferentes campos como o da comunicação, informação, engenharias, matemática, antropologia e psicologia – que à época não tinha a concretude que se faz hoje, presente. Há, agora, um outro espaço, e este coexiste com o espaço que antes era.
Cibernética: campo
A cibernética é um campo multi-inter-transdisciplinar e seu nome vem da publicação “Cybernetics: or the control and communication in the animal and the machine”, de 1948, escrita pelo matemático Norbert Wiener. No primeiro momento da cibernética, seus colaboradores (de vários campos científicos) buscavam criar condições para o controle e processamento de informações da relação entre a engenharia das máquinas, a fisiologia e a linguagem dos seres vivos. O nome cybernetics (do grego kubernetes) diz da ação de controlar o timão de um barco, mudando essa direção de acordo com as condições dos ventos e das águas, para alcançar o destino almejado. O sentido de controle também é dado pela correspondência entre kubernetes do grego e gubernator do latim para piloto, que deriva no português para a palavra governo – questão de fundo de todo o esforço das primeiras pesquisas deste campo de conhecimento (k). A regulação e o controle, para melhor governar, tem papel fundamental na conceituação da cibernética e em seu desenvolvimento.
A cibernética traz para o campo do planejamento o princípio do feedback (retorno), vindo da engenharia de controle e produção. Os retornos sistematizam adaptações aos projetos e planos e mudam a direção dos mesmos, desviando e reprogramando rotas para melhor alcançar as metas ou cenários desejados. Esse idealizar que permite mudanças de trajetórias após ser concebido, que busca equilibrar os acontecimentos a favor dos objetivos a serem alcançados ganha o nome de planejamento estratégico.
Além dessa noção de circularidade e readaptação pelo retorno de informação durante o processo de execução, outros princípios passam a ser amplamente debatidos entre diferentes campos. A entropia sai da física e passa a ser percebida como um princípio de desordem contido nos sistemas sociais, ecológicos. A homeostase sai da biologia e passa a ser estudada como um fenômeno da comunicação social entre os seres vivos. Essas diferentes relações de relações feitas entre diferentes campos em conjunto são descritas, genericamente, pelo termo complexidade. A cibernética, ao longo do tempo, passa a ser esse campo dos estudos inter-multi-transdisciplinares dos fenômenos complexos. Portanto, pode-se dizer que há uma primeira cibernética, que emerge do contexto entre guerras mundiais e que busca a redução da entropia de um sistema para manter o controle e a estabilidade, ou seja, o “equilíbrio”, a favor de uma gestão empresarial ou governo, e há a segunda cibernética, voltada para os estudos e objetos técnicos dos saberes multi-inter-transdisciplinares ligados aos fenômenos complexos.
Essas duas cibernéticas possuem trajetórias que se sobrepõem ou se afastam, a depender do contexto, mas a conexão intrínseca entre ambas se faz no sistema mundo ocidental, liderado pela governança dos Estados Unidos da América do Norte. Esse governo e fundações norte-americanas interessadas na ampliação das possibilidades econômicas e militares da cibernética financiaram inúmeras pesquisas desde os anos 1940. Desta gestão surgiram descobertas como a [1] análise de processos comunicativos – feitas pelo agenciamento da cibernética, psicologia, medicina e antropologia; [2] inteligência artificial – encontro das ciências cognitivas com as máquinas de processamento de informação; [3] a teoria dos jogos, central na transformação do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, feita em conjunto pelas áreas da economia, ciência política e matemática computacional; também [4] a rede mundial de computadores criada por múltiplos saberes científicos agenciados em universidades pelo mundo, apropriada para defesa militar norte-americana nos anos 1960 e uso ampliado para todo o globo após os anos 1990 com a abertura para uso comercial. Estas, entre tantas outras invenções cibernéticas permitiram o crescimento exponencial do complexo econômico-industrial-financeiro-militar-acadêmico do sistema mundo ocidental norte-americano (l).
Atualmente, a cibernética não é mais percebida como um amplo campo de conhecimento. Seus desdobramentos parecem ter criado campos específicos como a robótica; as tecnologias da informação; a inteligência artificial; as terapias sistêmicas; ecologia profunda e filosofia ecossistêmica; a bioinformata ou biologia computacional; a bigdata e seus mecanismos de machine learning, de cibersegurança, etc. Entretanto, esses campos específicos só foram possíveis pela “virada cibernética” (m). Esta ensejou ao capital a condição de possibilidades para configurar uma nova natureza para o espaço, que por sua vez fez surgir sociabilidades imanentes a essa complexidade, incluindo aqui também as relações de resistência ao capital, feita por ativismos sociais cibernéticos. Tanto o capital como os ativismos reorganizaram suas condições para dominar ou resistir pela modulação do código das informações organizadas, ou conectadas, pela noção da rede. Mas a rede, por mais que hajam resistências, tem dono.
É justamente nessa fase da cibernética, onde o controle de dados mostra ser o principal elemento da implementação de estratégias do capital, que a Natureza passa a ser tratada não só como “coisa”, mas também como “dado”, e este também passa à condição de “mercadoria” a ser produzida. Às tecnociências cibernéticas (que são originadas desse campo) a serviço do capital global, interessam o componente informacional virtual dos espaços e de suas sociabilidades, humanas e não humanas. Seus impulsos subjetivos são medidos e analisados pelos bigdatas e isso performa o capitalismo pós-industrial, que se movimenta pelo controle dos códigos de informação: o capitalismo de plataforma, financeiro, cognitivo, da atenção, da vigilância, etc.
As implicações dessa fase do capitalismo que alia o capital, as tecnociências cibernéticas (que se originam desse campo) e as novas institucionalidades paraestatais mudaram o conceito de informação e, sobretudo, de espaço. As dimensões do percebido-concebido-vivido agora são todas permeadas por um substrato comum, a informação modulada pelas tecnociências cibernéticas. Essa é a matéria-prima básica e indispensável para valorização e reprodução do capital nos circuitos mundiais do capitalismo cibernético ocidental (origem do capitalismo de plataforma, financeiro, cognitivo, da atenção, da vigilância, etc., centralizado nas megacorporações norte-americanas). Este cibercapitalismo, no presente momento, é dependente do mercado de informações para a reprodução biológica, da força de trabalho e das relações sociais necessárias ao seu desenvolvimento, assim como o espaço o foi na era moderna.
Da produção à modulação do espaço
A produção do espaço teorizada na década de 1970 demonstra a centralidade do espaço na expansão do capitalismo ocidental. Tal sistema apoderou-se de terras pela colonização e fez o acúmulo de capital necessário à industrialização. As revoltas anticoloniais impuseram limites à dominação ocidental e a tensão pelo domínio e controle dos territórios entre os colonizadores imperialistas, acontecimento histórico de amplo conhecimento, culminaram nas guerras mundiais. A reconstrução do espaço das cidades arrasadas pela guerra foi o grande laboratório construtivo do planejamento de diretrizes modernas (zonear o habitar, trabalhar, circular, recrear para desenvolver a economia). O Estado, seu principal agente, justificava suas políticas de desenvolvimento pelo bem estar econômico e social e as diretrizes modernas tornaram um paradigma não só para as cidades centrais do sistema-mundo arrasadas pela guerra, mas também para as cidades das periferias. Os planos diretores urbanos e o planejamento integrado territorial e regional foram os principais dispositivos de produção do espaço moderno.
Entretanto, em poucas décadas, surgiram as críticas aos espaços concebidos por essa percepção reducionista da vida, vindas do cotidiano (dimensão do vivido). O ativismo foi fundamental na construção dessas críticas. O feminismo, negritude, ecologismo, decolonialidade, etc., organizaram os discursos contra o industrialismo capitalístico hegemônico e esses novos arranjos deveriam, por lógica, dar condição de possibilidades para a transformação das diretrizes dos espaços da “homogeneidade-fragmentação-hierarquização” moderna, mas não. Ao contrário, houve um avanço exponencial do sistema-mundo capitalístico, na medida em que os mercados se tornaram globais e financeirizados.
Tal se deu pela reorganização das castas, por meio de redes sociotécnicas cibernéticas. Enquanto os ativismos faziam as críticas à vida moderna e as castas propagandeavam contra as políticas de bem estar econômico e social; enquanto ocorria a luta discursiva entre castas e ativismos minoritários, mediada pelo Estado e por instituições supra-nacionais do sistema-mundo (Banco Mundial, FMI, BID, ONU, entre outros) como por exemplo na ECO-92 (n); enquanto o neoliberalismo passava a dar as diretrizes para a
produção dos espaços da “homogeneidade-fragmentação-hierarquização”, as redes sociotécnicas cibernéticas controladas pelas castas passaram a modular o espaço e transformar a natureza da Natureza, sem que os ativismos pelo espaço conseguissem perceber essa mudança pela falta de acesso às tecnologias cibernéticas e de conhecimento sobre as modulações. Chegaremos lá.
Nas cidades, surgiram as parcerias público-privadas (recursos públicos e lucros privatizados, em sua grande parte) com as obras de renovação, revitalização e requalificação que faziam uso de estéticas pós-modernas que permitiram criar “novas” imagens para velhos espaços. No campo, e nas áreas de preservação, acontecia o declínio das ações do planejamento regional integrado na égide “homogeneidade-fragmentação-hierarquização” moderna, e uma ocupação desenvolvimentista que claramente favorecia os grandes grileiros e proprietários de terras – fazendo do mundo rural e das áreas preservadas, herdadas de tempos pretéritos, um recurso infinito e contínuo de troca financeira.
No Brasil, as regularizações fundiárias de terras griladas no campo e nas áreas de conservação e preservação; as isenções fiscais e outros benefícios legais para atrair indústrias de grande potencial poluidor em países do Sul Global; os financiamentos ao agronegócio; as renovações, requalificações, revitalizações “consensuadas” nas cidades feitas pelos técnicos do desenho e do marketing urbano no planejamento estratégico; as mega-obras para os mega-eventos das Olimpíadas e Copa do Mundo – todas essas ações fazem parte dessa readequação do capitalismo que aprendia a produzir “novos” espaços em territórios pretéritos. A produção do espaço deixava de ser a reforma civilizatória dos primeiros urbanismos, e passava a ser a constante renovação do espaço feita para a geração do lucro para os capitais, que financiam essa indústria a juros altos. Uma mercadoria de reprodução infinita, mesmo.
Mas no território dos espaços tangíveis, na materialidade da dimensão do vivido, a vida resiste e re-existe. As sociabilidades e seus ativismos, na medida que percebiam a ação de morte das forças dessa reprodução especulativa e infinita do capital, se reorganizavam e demandavam que seu direito à vida fosse respeitado. Os movimentos sociais urbanos e rurais; os movimentos socioambientais; a sociedade civil organizada; as associações de moradores; as sociedades indígenas e quilombolas sempre resistiram, e resistem, à dimensão privatizadora do que é concebido pelo capital, aliado ao Estado.
Talvez, a força dessas resistências à privatização da vida, para enriquecer as castas no espaço tangível, aceleraram a hibridação do tangível com o digital feito pelas tecnociências cibernéticas. A emergência do espaço cibernético – essa nova fronteira de expansão do capital – deu-se pela necessidade das castas resistirem às lutas na dimensão do vivido e de se reorganizarem, desterritorizalizando a produção de mercadorias de suas nacionalidades e reterritorizalizando o controle dessa produção por meio de uma eficiente rede mundial de trocas de informação e de recursos financeiros.
A disrupção aconteceu quando essa que era para ser uma rede de controle da comunicação de dados tornou-se espaço. O espaço cibernético emergiu no momento em que as redes de comunicação social, ou redes sociais, estabeleceram sociabilidades específicas, que apenas existem neste ambiente. Esta é uma outra natureza de espaço, ou outro espaço da Natureza, que guardam as mesmas dimensões do percebido-concebido-vivido dos espaços tangíveis do capitalismo. E, além, podemos ultrapassar as categorias lefebvrianas e criar paralelos com as relações ecológicas particulares da Natureza. O bioma é uma palavra de origem grega e diz de um ecossistema (Bio = vida + Oma = grupo ou massa) que necessita da atualização constante, em largas temporalidades, de saberes originais e padronizados para existir. Podemos criar a palavra ciberoma para percebermos sistemas originais e padronizados no ciberespaço (Ciber = cibernético + Oma = grupo ou massa) que também necessitam de atualização constante para existir, mas no ciberespaço contemporâneo estas ocorrem em curtas temporalidades, por meio de saberes hodiernos e disruptivos.
Essas palavras auxiliam na formulação de questões e ações para o ativismo dos e nos espaços contemporâneos. O ciberespaço também é uma mercadoria infinitamente extensível, mas se a natureza antes era tangível, agora ela é cibernética – sua sociotécnica, seus meios de produção e sua relação com o espaço tangível são diferentes e carregados de características muito específicas dada a hibridação com o digital. Por isso, para diferenciar essa inflexão histórica do surgimento dessa outra natureza de espaço, dizemos que espaço não é mais apenas produzido, mas também modulado. A modulação é uma operação de controle da comunicação por meio do processamento de informações e sinais (dados) direcionados a muitos usuários – ao mesmo tempo. É como uma única música tocada em um único espaço que controla as percepções e seus processos de subjetivação, sendo que esse espaço comporta ao mesmo tempo, milhões de usuários que existem e agem em ciberomas específicos com sociabilidades específicas que também impactam nos biomas e suas sociabilidades.
Tomamos esse nome para categorizar um novo modo de determinar o espaço, mediado pelas tecnociências cibernéticas e concebido pelos novos arranjos do cibercapitalismo. Os “dados” são a nova “mercadoria”, e sua feitura é realizada pela captura da atenção, direcionada por operações de controle que processam dezenas de zettabytes de informações ao ano, modulando os interesses da atenção dos usuários por meio de uma única “música”, aquela da preferência das castas proprietárias dos datacenters, ou seja, dos “meios de produção”, bem como colocado pela teoria marxista. Os datacenters são conjuntos técnicos que fazem a mediação entre trabalho humano e a natureza e, neste processo fazem a transformação de todas as relações de relações entre vivos e não vivos no espaço, isto é, transformam a natureza em si.
Comparando, a modulação no cibercapitalismo está para a produção no capitalismo. Os “modos de produção” dos que detém os “meios de produção” que produziam economicamente a expansão capitalista pela reprodução infinita dos espaços tangíveis, agora no cibercapitalismo, modulam dados pela captura cognitiva da atenção, e realizam a expansão do capital pela modulação do espaço nas dimensões inseparáveis do:
(4) – Percebido: em que os sujeitos já tem o letramento digital para mover suas práticas cotidianas em dobra (o) tanto na realidade tangível com cibernética do espaço. Ex.: aplicativos guiam a mobilidade dos sujeitos pelas ruas do planeta que sabem interpretar os dados coletados e modulados pelos datacenters. Quem modula as sociabilidades dos motoristas pelo mundo não são mais os costumes locais, mas as análises algorítmicas dos provedores acessados pelas plataformas dos aplicativos como o israelense Waze;
(5) – Concebido: o ciberespaço é totalmente idealizado por saberes disciplinares que dominam as noções convencionadas das ciências dos dados para o desenho/desígnio do espaço em dobra (do tangível e cibernético), por exemplo: a lógica homogeneidade-fragmentação-hierarquização do planejamento moderno. A concepção continua sendo ordenada pelos interesses privados das castas dominantes, agora do cibercapitalismo, limitado apenas pelas condições cada vez mais precarizadas da reprodução biológica da força de trabalho e das relações sociais necessárias à sua manutenção. Se no capitalismo os assujeitados, trabalhadores ou ativistas, não concebiam o espaço por falta de poder, essa assujeição aumentou exponencialmente Ex: as sociabilidades em dobra dos motoristas que trabalham com entregas movidas por aplicativos e que não tem condições de negociação de trabalho com os cibercapitalistas.
(6) – Vivido: a experiência cotidiana deste espaço em dobra é constantemente atualizada pelo letramento dos códigos digitalizados e dataficados. Esta atualização permite a relação dos usuários com o concebido pelas sociotécnicas cibernéticas e interesses do cibercapitalismo (plataformização, financeirização, datatificação, digitalização, etc., são aspectos desta reconfiguração do capitalismo). Mesmo os não usuários deste novo sistema-mundo são afetados pelo sistema, seja pela interconexão das relações, seja pela transformação da natureza em si. Ex: a captura de dados na compra do remédio na farmácia por idosos que nem mesmo utilizam smartphones e que são vendidos para golpistas ou satélites controlados por garimpeiros que mapeiam as movimentações de sociedades indígenas que resistem ao desmatamento e às queimadas no norte do Brasil, que por sua vez fazem chover cinzas em São Paulo. É nesta dimensão que as forças ativistas mais perdem força de ação nesta nova configuração espacial, por falta de uma sociabilidade ativista letrada o suficiente para agir, ao mesmo tempo, nos espaços tangíveis como no ciberspaço. Lutar hoje é poder resistir às capturas da atenção para os interesses das castas proprietárias, nestas duas espacialidades ao mesmo tempo (porém ou o ativismo está nos territórios dos espaços tangíveis ou está no ciberespaço). A triplicidade percebido-concebido-vivido é a apreensão concreta, mas duplamente articulada das duas espacialidades.
Na era histórica do ciberespaço modulado pelo cibercapitalismo, a primeira característica, talvez a de maior impacto para os ativismos, é a dificuldade de organização social nos territórios dos espaços tangíveis, no nível da informação, pelo baixo letramento dos códigos de programação dos dados requeridos para o acesso à modulação do espaço digital. O resistir precisa ser feito tanto no território tangível como nos ciberterritórios. As sociabilidades de ribeirinhos, povos das florestas, quilombolas, periféricos, e por que também não dizer, as de urbanistas e planejadores urbanos, precisam aprender a programar o código das suas pautas – do mesmo modo que precisaram ganhar o letramento das técnicas do “direto a”, precisam agora ganhar as técnicas do programar.
Mas, os dados e o capital que os controla e que criam robôs, inteligências artificiais, terapias sistêmicas desenvolvidas pelas neurociências baseada em informação coletada pela biologia computacional, isto é, os “meios de produção” deste novo espaço, não são acessíveis aos programadores ativistas. Estes são, entre outros, os novos instrumentos de dominação e expansão do espaço e estes recursos não estão disponíveis à maioria dos corpos (individuais e coletivos) das sociabilidades urbanas ou rurais presentes nos territórios.
Apenas uma pequena minoria privilegiada domina os códigos de informação dessas modalidades do capitalismo “cibernético” – e, cabe reforçar, isso inclui grande parte do campo técnico do urbanismo e do planejamento urbano e regional, ainda formados pelos conhecimentos técnicos pré-cibernéticos. O domínio das tecnociências cibernéticas atualizam, no espaço digital, as transformações das dimensões do percebido-concebido-vivido. Os avatares, os pix, os logins dos apps são os novos corpos digitais (individuais e coletivos) hibridados com os corpos (individuais ou coletivos) no espaço tangível, e todas as dimensões do espaço são agora duplamente ligadas, o corpo tangível é digital, e vice-versa. Somos, agora, todos ciborgues (p) e estamos evoluindo como uma biomáquina (individual e coletiva).
O espaço cibernético é a nova fronteira e a modulação é o novo modo de produzir esse espaço híbrido. Não há mais como pensar o espaço digital apenas como um sistema de informação e comunicação. Socializamos este (e neste) espaço concebido, trazendo para este as dimensões do percebido e do vivido. Se Lefebvre cria o rural e urbano como dimensões da sociabilidade do campo e da cidade, podemos dizer que há uma nova sociabilidade ciborgue, dos corpos biomaquínicos, intimamente ligados aos dispositivos cibernéticos – prótese ligada aos softwares; implantes para biosegurança; libido conectado a redes sociais, etc.
A modulação dos espaços concebida com as tecnologias advindas da cibernética é a matéria-prima básica e indispensável para a expansão e a reprodução do capital nos circuitos mundiais do atual capitalismo, e este fenômeno tende a expandir para além do controle e domínio do complexo econômico-industrial-financeiro-militar-acadêmico do sistema mundo ocidental norte-americano. Outros países parecem modular seus espaços, disputando o controle e domínio ocidental e, neste sistema mundo de poder multipolar, o Brasil participa de modo muito periférico. Esta é a questão espacial no Brasil contemporâneo, seja nas cidades, nos campos ou nos biomas tradicionais e originários. Esse é o problema do ativismo e do campo técnico que pretende organizar os desígnios para o espaço. Estamos sendo novamente colonizados pela incapacidade de atuar espacialmente nas dimensões do espaço cibernético, essa nova realidade concreta, global e local.
O ativismo em tempos de modulação do espaço e colapso ambiental
As castas capitalistas sempre procuraram meios de escapar aos limites impostos pelas lutas dos que a elas são submetidos. Tanto nas reivindicações por direitos, como nas revoltas ou revoluções, o capital sempre fez surgir sociotécnicas com capacidade de pacificar as demandas populares, seja pela violência ou pela sedução. Resistir aprendendo a programar o ciberespaço é necessário, principalmente no que tange as reivindicações do campo do “direito a”, mas, sabemos que outras sociotécnicas serão concebidas e sustentadas pelos interesses das castas para fazer frente a qualquer modo de organização popular.
Entretanto, um limite maior do que o conjunto de todas as lutas sociais está sendo imposto a elas, e este é o colapso ambiental criado pela crise climática – consequência do sistema colonizador e expansionista do espaço. Podemos afirmar, por essa premissa, que o grande limitador da ação das castas não são as lutas sociais em si, mas sim, sua própria cosmovisão e ação. Suas sociotécnicas cibernéticas (como as redes sociais, a realidade aumentada, a cibersegurança, a internet das coisas, o biohacking, ciborguismo etc.) intentam superar tanto os limites das condições biológicas e sociais de reprodução das forças de trabalho como os limites impostos pela mudança climática da Natureza (relação de relações entre vivos e não vivos no espaço), mas a distopia deste sistema-mundo é tão avassaladora que a própria existência das castas está em risco (infelizmente o risco não se limita a elas, todos são impactados e quem mais sofre são os pobres).
Na década de 1990, marco nos debates sobre o clima com a publicação do primeiro relatório científico do IPCC (q), ainda havia uma compreensão de que as mudanças
climáticas seriam benéficas para as castas e seus territórios privilegiados, localizados nos países do Norte Global. O aquecimento contribuiria para a agricultura e para o turismo, por exemplo. Entretanto, o que vemos é que a quebra de padrões climáticos estabelecidos ao longo dos últimos 20 mil anos desestrutura o domínio e o controle de qualquer atividade econômica planejada. A base de qualquer governo é esse controle planejado dos fatos da Natureza, dominado por humanos, esse é o fundamento da dimensão do concebido, e pilar dos instrumentos de poder e de organização social desde o advento da agricultura.
Todos os sistemas de autoridade das sociedades que planejam a vida em seus sistemas-mundo o fazem a partir da regularidade e previsibilidade dos padrões da Natureza. Seja na agricultura ou no abastecimento de água urbano, sem os padrões de previsibilidade das relações de relações entre vivos e não vivos estabelecidas nos últimos milênios, não há planejamento econômico, ou desenvolvimento, possível. Impostos, negociação de dívidas, vendas de commodities, seguros ou qualquer instrumento de aquisição de valor futuro perde sentido sem os padrões de regularidade longamente construídos pela Natureza.
Sem esses padrões, nem o Norte e nem o Sul Global poderão prever as condições das forças que interferem no clima, como: a temperatura, a umidade, a radiação ou mesmo a pressão atmosférica. A própria noção de domínio e controle dos sistemas de autoridade, sem a previsibilidade da Natureza, perde sentido. A desconexão do planejamento, ou seja, da dimensão do concebido com a Natureza, ficou evidente no relatório do IPCC (r) de 2022. Trinta e dois anos após o primeiro relatório as emissões nocivas de carbono de 2010-2019 foram as mais altas na história da humanidade, com aumentos de emissões registrados “em todos os principais setores do mundo”: 9,1 bilhões de toneladas a mais do que na década anterior.
A modulação é o único modo de reverter a negação que impede que aquilo que já se sabe, há três décadas, seja percebido e transformado nas dimensões do concebido-percebido-vivido do espaço. Por isso, a disputa das narrativas é cada vez mais importante, porque é na dimensão das percepções que a luta de classes e os ativismos são feitos no cibercapitalismo. E as narrativas em disputa estão, predominantemente, sendo sociabilizadas no ciberespaço. Portanto, as lutas precisam estar articuladas entre o
tangível e o cibernético e serem moduladas pelos interesses populares, ecologistas, etc.. Solicitar um diagnóstico de impacto ambiental só é relevante se houver junto um diagnóstico de impacto cibernético, e isso para qualquer ação concebida seja na implantação de uma escola, de um parque industrial ou mesmo da permissão de funcionamento de um aplicativo. Os impactos cibernéticos são impactos ambientais e sociais porque esta é, também, a natureza deste novo espaço.
É preciso atentar para as disputas narrativas das castas ocidentais, principalmente para os enunciados e as ações voltadas para a proteção ambiental que descolam as sociotécnicas cibernéticas da acelerada degradação ambiental dos espaços tangíveis. Quanto mais organizado são os discursos da Natureza modulados pelas castas (ex: A ONU discursando sobre sustentabilidade, energias renováveis, etc.) maior é a degradação da relação de relações entre os entes vivos e não vivos da Natureza. Este é um dado e não um discurso ideológico. É preciso correlacionar essas duas ações, não como um paradoxo, mas como um par de ação e reação.
É preciso apreciar, divulgar, vivenciar as percepções e narrativas dos socioambientalistas e dos contracolonialistas, principalmente para os enunciados e as ações voltadas para a proteção ambiental que sentem na pele os impactos das sociotécnicas cibernéticas em seus territórios. Os sistemas mundo desses sujeitos não são da ordem do concebido, planejado, e sim, são da ordem da relação de relações entre vivos e não vivos, estão mais próximos à Natureza.
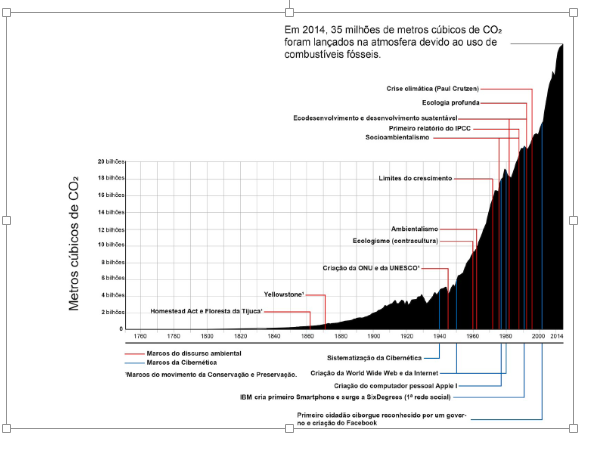
Gráfico 1 (s) – Representa as emissões de CO2 em relação aos marcos do discurso ambiental e da cibernética
Conclusão
A modulação do espaço é uma atualização do conceito da produção do espaço de Henri Lefevre. Ambos tratam do modo de perceber a Natureza enquanto uma coisa a ser apropriada e transformada em mercadoria, infinitamente, pelo capitalismo. A diferença é que no contemporâneo, o espaço tangível é, também, cibernético. Ambos possuem dimensões do percebido-concebido-vivido, com Naturezas (relações de tempo e espaço) distintas, mas imbricadas, em dobra.
Os dispositivos de controle e domínio cibernéticos sobrepujam qualquer organização das resistências territorializadas nos espaços tangíveis e sempre torna exponencial o ritmo de escravização da Natureza e seus entes porque para os ativismos do e no espaço e para os urbanistas e planejadores, o espaço cibernético ainda não é percebido como espaço, e sim como um sistema de informação e comunicação. Apoiar as narrativas ambientais concebidas e moduladas pelas castas capitalistas é impactar os espaços tangíveis e acelerar sua destruição, em escala exponencial. Este não é um paradoxo, mas uma constatação dada pelos fatos. As narrativas das castas modulam mononaturezas, monoculturas. As próprias castas, para sua sobrevivência, precisam aprender a conceber (projetar e planejar) a proteção ambiental com e neste espaço cibernético, mas não pelas narrativas “dos selos verdes” e dos empreendimentos “sustentáveis” e sim, pelos cosmoperceberes (t) dos sujeitos imbricados na vivência dos territórios que preservaram grande biodiversidade, isto é, de maior complexidade de relação de relações entre vivos e não vivos.
Os ativismos que lutam pela biodiversidade da vida e o campo do urbanismo e o planejamento urbano a esses aliado precisam atualizar suas narrativas, seus instrumentos de ação e seus objetos técnicos, imbricando os cosmoperceberes biodiversos em ambos espaços e de modo articulado. O futuro é ancestral, em ambos os espaços, do ativismo tangível e do cibernético. Um é o outro, e vice-versa. É preciso aquilombar de modo imbricado, nos espaços tangíveis e nos cibernéticos, e reinventar um ativismo ancestral brasileiro, como anunciado por Beatriz Nascimento (u): “aquilombar-se é o movimento de buscar o quilombo, formar o quilombo, tornar-se quilombo”. Ou seja, aquilombar-se é o ato de assumir uma posição de resistência contra-hegemônica a partir de um corpo político conectado a futuros pluriversais, construídos pela afetividade e acolhimento entre diferentes, isto é, é inventar novas sociabilidades de pertencimento entre vivos e não vivos, mesmo que no estranhamento, e aprender a despertencer ao conforto do “povo da mercadoria”.
Fecho o texto com as palavras de mestre Gilberto Gil, na canção “Cibernética”, como se essas palavras uma prece fosse: “ Mas será quando a ciência/ Estiver livre do poder/ A consciência, livre do saber/ E a paciência, morta de esperar/ Aí então tudo todo o tempo/ Será dado e dedicado a Deus/ E a César dar adeus às armas caberá/ Que a luta pela acumulação de bens materiais/ Já não será preciso continuar/ Onde lia-se alfândega leia-se pândega/ Onde lia-se lei leia-se lá-lá-lá”
E… Viva a Vida! Lá-lá-lá…
Notas:
a. Immanuel Wallerstein. A análise dos sistemas-mundo como movimento do saber. In: Pedro Antonio Vieira; Rosângela de Lima Vieira & Felipe Amin Filomeno (org.). O Brasil e o capitalismo histórico: passado e presente na análise dos sistemas-mundo. São Paulo: Cultura Acadêmica Ed., pp.17-28. 2012.
b. Michel Foucault. As Palavras e as Coisas. 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
c. Felix Guattari, F. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo: Brasiliense, 1981
d. Humberto Maturana. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001.
e. Karl Marx. O Capital. vol. 1, tomo I. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
f. Isabel Wilkerson. Casta: as origens de nosso mal estar. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2021. 580 p. [ebook]
g. Henri Lefebvre. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2013.
h. Brasil. Art. 1.228 do Código Civil (2002). Código civil brasileiro e legislação correlata. – 2. ed. – Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008.
i. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Universidade de São Paulo: Biblioteca Virtual de Direitos Humanos, 2015.
j. A lógica dialética diferencia da lógica formal por incorporar a contradição e a negação à síntese da totalidade de um fenômeno.
k. Joon Ho Kim. Cibernética, ciborgues e ciberespaço: notas sobre a origem da cibernética e sua reinvenção cultural. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p.199-210, jan./jun. 2004.
l. Marcelo Sávio Revoredo Menezes de Carvalho. 2006. A trajetória da internet no Brasil: do surgimento das redes de computadores à instituição dos mecanismos de governança. 239 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro.
m. Laymert Garcia dos Santos. 2003. A informação após a virada cibernética. In: Laymert Garcia dos Santos; Maria Rita Kehl; Bernardo Kucinski; Walter Pinheiro. Revolução tecnológica, internet e socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, pp.9-33.
n. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento foi evento ocorrido no Rio de Janeiro, em 1992, conhecida como ECO-92. Foi a segunda grande reunião das Nações Unidas sobre o meio ambiente e reuniu 178 Estados-nação.
o. A dobra é um conceito criado por Deleuze através de Leibniz que o cria a partir da instabilidade expressiva do Barroco. Aponta para uma ordem que vai do micro ao macro e volta, que vai do ponto ao infinito e volta, infinitamente” O barroco remete não a uma essência, mas sobretudo a uma função operatória, a um traço. Não pára de fazer dobras. Ele não inventou essa coisa: há todas as dobras vindas do Oriente, dobras gregas, romanas, góticas, clássicas… Mas ele curva e recurva as dobras, leva-as ao infinito, dobra sobre dobra, dobra conforme dobra. O traço do barroco é a dobra que vai ao infinito. Ver em: Gilles Deleuze. A dobra: Leibniz e o Barroco. Campinas, SP: Papirus, 1991.
p. Donna Haraway. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do sec XX in: Tomaz Tadeu (org) Antropologia ciborgue: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte, MG: Autêntica Editora, 2009.
q. Painel Intergovernamental para a Mudança de Clima, entidade criada em 1988, pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
r. IPCC AR6 WG3 Summary for Policymakers. Link em https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
s. Gráfico representando as emissões de CO2 em relação aos marcos do discurso ambiental e da cibernética. (elaborado a partir de gráfico disponível em: <https://climate.nasa.gov/news/3020/how-much-carbondioxide-are-we-emitting/> Acesso em: 14 de dez. de 2022.) Autores: PORTELA, T.B.. BRAGA, G.L.C. NASCIMENTO, F. A. de B.. Disponível em: https://anpur.org.br/anais-xxenanpur/sessoes-tematicas-sts/ Acesso em: 25 de nov. de 2023
t. O conceito de cosmologias pode ser amplo. Diferente da imagem que parte de uma relação intrínseca com uma predominância dos sentidos visuais e que permite construir a cosmologia como se apenas cosmovisão fosse, o imaginário amplia os sentidos do mundo para além das convenções padronizadas do olhar perspectivístico ocidental e abre o corpo para outras cosmologias ou, como chama Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí, outras cosmopercepções. Essas últimas podem criar modos contra-coloniais de imaginar o espaço, re-emaranhando o urbano, o rural e os biomas originários separados pela dicotomia ocidental moderna do patrimônio da Natureza para conservar e preservar de um lado e a propriedade dos zoneamentos urbanos e rurais para desenvolver. Um modo não ocidentalizado, que ainda percebe o linear e a velocidade em direção a um futuro como paradigma para o desenvolvimento, um pensar contracolonial pode ser imaginado a partir do “fazer curva”, em ações de resistência que não batem de frente, que cria o contra-hegemônico não violento, ou menos violento. Ver em: Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí. Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects in: Peter H. Coetzee; Abraham P.J. Roux (eds). The African Philosophy Reader. New York: Routledge, 2002, p. 391-415.
u. Beatriz Nascimento. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. In: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. SP: Instituto Kuanza, 2006, p. 117-125
TEXTO
Thais de Bhanthumchinda Portela
Professora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU\UFBA) e integrante do Grupo de Pesquisa CIPOs.
publicado em
- 29/10/2024
Temas
O espaço cibernético é a nova fronteira e a modulação é o novo modo de produzir esse espaço híbrido. Não há mais como pensar o espaço digital apenas como um sistema de informação e comunicação. Socializamos este (e neste) espaço concebido, trazendo para este as dimensões do percebido e do vivido.
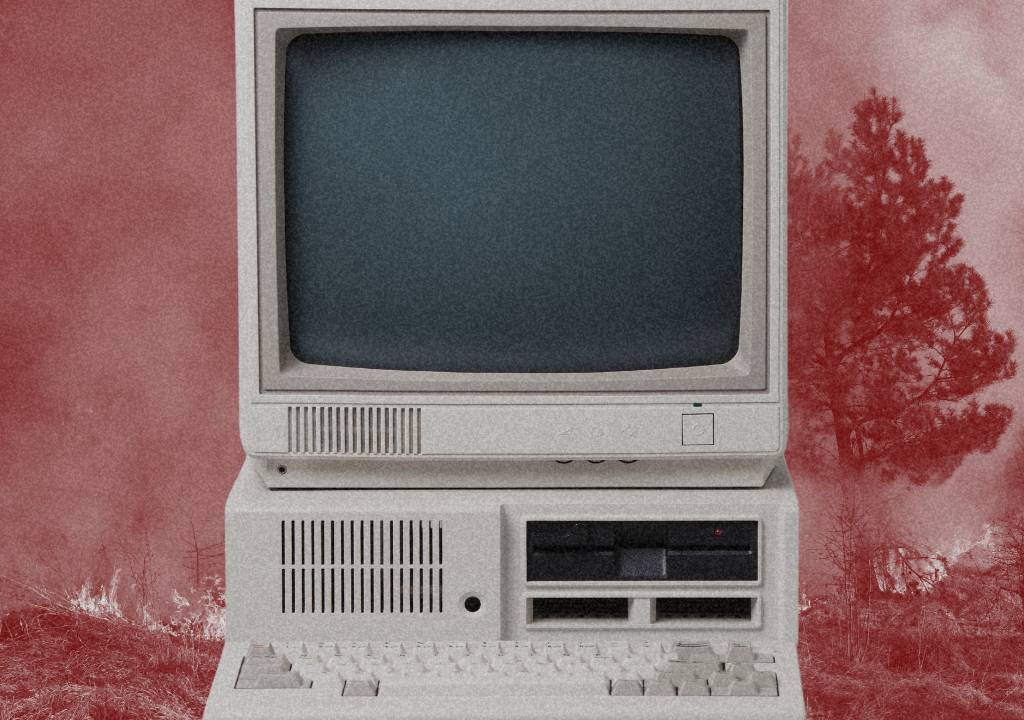
- Regulação das Plataformas de Mídia Social: Uma medida crucial envolve a regulação das plataformas de mídia social, que frequentemente são catalisadoras da disseminação da desinformação em massa. As autoridades regulatórias devem implementar medidas rigorosas para conter a propagação de informações enganosas. Isso inclui a transparência das políticas de moderação de conteúdo, a remoção de conteúdo falso e a responsabilização das plataformas por danos causados pela desinformação.
- Valorização da Cadeia de Produção de Informação em Contextos de Desertos de Notícias: Em áreas com escassa cobertura midiática, é essencial valorizar e apoiar a produção local de informações. Isso inclui o fortalecimento de veículos de comunicação independentes e a capacitação de jornalistas locais para cobrir questões climáticas e socioambientais.
- Diversidade de Vozes: Promover a diversidade de vozes e perspectivas na discussão das mudanças climáticas e questões ambientais é crucial. Isso inclui dar voz a comunidades afetadas desproporcionalmente por esses problemas, como povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos vulnerabilizados em territórios de contextos urbanos periféricos. Pesquisadores podem apoiar a amplificação dessas vozes e histórias.
- Justiça Climática e anti-racismo: A luta contra a desinformação ambiental deve estar ligada à promoção da justiça climática e equidade racial. Isso implica em abordar as disparidades socioeconômicas e raciais em relação às mudanças climáticas e garantir soluções equitativas. Pesquisadores podem contribuir com análises sobre essas disparidades, inclusive na pesquisa em comunicação, enquanto a sociedade civil pode fazer campanhas para pressionar os tomadores de decisão.
Mais recentes
Adicione o texto do seu título aqui
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.