Luh Ferreira
Educadora Popular, ativista, doutora em Educação
Encantada com o mundo, indignada com a situação dele
Amália Garcez
Ativista do Fridays for Future
Onde estão os novos espaços de resistência? Quais e como se dão as novas formas de resistência e de luta? Essas são perguntas que, continuamente, interpelam o corpo e a imaginação de ativistas (esses seres da ação e da insistência), que sempre se impõem a tarefa de encontrar alternativas, táticas, abordagens e modos de viver mais capazes de realizar as transformações que tanto pretendem e que dão sentido à sua existência. Essas são as inquietações permanentes que animam o devir-ativista – e que atravessam a luta concreta de gente tão diversa como Amália Garcez, Carlos Augusto Ramos, Léo DCO, Sarah Marques e Tipuici Manoki, cujos depoimentos compõem as páginas seguintes, e Luciana Ferreira, em comentário-síntese ao fim desta seção.

SOBRE A GURIA
Sou Amália, nasci em 2003, sou de Porto Alegre (RS). Já morei no interior do Rio Grande do Sul, na capital, no Canadá e agora estou na Finlândia; primeiro, pelo trabalho dos meus pais e agora, por intercâmbio. Sou interessada em cultura, mas a causa ambiental me preocupa muito. Tive de escrever um artigo para a escola sobre experimentação animal e isso me levou de alguma forma ao vegetarianismo e, consequentemente, às mudanças climáticas. Já são quatro anos vegetariana, e neste período minha pesquisa só aumentou. Sempre ligada e vendo os protestos na Europa, eu me perguntava: por que ninguém faz isso no Brasil? Então uma amiga intercambista na minha escola me provocou a fazer alguma coisa, mergulhei na internet para saber do Fridays for Future (FFF)(1), da Greta Thunberg, e toda essa movimentação da juventude. Gosto de dançar, mas estava com o pé machucado, o que me deixou com uma semana inteira livre, então fui a um protesto na minha cidade e nunca mais parei. Entrei para o Fridays, conheci a menina que estava organizando os protestos e viramos uma dupla. O que fazer? Como chamar mais gente? Como convidar estudantes nas escolas? Assumimos uma espécie de coordenação dos protestos em Porto Alegre, toda sexta-feira estávamos na frente da Assembleia Legislativa. Todas as semanas estávamos lá… Assim começou minha história de ativismo. Fora isso, sou uma guria adolescente, faço coisas típicas de adolescentes, leio, vejo TV, frequento a escola, gosto de estudar. Com a pandemia, nossas ações acontecem no ambiente virtual. Postamos fotos e cartazes, textos para contextualizar nossa ação. No tempo do isolamento e com a superconexão, minhas ações se intensificaram principalmente para fora de Porto Alegre. Durante a pandemia eu desenvolvi com amigos ativistas um trabalho com o SOS Amazônia: arrecadamos mais de 900 mil reais (2) para os povos indígenas e projetos na Amazônia. Na Finlândia, eu desacelerei. Meu ritmo estava muito pesado, eram muitas ações no Brasil, e na Finlândia a vida exige outras posturas e outros comportamentos. Se, por um lado, a Finlândia já entendeu que as mudanças climáticas são reais, por outro lado, as pessoas daqui querem muito saber da Amazônia. Faz apenas um mês que estou aqui e, na medida em que vou me instalando melhor, também vou ampliando minha participação. Tenho apresentações marcadas para falar sobre o que está acontecendo na Amazônia.
SOBRE A CAMPANHA
No Brasil, o FFF Brasil tem um grupo geral com reuniões regulares. Vimos autoridades e lideranças da Amazônia mostrando as consequências da pandemia, especialmente nas comunidades indígenas sempre tão ameaçadas. Então o prefeito de Manaus fez um pedido de ajuda para a Greta. Nós, do FFF Brasil, apresentamos os detalhes da situação a ela e fizemos um vídeo pedindo ajuda aos líderes globais: “Por favor, ajudem as pessoas que estão protegendo uma biodiversidade imensa. É nossa responsabilidade, mas também é responsabilidade das lideranças globais assegurar proteção aos ativistas na Amazônia”. Inicialmente as lideranças não se manifestaram, mas muita gente ofereceu ajuda diretamente para nós. Decidimos fazer uma coisa nossa, jovem, e foi uma novidade porque corremos atrás de uma organização para fazer as ações, para viabilizar as entregas e tal. Fizemos contato com a FAS – Fundação Amazônia Sustentável (3), que prontamente topou, fizemos contato com a Weligth (4) de financiamento coletivo (nós somos um movimento social, não temos a formalidade jurídica). Papo vai, papo vem, a campanha aconteceu. Decidimos as comunidades que seriam beneficiadas, decidimos que as cestas básicas fossem adaptadas para as respectivas comunidades, obedecendo os hábitos alimentares e as necessidades de cada uma. Tem cara de ativismo ambiental porque ajudamos com energia solar e coisas assim, não ficando restrito a uma cesta básica. Nós ampliamos para energia e wi-fi numa tentativa de garantir às comunidades o acesso à telemedicina, contribuindo com o isolamento social e evitando que as pessoas das comunidades saiam ou que médicos cheguem às comunidades. Primeiro, porque demora muito mas também pelo risco de contaminação com covid-19. Estamos felizes por ajudar as pessoas que cuidam da biodiversidade, essas pessoas são muito importantes para o meio ambiente, para a nossa luta. A gente precisa delas. A campanha segue. Para quem quiser doar: <sosamazonia.fund>. Estou feliz com a campanha porque ela vai muito bem. Tudo que arrecadamos até agora (exceto a doação da Greta) foram doações individuais de pessoas que confiaram no Fridays for Future e quiseram ajudar. Isso é muito importante. Ver as fotos das entregas das cestas básicas é tipo: “gente… nós ajudamos, tem um pouquinho de mim nisso”. Veja: justiça climática é justiça social! Não dá para focar apenas nas mudanças climáticas, no meio ambiente, sem pensar nas áreas mais afetadas e, sobretudo, nas pessoas mais afetadas. Enfim, não se faz justiça climática sem justiça social, e penso que esta campanha também contribui com isso.
FRIDAYS: OS DESAFIOS DE SER JOVEM ATIVISTA NA ATUALIDADE
Ser jovem hoje é muito difícil. Num mundo ideal nós estaríamos nos preocupando com escola apenas, mas percebemos que nosso futuro corre risco, o mundo está acabando diante de nós e isso vai afetar a todos. Temos que lutar! O desafio é conseguir que as pessoas estejam conscientes disso, seja adultos ou jovens, que saibam que podem agir, que devem agir. O movimento ainda é um pouco elitizado; eu mesmo sou privilegiada, tenho tempo, tenho recursos para fazer pesquisa, para saber o que está acontecendo com o mundo, mas a maioria dos jovens não reúne essas condições e isso é um problema. Não podemos ser um movimento de elites. No Brasil, o pessoal está criando o Favelas pelo Clima que é muito legal, muito importante. Esses desafios estão aí. Inclusive com as pessoas que sabem o que é aquecimento global, que sabem o que está acontecendo mas não querem agir, não veem importância. Mais até que os negacionistas, essas pessoas são difíceis (acho). Ao mesmo tempo, percebo o nosso crescimento. Ainda vamos incomodar muita gente porque não vamos parar, não vamos nos silenciar. Não vejo cansaço no nosso movimento, pelo contrário, vejo a força, o vigor do movimento que vem da preocupação com tudo isso. Temos muito a fazer ainda.
NOVOS ESPAÇOS E NOVAS FORMAS DE RESISTÊNCIA
O que eu mais tenho visto é perceber a interseccionalidade das lutas. Acho que está presente um novo tipo de luta. Nós, por exemplo, vemos justiça climática articulada com justiça social e justiça social tem feminismos, tem a luta antifascista, tem a luta LGBTQI+, todas as lutas estão interligadas se queremos um mundo justo. Me parece que as lutas estão se aproximando cada vez mais, e as linhas que separam as lutas estão desaparecendo. Não dá para lutar isolado, não dá para falar de meio ambiente sem considerar as pessoas que serão afetadas porque estão em situação mais vulnerável. Não dá para falar de feminismos desconsiderando que tem mulheres ainda mais afetadas pelo machismo e pelo racismo. Eu, por exemplo, não posso dizer que seja a mulher mais afetada pela injustiça social, mas preciso lutar em favor das mulheres que são. Essa aproximação dos movimentos é muito poderosa, isso vai mexer com muita coisa, porque a gente não tem mais os protestos de meio ambiente apenas com ambientalistas. As pessoas vão para as ações e carregam as suas causas. É como se tudo estivesse compondo na luta pela vida.
Eu gostaria muito de ter espaços na política brasileira para discutir as coisas sem uma polêmica desnecessária e agressiva. Acho que a gente vai conquistar isso porque estamos aumentando nossos espaços de influência política. Estamos conquistando espaços desde a casa, com a ampliação do diálogo na família, nas escolas e outros espaços também. O mundo é nosso agora para discutir e, se tudo der certo, para salvar o que está ruim.
SOBRE A CAUSA ANIMAL
Penso que, idealmente, todo mundo possa ser vegano. Eu optei pelo vegetarianismo quando descobri que, para a indústria alimentícia, um animal deixou de ser um animal e passou a ser um objeto, um produto. Isso não é sustentável nem para o animal nem para o planeta, além do sofrimento desse ser vivo animal. Cada vez mais gente percebe essa lógica nefasta, o que tem provocado uma consciência do que estamos consumindo. O simples fato de reduzir o consumo de carne animal já é uma grande contribuição. Eu sei que não é tão acessível, eu sei que demanda tempo para planejar, para cozinhar, tempo e dinheiro, mas quem pode fazer esses cortes, e tem consciência disso pode agir. Agir é mudar a relação com o consumo de carne animal. Bá, o mundo está meio que acabando e a gente precisa fazer alguma coisa.
TUDO SE RELACIONA NO ATIVISMO AMBIENTAL
Eu quero muito ir para Amazônia, quero conhecer os lugares que ‘conheci’ nas conversas com a FAS. Eu gostaria muito de conhecer as pessoas com quem trabalhei para viabilizar a campanha e, sobretudo, as comunidades que foram atendidas. Essa campanha me fez aprender muita coisa sobre a Amazônia. Mas devo dizer que nunca fui para a Amazônia, nenhum dos meus colegas do ativismo no Sul foram para lá. Historicamente, o Sul fez muito ativismo ambiental. Me parece que a luta climática e ambiental no Sul foi mais interna, mais focada no desmatamento, questões mais pontuais, mas a gente começou a olhar para a Mata Atlântica… Acho que agora está se ligando, tem a interseccionalidade, não vemos mais separado em ‘a Amazônia’, ‘o Pantanal’, ‘o Cerrado’, vejo as partes e as relações porque uma coisa tem impacto na outra. É isso que eu tenho sentido e por isso tenho feito meu ativismo, porque as lutas estão juntas independentemente das pessoas estarem distantes. Apesar da distância, estamos todas vinculadas nos ideais e nas lutas. O diálogo proporciona isso e, neste aspecto, as redes sociais ajudam. Mas eu adoraria tomar um banho no rio Negro. É necessário lutar do jeito que for possível, mas é claro que eu quero muito sentir esses lugares, tomar banho de rio para sentir com o corpo tudo o que já me encanta ao estudar, ao pesquisar, ao conversar com ativistas queridas que venho conhecendo.
Notas:
1 https://www.fridaysforfuturebrasil.org/
2 Exatamente R$ 926.322,24 (1733 doadores) conforme o site da campanha em 5/nov/2020.
3 https://fas-amazonas.org/
4 https://welight.co/
Carlos Augusto Ramos
Engenheiro florestal do Estuário do Rio Amazonas
Onde estão os novos espaços de resistência? Quais e como se dão as novas formas de resistência e de luta? Essas são perguntas que, continuamente, interpelam o corpo e a imaginação de ativistas (esses seres da ação e da insistência), que sempre se impõem a tarefa de encontrar alternativas, táticas, abordagens e modos de viver mais capazes de realizar as transformações que tanto pretendem e que dão sentido à sua existência. Essas são as inquietações permanentes que animam o devir-ativista – e que atravessam a luta concreta de gente tão diversa como Amália Garcez, Carlos Augusto Ramos, Léo DCO, Sarah Marques e Tipuici Manoki, cujos depoimentos compõem as páginas seguintes, e Luciana Ferreira, em comentário-síntese ao fim desta seção.

TRAJETÓRIA
Sou engenheiro florestal, nascido em Portel, na mesorregião do Marajó, registrado em Belém (PA), mas criado nas matas do Jari, divisa entre o Pará e o Amapá. Juntando todas essas regiões, posso dizer que sou do Estuário do Rio Amazonas. Isso diz muito da minha ideia de floresta. Portel ainda é um dos municípios mais madeireiros da Amazônia. Belém tem a relação urbana e periurbana; e o Jari, o maior plantio de eucalipto da região Norte. Ou seja, estão presentes a floresta, a anti-floresta (digamos assim, porque um plantio de eucalipto é uma floresta artificial) e, também, pela minha infância viajando para Breves, o extrativismo do ribeiro e da ribeira, que é a origem da minha mãe. Desde criança trago a visão do que é a floresta e suas contradições.
TEIMOSIA
Ontem eu recebi a notícia de que minha dissertação de mestrado está finalmente na biblioteca da UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia), onde devia ter estado há 20 anos. Fiz o mestrado em 2000, fui aprovado, mas, pela minha teimosia, eu me neguei a entregar um artigo. Eu me matei para fazer a dissertação e não admitia que um artigo me impedisse de ter o título. Eu teimei, e essa teimosia se arrastou por anos e anos. Foi polêmica minha defesa: enquanto um professor me deu nota 10, outro queria me reprovar “porque eu enfrentei a banca” (a fala da época). A discussão durou mais de duas horas e foi tumultuada. Gerou um certo trauma em mim. Sentia que o próprio sistema acadêmico nos oprimia. Enquanto isso eu vivia a minha vida de ativista: fui trabalhar na organização não-governamental FASE, no Marajó, sem usar jamais o termo “mestre”, porque eu não me julgava merecedor se eu não tivesse o diploma. Em 2018, minha filha, minha esposa e amigos me convenceram de enviar o artigo: “envie, porque você vai poder ajudar a formar pessoas dentro da academia” – e isso bateu num ponto fraco meu, a juventude amazônida. Estou recebendo finalmente o diploma. Mas foi uma batalha pela minha ideia de educação popular da floresta e não de educação da academia. Uma coisa não impedia a outra, eu sei. Mas eu não queria ter aquelas amarras, eu queria sair a campo e fazer o que eu fiz. Hoje estou tranquilo para escrever artigos com base na minha vivência, com a minha visão de mundo, pronto a repassar o que eu vi e os ciclos que eu já vivenciei.
BALIZAS
A pesquisadora Ana Euler e eu escrevemos um artigo sobre o resultado de uma das etapas do projeto Bem Diverso, executado pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O resultado foi uma análise do uso da terra, do uso da floresta, em 35 anos de luta no município de Afuá, um dos 16 municípios do Marajó – o que me ajuda muito a pensar sobre onde estão os novos espaços e as novas formas de resistência. Vou dar esse exemplo porque vai nos ajudar a raciocinar. Em 1984, cria-se o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Afuá. O lema era lutar pela terra. Havia muita gente expulsa, muita ameaça dos coronéis. O pessoal se juntou e fez um trabalho de base muito bom. Neste artigo – “A quarta baliza do agroextrativismo”—, definimos na linha do tempo que o primeiro marco ou a primeira baliza no caso de Afuá seria a criação do sindicato e o assassinato de uma liderança chamada Bira, triste evento que mobilizou e organizou as pessoas para a criação da entidade. Em 2007, nós identificamos a segunda baliza: a criação dos assentamentos agroextrativistas de Afuá, uma permanência daquela luta que começou em 1984 e que teve fundamentais lideranças para esse resultado como Erivelton Miranda – que nos deixou recentemente –, Manoel de Nazaré, Maria Oleide, Manoel Maria, Zé Maria, Dona Verônica, José Amorim, Vitoriano, Vanda e muitas outras. Eu entro nessa história em 2000, com muita luta, muita mobilização, muita sensibilização dos profissionais do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) à época.
“MONSTROS!”
A terceira baliza é 2019. É o momento da supremacia do agroextrativismo. Até então, porque eu costumo verificar os números do ordenamento territorial no Marajó, eu não tinha certeza de quanto era a reforma agrária que havia sido conquistada em Afuá. Não havia tecnologia. Afuá tem uma baía no meio, mas eu não sabia o quanto de água tinha o município. Foi quando surge o MapBiomas (1), plataforma de mapeamento dos recursos naturais no Brasil, que mostra também os corpos hídricos. Cerca de 30% do município é água, o restante é área habitável. Então fomos para a soma da reforma agrária: 95% das áreas habitadas de Afuá são assentamentos agroextrativistas! Foi um espanto. Apresentamos a descoberta para Afuá. Tenho muita vontade de falar sobre isso e até hoje me surpreendo. A juventude então olhou para o pessoal de 70 anos, que fez a luta em 1984, e disse: “Vocês foram monstros! Você são lenda!”. Agora temos os números dessa lenda. Você veja outros municípios: Gurupá, com 91%, e São Sebastião da Boa Vista, com 96% de assentamentos agroextrativistas.
Só que havia outra questão que a gente precisava responder, pergunta que eu me fazia quando andava por lá e via o pessoal ter placa solar nas casas, ter internet, ter não uma simples canoa, mas uma rabeta, uma voadeira, uma casa digna, casas aliás muito melhores do que casas de Belém. O que aconteceu? Nós fizemos um diagnóstico numa ilha chamada Ilha do Meio. Entrevistamos 30% dos moradores, dentre 470 famílias, e vimos uma situação que confirma uma frase de um amigo, Jorge Pinto: “Afuá e Gurupá conseguiram domar o capitalismo”. Mas era uma impressão dele, ele não tinha números. Nós chegamos à conclusão que a renda per capita proveniente do açaí nessa ilha por mês era de 446 reais. Isso é bom ou ruim? Comparamos com o investimento federal por habitante em Afuá, que era de 135 reais/mês. O açaí colocava três vezes mais. Jorge Pinto estava certo. Ao contrário de Portel e Melgaço, em que a situação é paupérrima, em Afuá as pessoas passaram a ter uma situação de dignidade, digamos assim, mesmo com todas as carências em políticas públicas. Enquanto isso, naquelas cidades, Portel e Melgaço, a atividade madeireira expropria o recurso natural, ela realmente é predatória – e quando o recurso é das famílias, da comunidade, quando ele é mais horizontal, você vê a circulação da riqueza mais presente entre as pessoas. Isso me faz lembrar da quarta baliza: o limiar do Bem-Viver. Ou seja, a capacidade dos direitos territoriais e de uso da terra de trazer junto os direitos universais que nos são tirados, por exemplo, educação, saúde, saneamento básico. Se você pega o orçamento geral da União, há 0,02% do investimento do Brasil em saneamento básico, um absurdo – e você observa o pessoal tendo, com a riqueza do açaí, a possibilidade de tentar diminuir esse atraso num item essencial da vida. Mas é um processo de 35 anos de luta de um município inteiro em sua zona rural. É importante você trabalhar com a comunidade e ela perceber que dá para pegar o recurso do açaí e aplicar em tecnologia de comunicação, em internet, no banheiro, na ponte da escola, na alimentação básica para o aluno merendar e poder se transformar em cidadão etc. Hoje o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais continua forte e mantém uma estrutura de 90 delegados sindicais (que deveria existir em todo sindicato, mas da qual muitos abrem mão) atuando em Afuá. São 90 lideranças que circulam pelo município e discutem políticas públicas pelo sindicato. Geralmente essa ideia de colegiado se perde nos municípios, ainda mais em comunidades tradicionais. Quem faz isso de ir a todos os cantos é a igreja, a educação, mas organização social é muito raro. Os delegados andando pelo município, se informando, fazendo os esclarecimentos, metodologicamente, fazem toda a diferença: não deixa, por exemplo, que pastores neopentecostais e suas muitas atitudes que distorcem até mesmo a Bíblia ganhem força, pois o sindicato está ali presente para fazer o contraponto. Já em Portel, os pastores de má fé ganharam muita força e a situação é mais complicada de enfrentar. Gurupá e Afuá conseguiram fazer bem seu dever de casa.
SOBERANIA
Isso faz pensar nos novos espaços. Um novo espaço é o da juventude conectada – mas com soberania de comunicação (do mesmo modo como falamos, para além da “segurança” alimentar, de soberania alimentar). É você trazer as pessoas, para elas não serem mais invisíveis, para elas poderem falar o que elas pensam e da sua vida, mas, como diz o Chico Science, com “a antena fincada na lama” (2). A juventude florestal cada vez mais vai tomar consciência disso. Como sou uma pessoa de meia-idade – não estou na casa dos 60 nem na casa dos vinte-e-poucos –, minha posição é de transição, meu lugar de fala é da transição de gerações. E eu preciso pensar em como ajudar a nova geração a ter esse espaço comunicacional. Como esse espaço pode evitar, por exemplo, a venda de crédito de carbono sem o conhecimento das comunidades? Isso está acontecendo em Breves (tem até uma ação na Justiça) e em Portel: a comunidade da Gleba Jonas Peres 2 já se rebelou contra aqueles que foram fazer Cadastro Ambiental Rural (CAR) para doar terra, sendo que já moram no assentamento, e depois se descobriu que era para especular em cima de crédito de carbono, sobre as cotas de reserva ambiental. Se essas pessoas não têm internet e comunicação como direito, elas vão ficar às cegas, elas não vão poder enxergar o que está acontecendo. O teste maior foi o próprio Cadastro Ambiental Rural, que considero que não foi uma política pública, mas uma política de desigualdade da regularidade ambiental: quem tinha internet e conhecimento, quem tinha grana, fez; quem não tinha, nem soube e hoje tem muita dificuldade de realizar seu registro. E mesmo que tenha sido feito de maneira institucional, como no caso dos assentamentos do Incra, que têm um CAR coletivo, há casos de gerentes de banco que não aceitam o CAR coletivo porque acham que precisa um CAR individual. Nós fizemos o Banco da Amazônia se posicionar, mas a prática dos gerentes das agências é de não aceitar, e isso divide a comunidade. Os novos espaços passam pela inclusão digital para que se possa explicar para a opinião pública o valor dos territórios dos povos da floresta. Uma amiga, adepta de Paulo Freire, questiona a tecnologia da educação à distância, pois afirma que as pessoas têm de estar próximas. Por outro lado, você não tem como evitar a comunicação online. Se a gente não fizer a ocupação desse espaço, prevalecerão aqueles que espalham fake news e novas formas de colonização. Os jovens precisam aprender como se posicionar. É uma versão 2.0 da “antena fincada na lama”. O Chico Science disse isso nos anos 1990; agora tem de criar um novo lema: “o wi-fi andando de rabeta”, para as pessoas poderem dizer “estou aqui, eu vivo do açaí, ele é um produto que alimenta”. Isso tem de chegar até em quem está na Europa, pois você não pode especular com o açaí, o açaí é alimento. Não posso transformar o açaí numa commoditie como o arroz. Neste período em que o arroz ficou caro, é o açaí nas comunidades que vale o rango junto com o peixe.
A VELHA ESPECULAÇÃO
É preciso também frisar sobre o termo “bioeconomia”, que já nasceu capenga, porque você tira o sufixo “sócio” e tem uma grande e proposital negligência de semântica. Temos de lembrar que houve uma ressonância positiva do sufixo “bio” na expressão sociobiodiversidade, que já é um tema gravado pelas populações tradicionais e pelas políticas públicas. O Brasil vinha avançando nos últimos 15 anos com o uso do termo sociobiodiversidade. Isso não pode ser jogado na lata do lixo porque apareceu uma “coisa nova”, que é a bioeconomia. As palavras têm força. Por exemplo, desenvolvimento sustentável: “Vamos fazer desenvolvimento sustentável e isso vai salvar o mundo!” – não salvou. Neste momento chegam para dizer que agora é bioeconomia. Mas a tal bioeconomia é o cara fazer o Cadastro Ambiental Rural e oferecer no mercado da Bolsa de Valores e a comunidade não ser escutada sobre o que está acontecendo? É necessário fazer um confronto de ideias até com gente que julga ser grande defensora da floresta. Eu estou na linha de pensar que a bioeconomia chegou sem ser convidada: fala de ativos, fala de mercado especulativo. É desconfortável. Eu olho o orçamento geral da União e vejo a dívida pública comida pelos bancos privados em 40%. O mercado especulativo se apossou do Brasil. Você então vem com uma proposta “revolucionária” em que o mercado especulativo tem o espaço para ele? Isso não é mudança.
Não mudou nada, apenas acelerou, porque hoje é tudo acelerado; como diz o Mário Sérgio Cortella, essa é uma situação simultânea, global e veloz. E as estruturas das nossas políticas públicas de cidadania ainda estão num nível de persistência, paciência e resistência. Há um descompasso. A gente precisa não passar pano mais nas coisas. A bioeconomia é uma espécie de negociação com o capitalismo, tipo “topa colocar aqui um bio?”. Não adianta enrolar mais, mudar nome mas não mudar a forma, e a espécie humana levar o planeta para a cucuia…
CONVERSA INTERGERACIONAL
Não é à toa que surgem uma Greta Thunberg, uma Alice Pataxó ou uma Bianca Barbosa — jovem quilombola marajoara —, uma nova geração, que num salto evolutivo, vem dizer: “Vocês estão enrolando; nós estamos em risco mesmo; nós vamos morrer.” Essa geração entre 14 e 20 anos já está alertando, com uma maturidade impressionante. Só que essa geração impressionante que vem para os novos espaços precisa entender alguns conceitos e princípios que, por causa de sua tenra idade, não passaram pela experiência. Daí a importância da nossa geração de transição, de dar a mão para essa geração, mais forte, com mais vontade e mais atitude pública, para ajudá-la a entender como algumas coisas acontecem, porque também nós somos repassadores da história viva. Se eles aceitarem escutar a gente, vamos ter muita chance de reverter a destruição. A gente fala muito de luta de classes, mas a gente deveria olhar mais para os aspectos geracionais também. Um novo espaço diz muito sobre: eu quero ser veloz, mas quero estar incluído; eu quero ser simultâneo, mas quero estar incluído; eu quero ser global, mas quero estar incluído.
REDE DO AÇAÍ
Outro dia estava pensando na precariedade da uberização: o entregador está levando comida e está com fome. Ao contrário, aqui em casa, eu peço açaí pelo Whatsapp ou pelo aplicativo da lojinha do batedor de açaí, que tem seu próprio entregador. Você tem o circuito do açaí, que ainda é do povo, e ele precisa manter as relações próximas entre quem movimenta a economia. O Uber é um processo algoritmizado, no qual você não consegue ter relação com aquele que te contrata. Você vai reclamar para quem? Como você vai reivindicar o direito a EPI (equipamento de proteção individual) e a um adicional de periculosidade, se tudo está na nuvem? No caso do açaí, a relação entre o entregador e o batedor de açaí ainda é humana, digamos assim, e eu espero que isso não mude. Faço inclusive a defesa de que há alternativas de usar tecnologia e manter as relações. Assim: quem está na floresta manda um whatsapp para quem está no barco; quem está no barco pega o açaí e manda uma mensagem para quem está no porto; quem está no porto manda para o batedor; aí o batedor bate o açaí e manda mensagem para o entregador. Eu fiz o pedido ao batedor para o entregador trazer. Ou seja, apesar da tecnologia, eu mantive a relação humana do processo, uma situação em que ainda se pode reivindicar um melhor açaí para o batedor; em que o entregador pode reivindicar que lhe paguem melhor salário; o batedor pode reivindicar que diminua o custo do transporte desse atravessador; que se pode reivindicar que quem está na floresta possa manejar a floresta; e quem maneja a floresta pode reivindicar que não seja arrebentado por um preço ruim do atravessador. A cadeia do açaí ensina muito para a gente. As relações humanas precisam ser mantidas. É uma forma de resistência. O Papa Francisco diz que a gente não pode ser serva do dinheiro, o dinheiro tem de trabalhar para a gente. O algoritmo não pode ser nosso patrão, ele deve ser utilizado como ferramenta.
PRESTAR ATENÇÃO
Uma coisa que o pessoal do estuário faz muito é escutar rádio. Prestar atenção no que o outro está falando, se preparar para escutar, isso é uma cultura do rádio, muito presente na região do Marajó – que estimula sua mente a imaginar o outro falando, a imaginar as cenas, um exercício mental muito interessante. Um pacote de vídeo pronto deixa tudo mastigado, não precisa da sua imaginação. O áudio faz você montar desenhos e figuras na cabeça, prestar atenção. Uma coisa é eu falar que dá errado, mas a nova geração não quer “acreditar”, ela quer saber, ela quer experimentar. Como você comunica e cria as bases para, por exemplo, uma pessoa não pegar numa combóia, saber que se trata de uma cobra venenosa? Isso vale para o enfrentamento aos fascistas, porque passamos anos dizendo que essa cobra venenosa matava e há gente que não acredita nisso. Há um problema comunicacional, de resposta política, de cidadania, para que as pessoas percebam também que há o que perder. Imagine: um fator responsável por tudo o que estamos passando é o fundamentalismo religioso. Muitas pessoas foram seduzidas por ele porque não estavam encontrando ou recebendo nada do Estado e da política brasileira. “Deus vai resolver”, dizem; pensam a prosperidade a partir de Deus. A gente precisa profundamente analisar onde falhamos nesse quesito. O fundamentalismo foi avançando, avançando, e é a mesma coisa que esse presidente, que se sente impune, faz, cuja tendência é só radicalizar. Tudo isso até o momento em que tudo pode virar uma grande carnificina. Essa é a situação perigosa. Como o Brasil é muito grande, diz aquela frase de Conceição Evaristo: “é tempo de aquilombar-se”. Eu acredito que é possível que as comunidades amazônicas e os espaços dos quais faço parte, ativistas, socioambientalistas, possam se perceber assim. Precisamos nos proteger, fazer o debate coletivo (porque não se sabe mais o que é público e o que é privado, mas precisamos realmente entender o que é o coletivo). O coletivo é uma saída para a gente tentar resistir, proteger os fundamentos que ainda geram dignidade.
Notas:
2 Uma antena parabólica enfiada na lama é uma das imagens-símbolo do movimento cultural e musical Manguebeat, surgido em Pernambuco nos anos 1990, que combinava ritmos regionais tradicionais, como o maracatu e o coco, ao rock, hip hop e música eletrônica, com forte viés crítico à desigualdade brasileira. Chico Science, morto em 1997, foi o principal nome do movimento, junto da banda Nação Zumbi. Também integrantes do manguebeat: Mundo Livre S/A, Mestre Ambrósio, Sheik Tosado, entre outras.
Sarah Marques
Liderança comunitária
Onde estão os novos espaços de resistência? Quais e como se dão as novas formas de resistência e de luta? Essas são perguntas que, continuamente, interpelam o corpo e a imaginação de ativistas (esses seres da ação e da insistência), que sempre se impõem a tarefa de encontrar alternativas, táticas, abordagens e modos de viver mais capazes de realizar as transformações que tanto pretendem e que dão sentido à sua existência. Essas são as inquietações permanentes que animam o devir-ativista – e que atravessam a luta concreta de gente tão diversa como Amália Garcez, Carlos Augusto Ramos, Léo DCO, Sarah Marques e Tipuici Manoki, cujos depoimentos compõem as páginas seguintes, e Luciana Ferreira, em comentário-síntese ao fim desta seção.

Eu tenho 39 anos, sou mulher negra, mãe solo de Rafael e Juliana, gêmeos adolescentes. Sou nascida e criada em Caranguejo Tabaiares. Meus pais se conheceram e se casaram aqui, tiveram dois filhos, eu e meu irmão, Sócrates. Meu pai foi liderança comunitária, assim como toda minha família. Meu tio participou da construção da sede da União de Moradores e meu pai foi se envolvendo. Fomos criados nesse meio de trabalho pela comunidade.
Desde os meus 11 anos de idade eu já me reunia com mulheres e crianças da comunidade na Associação de Moradores. Lembro-me bem das filhas e netas de Seu Arlindo e das festas que fazíamos: Dia das Crianças, Dia das Mães, São João. Quando eu tinha 14 anos, a Etapas (ONG contratada pelo Sebrae) chegou aqui na comunidade para fazer uma pesquisa com o objetivo de levantar os problemas enfrentados pela comunidade. Eles queriam ouvir as donas de casa, as mulheres e homens desempregados, mas muitas de nós, jovens da comunidade na época, também nos envolvemos e participamos dessa pesquisa. Foi aí que me aproximei do trabalho com ONGs e, então, fui crescendo nesse meio.
A MINHA COMUNIDADE
Eu acredito no fazer político e no trabalho comunitário, que aprendi trabalhando em ONGs, em gestões municipais e quando fui filiada em partido político. Eu refleti e resgatei minhas memórias e minha história e me lembro do meu pai no final de semana jogando futebol (o futebol está diretamente ligado às origens da comunidade e à criação de sentido coletivo e de união), minha mãe preparando comida para os eventos da comunidade, e isso foi me levando a compreender o que significa defender esse território e a acreditar de verdade. Todo esse povo de fora, do capital, do dinheiro, fica tentando fazer com que nós acreditemos que viver bem é sinônimo de sair das comunidades.
Aqui, quando se é pequena, se brinca na lama. Mas quando você cresce, vai pra uma entrevista de emprego, vai para a escola (que geralmente não é no seu bairro quando você mora numa comunidade), essa mesma lama que você gostava de brincar é a lama, quando você chega nesses lugares, sobre o que as pessoas falam: “Chegou o cheiro de lama! É fulana que mora em Caranguejo!” Isso começa a mexer com você. Eu, por exemplo, moro na margem do canal. Hoje sei e entendo que é um dos canais mais importantes da cidade, que deságua no Rio Capibaribe, que traz toda a drenagem da água, impedindo o alagamento e salvando a cidade que fica abaixo do nível do mar. Quando esse canal chega aqui dentro da comunidade, essa água já está suja — e o poder público permite isso, faz isso, para que nós tenhamos vergonha e medo. Esse poder do capital, o poder do governo, que deveria estar defendendo a gente, prefere retirar as famílias que moram às margens desse canal. Dessas compreensões é que me vejo não apenas como uma liderança comunitária, mas também como uma defensora do território — porque um dia eu já tive muita vergonha de dizer que morava aqui, mas hoje não tenho mais.
A FORMAÇÃO DA LUTA
Esse é o despertar de uma defensora de território, de uma defensora de histórias: a minha história; a história de Dona Maria, de Norma, minha mãe, de Siraquitan, meu pai, que foi liderança; as histórias de mulheres que aterraram esse chão, como Dona Gilda, que sustentou seus filhos, construiu com as próprias mãos casas pra eles aqui na comunidade; as histórias que vão tecendo essa rede de gente que se conhece, que se cuida. Quando me descubro defensora, me descubro defendendo inclusive isso, não apenas o canal sujo. Muitas vezes somos atacadas, com acusações de que queremos continuar perto de um canal sujo, de uma comunidade suja, sem saúde… Porque aqui temos um único posto de saúde para quase cinco mil pessoas, uma única dentista para quase cinco mil pessoas… Mas isso não é porque somos pobres, isso é porque o governo não investe em nós; não investe porque quer que a gente sinta vergonha, porque não quer que gente de pele preta, com essa cara que eu tenho e todos daqui têm (caras bem parecidas, aliás), tenham acesso a um território que, por exemplo, vale 6 mil reais o metro quadrado e que, quando a prefeitura vem querendo comprar, paga cento e poucos reais o metro construído. No momento em que se atina pra isso, quando a gente se descobre fazendo parte dessa comunidade, a gente consegue trazer mais gente pra luta, formar mais gente pra luta. Nos formamos na luta e formamos muita gente, juntos.
PODER
Essa ideia de novos espaços de resistência é algo que sempre passa pela minha cabeça. Onde estão as novas formas de resistência? Penso que podem até haver novas formas, mas não lugares novos. Sempre digo que quando nascemos mulheres pretas, faveladas, não temos escolha: ou lutamos ou morremos. Esse lugar está posto pra nós, sempre esteve, o lugar de luta. Agora, o que nasce em nós, o que aparece, o que desperta em nós é a compreensão sobre a defesa do território, de nossa história quando começamos a entendê-la. Para aquelas que conseguem, esse despertar aparece também no momento em que nos sentimos livres.
Parece contraditório defender um território e ser livre, mas estou falando da liberdade de não ter amarras políticas, falo da liberdade de poder escolher quem te representa de verdade.
Eu acredito que o poder público dá a nós formas e ferramentas para executar algumas coisas, mas, se não tivermos representatividade nos Poderes, não conseguimos executar nada. Mas, quando me vi livre, sendo apoiada, quando comecei a estudar a minha história de verdade, tudo o que eu vivi dentro dessa comunidade; quando olho para como era a vida dos meus pais, que dividiam até as tábuas pra fazer os barracos, a areia, as telhas, para que todo mundo pudesse ter sua casa; pensei em outro tipo de poder. Falo sobre conhecer outros espaços de poder que podem nos apoiar, que não estão atrelados às politicagens concentradas nas mãos dos políticos.
COLETIVO CARANGUEJO TABAIARES, RESISTE!
Em 2018, formamos o Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, em resposta a uma comissão montada no Ministério Público com as nossas denúncias. A ideia do Coletivo era trazer para a comunidade os debates que estavam acontecendo lá dentro do Ministério, já que apenas o representante poderia participar. O poder público, em princípio, não queria aceitar que eu fosse a representante da comunidade nessa comissão, porque eu não tinha sido votada e não estava em nenhum grupo formalizado, mas foram as próprias pessoas daqui que escolheram e disseram que queriam que eu participasse. Então criamos o Coletivo e, ai, eu participei da comissão, e ainda fizemos os cine-debates na comunidade, levando de rua em rua o debate político e social, a luta comunitária, as histórias das pessoas que defendem seus territórios, as vozes da comunidade, a educação e a prática política com muitas formações, apoiados por várias organizações.
Daí surgiu o Brega Protesto e o curso de audiovisual. Trouxemos pra comunidade o debate sobre esse tema: Quais são as formas de luta? Onde estão essas novas formas? Apesar de estarmos no mesmo lugar, conseguimos ter acesso a algumas formas que meu pai e minha mãe não tiveram, como, por exemplo, as mídias digitais e o audiovisual, e isso nos ajudou muito. As pessoas da minha geração, quando iam procurar emprego, tinham vergonha de dar o CEP de Caranguejo, porque, quando dizíamos que morávamos em Caranguejo, principalmente quem morava mais para dentro da comunidade, as vagas de emprego eram negadas. Diziam que cheirávamos a lama, que era um lugar que enchia de água no tempo de chuva e que íamos faltar ao trabalho por causa disso, que era um lugar de pessoas que não eram boas.
Quando os jovens de Caranguejo fizeram o Brega Protesto, nós vimos que isso estava se transformando. Os jovens de hoje não tem essa vergonha e defendem seu território. Na letra do brega eles dizem: “Sou do Caranguejo! Prazer! Satisfação! Esse é meu lugar, daqui não saio não!” Isso é muito forte, mudamos a cara de Caranguejo Tabaiares para o mundo. Hoje temos muita gente que quer defender o território, que fala sobre isso. Que fala sobre sua comunidade com dignidade, quando fala em Caranguejo, fala em Caranguejo Tabaiares Resiste, fala nome e sobrenome da sua comunidade.
PANDEMIA
Quando nos vimos no meio da pandemia de Covid-19 e do lockdown, já sabíamos que o Caranguejo passaria por enormes dificuldades. Aqui, a maioria das famílias é chefiada por mulheres, mulheres negras, que trabalham de maneira informal. Muita gente vive vendendo coisas no semáforo, fazendo faxina, preparando a alimentação em restaurantes que seguiram atendendo por delivery. Mas seguiram porque as cozinheiras continuaram saindo de suas casas e a trabalhar na rua, com todo o perigo de se contaminar. Quando vimos que a primeira vitima fatal do vírus foi uma empregada doméstica de 65 anos, a gente se viu representada ali, e digo vimos porque o Coletivo conversa muito sobre isso.
O Coletivo não nasceu para distribuir cestas básicas, nasceu para fazer discussões sobre políticas públicas. Mas entendemos que estarmos alimentados, sobretudo nesse momento, é fazer política pública local; então ajudamos a alimentar nosso povo. Fizemos várias campanhas e arrecadamos muitas coisas, tivemos o envolvimento de muitas pessoas, mais de 200 lives, com cantores famosos, professores universitários, pessoas de fora do Brasil, que ajudaram nas mobilizações e doações. Com isso, também aumentamos nossas redes internas e descobrimos muitas outras mulheres defensoras de territórios aqui na região, e assim nossa rede foi aumentando. Mas não foi fácil, porque o governo trabalha com a estratégia da divisão, da desunião, pra nos enfraquecer. Ainda assim, conseguimos nos unir para nos mantermos vivos e vivas, sempre solidários, redescobrindo sempre como nosso trabalho é importante.
Imagina se hoje, nesse contexto, nós não tivéssemos lutado por esses tetos, se não tivéssemos resistido? Várias famílias estão reocupando as suas casas aqui, casas que haviam sido desocupadas pela prefeitura, pessoas que estão desempregadas e que, sem pagar aluguel, conseguem sobreviver do que arrecadam nos semáforos. Foi dessa maneira que conseguimos mostrar para o mundo nossa luta.
LUTA NA COMUNIDADE
Antes da pandemia fizemos eventos enormes aqui, como o Festival Terra Prometida. Esse nome vem do fato de que nessa terra deveria ser construído um conjunto habitacional. Quando fizemos o evento, foi para mostrar que esse lugar ainda existe, está aqui, a promessa não cumprida também, e não vamos abrir mão dela. Com isso, essa mulher negra aqui, que para muita gente não tem o valor estético, que tem essa imagem que muitas pessoas não querem ver falando, discutindo, defendendo seus direitos, que foi evoluindo junto com a comunidade e hoje está ocupando diversos espaços, não vai parar e nem essa comunidade vai parar. Queremos mostrar para o Brasil que Recife foi o primeiro lugar a ter Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social) (1) e não pode ser o primeiro a destruí-las, ainda que agora tenha sido votada uma lei que pretende fazer isso (2). Quando se acaba com as Zeis, todo mundo é afetado, e estamos na luta para mostrar para todos os bairros e comunidades que é muito importante a lei das Zeis e que quando estão mexendo com uma comunidade, estão mexendo com todas.
RELIGIOSIDADE E TRADIÇÃO
Somos uma comunidade centenária, pesqueira, festeira e bem religiosa, hoje com muita influência evangélica, mas temos na nossa tradição muitos padroeiros, como Nossa Senhora dos Remédios, que dá nome à nossa igreja matriz, e figuras religiosas que ajudaram essa comunidade a crescer, construir escola, posto de saúde. Temos também como padroeiro São José e Santo Antônio, por conta da Pesca de Santo Antônio. Também Cosme e Damião, porque, mesmo que a vida esteja muito dura, sempre mantemos a pipoca e o confeito no dia deles! Queremos passar isso para os nossos filhos, porque isso mostra que temos uma origem, uma história, somos uma rede, que todos nos conhecemos e nos ajudamos.
CORPO
O corpo de Sarah Marques hoje sabe que é todo resistência, e nem preciso dizer, pois quem vê uma mulher negra, gorda, à frente e com ações, se incomoda. As pessoas não estavam acostumadas com esse corpo na luta, com esse corpo sendo desejado, sendo bonito e sempre à frente de várias discussões. Então, o lugar que ocupa o corpo de Sarah Marques é lugar de resistência. Todos os dias acordar e ter que resistir a várias provocações e ameaças, mas, também, tendo a oportunidade de ver nos olhos da comunidade o brilho quando estamos juntos, nos ajudando, desde a sobrevivência em um momento como a pandemia, e que não se resume apenas a alimentação e álcool gel, mas colocando poesia e música na comunidade, pra lembrar as pessoas que temos de resistir para manter nossas casas. Esse corpo pulsa isso, quer e ama estar nessa luta, e o Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste está nisso, nesse corpo e essa resistência.
Quando digo o Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste é porque estou nele e ele em mim também. Hoje somos seis membros que estão mais à frente, conversando com a população, articulando as redes, mas o Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste é também toda a comunidade, mesmo aquelas pessoas que politicamente foram ou seguem sendo usadas contra a resistência, elas sabem do poder, da coragem e do efeito disso tudo. É essa junção que não vai deixar que os nossos direitos sejam retirados, não sem muita luta. Estamos resistindo e sempre chamando mais gente da comunidade pra estar à frente disso. Estamos sempre também pensando no cuidado, cuidado para que possamos seguir no nosso território, que foi aterrado pelos nossos avós, continuado pelos nossos pais, agora nós seguimos vivendo aqui e criando e cuidando das próximas gerações, que estão chegando. Nosso grande desejo é melhorar essas comunidades, ter o direito à liberdade, que é também o direito à moradia com saneamento básico e saúde pública. Se já era difícil em outros governos, porque de verdade nunca olharam para as nossas pautas, hoje, com o atual governo federal, fica muito mais difícil. E agora, com esse inimigo invisível, esse vírus que ainda não tem cura, o cuidado se torna ainda mais central e cada vez mais difícil.
CUIDADOS
Não posso deixar de dizer que, ainda que essa luta seja, sim, absolutamente coletiva, tenho brigado muito para lembrar às pessoas que nós, lideranças comunitárias, somos pessoas, e muitas vezes preciso lembrar isso para mim mesma e para fora também. Com isso tenho brigado muito porque estou aprendendo a dizer Eu. Apesar da coletividade, às vezes preciso dizer Eu, porque eu sou essa sujeita coletiva, com esse corpo coletivo, uma mulher que chega carregada da comunidade, e sou uma mulher, uma pessoa. Porque costumam nos colocar, nós, lideranças comunitárias, principalmente as mulheres, num lugar em que não somos pessoas, que não temos sentimento, que não precisamos de cuidado. Eu acho que o lugar do cuidado na resistência hoje é o maior desafio. Enquanto digo que as pessoas não nos veem como mulher, como um indivíduo que tem seus desejos, fraquezas e vontades, a gente também esquece que tem, às vezes. E vai pra cima, vive só a luta! E nisso, o cuidado tem que ser aquele cuidado que de fato faz bem pra nós. Não é aquele cuidado padronizado, do corpo padronizado, as meditações, malhações, natações etc que a gente vê tanto por ai… Aqui temos várias formas de cuidado, como sentar na calçada e conversar, arrecadar alimentos e cozinhar juntos. Isso pra gente também é autocuidado. Escutar um samba, tomar uma cerveja, isso também é se cuidar, é estar bem e ver que estamos vivas. Isso é muito importante para nós, porque no nosso cuidado e na nossa felicidade está também o lugar da resistência.
Notas:
1 A Zona Especial de Interesse Social – ZEIS – é uma categoria específica dentro do zoneamento da cidade. Esse tipo de área específica requer a aplicação de normas especiais de uso e ocupação do solo diferentes daquelas adotadas para o restante da cidade, em especial o reconhecimento da forma da ocupação, a fim de impedir a especulação imobiliária e a expulsão da população de baixa renda dos territórios.
2 https://recifedeluta.org/2020/07/25/proposta-do-plano-diretor-do-recife-quer-liberar-as-zeis-para-omercado-imobiliario/
Tipuici Manoki
Liderança indígena
Onde estão os novos espaços de resistência? Quais e como se dão as novas formas de resistência e de luta? Essas são perguntas que, continuamente, interpelam o corpo e a imaginação de ativistas (esses seres da ação e da insistência), que sempre se impõem a tarefa de encontrar alternativas, táticas, abordagens e modos de viver mais capazes de realizar as transformações que tanto pretendem e que dão sentido à sua existência. Essas são as inquietações permanentes que animam o devir-ativista – e que atravessam a luta concreta de gente tão diversa como Amália Garcez, Carlos Augusto Ramos, Léo DCO, Sarah Marques e Tipuici Manoki, cujos depoimentos compõem as páginas seguintes, e Luciana Ferreira, em comentário-síntese ao fim desta seção.

PROFESSORA
Eu sou Tipuici Manoki (1), sou do povo Manoki (2). Somos do noroeste do Mato Grosso, a segunda divisão mais populosa em termos de povos indígenas. Comecei lutando pela demarcação do nosso território Manoki e a participar dos movimentos quando eu tinha entre 15 e 16 anos. Era uma época em que apenas os mais velhos participavam das lutas, mas eu fui me engajando… Vi as dificuldades na área da saúde, fui conselheira distrital (distrito de Cuiabá) e trabalhei como agente de saúde. Em 2009, encerrado o ensino médio, fui para a área da educação e em 2010 ingressei no curso de ciências sociais na Universidade Federal do Mato Grosso. Hoje estou na minha comunidade, Trabalho desde 2018 dando aulas para ensino fundamental e médio, sempre trazendo a questão cultural do povo, a questão da renda e a sustentabilidade. As disciplinas que trabalhei estão voltadas ao conhecimento tradicional e alimentação (como agroecologia), inclusive a partir dos trabalhos que os alunos já fazem em seus artesanatos, por exemplo.
OS DESAFIOS DA REGIÃO E DO POVO
O povo Manoki está dividido em duas Terras Indígenas (TI) – a TI Irantxe e a TI tradicional Manoki. As nossas lutas principais são por homologação do Território que hoje está apenas demarcado e continua sendo invadido por fazendeiros, e ultimamente sofre grandes ameaças com as leis que estão surgindo neste estado e no Brasil. O que mais ameaça nosso povo são as usinas hidrelétricas. Nós não conseguimos saber onde vai ser construída, quando vai começar… é difícil acompanhar, seja por falta de informação ou pela estrutura da ANEEL (3) na fase de estudos e levantamentos técnicos, para saber da geração de energia, do potencial dos rios ou para pedir a liberação das obras. Quando ficamos sabendo, o processo já está muito adiantado sem nenhuma consulta ao nosso povo. Uma está funcionando desde 2010 sem nosso conhecimento, estamos cobrando nossos direitos porque sequer fomos consultados. Agora, depois de prontas, conseguimos fazer parte do estudo do componente indígena dessas três usinas no Rio do Sangue, próximo ao território Manoki. Além disso, onze Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e uma hidrelétrica de grande porte que estão previstas para o entorno do nosso território (Manoki e Irantxe), comprometendo o Rio do Sangue, Rio Membeca e o Rio Cravari. É assim: quando a gente percebe, já está acontecendo uma audiência pública, já estão fechando o negócio para início das construções. Foi assim o caso da PCH Bocaiuva que foi construída e depois nos consultaram.
A LUTA É DAS MULHERES
Na luta pela liberdade dos rios e do nosso povo, vemos um maior engajamento das mulheres, principalmente na proteção do território. Nosso acompanhamento se dá em três fases diferentes: o monitoramento, a fiscalização e a expedição, nesta última há grande participação das mulheres na preservação do nosso território, trabalhando na geração de uma economia solidária e voltada para viver bem e não esta economia que derruba a mata, que acaba com os recursos hídricos e nos deixa sem nada. Estamos falando de uma economia nossa, local, que traga benefícios para a comunidade e para as famílias.
As mulheres indígenas têm assumido espaços importantes. Veja a Alessandra Munduruku que sempre foi contra essa forma de empreendimentos que tiram a liberdade dos rios, do mercúrio que as mineradoras jogam nos rios. Temos a Nara Baré (4) e a Sonia Guajajara (5) que são exemplos de mulheres que estão lutando e ocupando espaços de tomada de decisão ajudando a fazer valer os nossos direitos.
DIFICULDADES E POSSIBILIDADES NA PANDEMIA
Toda sociedade brasileira e principalmente os povos indígenas estão enfrentando muitas dificuldades com a pandemia, desde o início de 2020. As primeiras declarações do atual presidente já apontavam para as ameaças e retiradas de direitos. A posse dele fortaleceu muitos dos nossos adversários a agir contra os povos indígenas. A Normativa 09 da FUNAI, por exemplo, flexibilizou a entrada de pessoas que invadem os nossos territórios. Logo, a FUNAI, que deveria trabalhar a favor dos indígenas, deu uma força para os invasores e, com isso, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, criou o Projeto de Lei 1720/20. Temos o Marco Temporal no Congresso que retira as terras indígenas dos povos que não estivessem nos territórios em 1988, e muitos povos estarão prejudicados. No Mato Grosso, a gente conseguiu retirar do PL 1720/20 a regularização das fazendas dentro de territórios indígenas, porque o governo queria flexibilizar o licenciamento ambiental retirando a obrigatoriedade da consulta aos povos indígenas, o que foi um ataque aos nossos direitos. O presidente (da República) declarou que os povos indígenas não eram considerados grupo de risco de infecção comunitária na circunstância da pandemia. Como não? Pela nossa forma de viver em comunidade, nos expõe ao risco de contágio mas não tivemos amparo dos órgãos competentes de governo, não tivemos apoio para enfrentar a pandemia e, infelizmente, perdemos muitas lideranças, muitas crianças. No Mato Grosso, o povo Xavante foi o que mais teve mortes na pandemia. E demorou demais para chegar o socorro para esses povos, isso nos dá muita tristeza.
CIRCULAR ENTRE MUNDOS
A nossa resistência é pela vida! Resistimos a tudo o que vem sendo colocado, mas também ao que já nos foi colocado pelos nossos governantes, inclusive pelos que já passaram por Brasília, seja de esquerda ou de direita, os povos indígenas são contra este modelo. O governo que entra sempre se alia ao empresariado, ao agronegócio, às grandes empreiteiras, se alia ao poder econômico e, desta forma, não atende às pautas das consideradas minorias, que na verdade são a maioria da população. Nossa resistência é, como eu disse, pela vida. Quando os povos indígenas resistem a uma hidrelétrica que vai matar um rio, por exemplo, estamos lutando pelos povos indígenas e por todas aquelas vidas. É o caso do debate das mudanças climáticas que o mundo todo está sofrendo com isso e nós resistimos ao desmatamento, lutamos pela demarcação e preservação dos nossos territórios e, com isso, contribuímos com essa luta pela vida.
Veja, logo os povos indígenas que são considerados como um “atraso” por muitos, são os que estão resistindo nos seus territórios e, preservando a vida, lutando contra as mudanças climáticas que afetam todo o planeta. Eu acredito que a nossa resistência faz muita diferença. Temos muito a ensinar àqueles que só pensam em consumir e possuir bens, que pensam em guardar dinheiro, sejam os empresários, o pessoal do agronegócio e das empreiteiras. Esses não olham para o rio, para as matas, para os territórios como olham os indígenas. Muito pelo contrário, eles só enxergam o lucro que eles vão ter e não pensam nas consequências, não enxergam que eles estão provocando o aquecimento global, que estão mudando o clima do planeta e isso afeta a todos, inclusive a eles mesmos. A gente tem um conhecimento da plantação de lavoura, a gente tem um conhecimento de quanto eles já perderam com isso, mas eles próprios não conseguem olhar para isso porque eles querem derrubar tudo e nem prestam a atenção em mais nada, não pensam nas consequências.
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O tempo, o clima e as chuvas, têm mudado muito aqui no nosso território nos últimos anos, e não é só aqui. Veja: este ano começou a chover na segunda semana de dezembro; tivemos um novembro seco (isso está acontecendo de 7 anos para cá) e isso prejudicou muito a nossa roça, o que nos preocupa muito. Nossa resistência é isso, porque nossa forma de ver o mundo é diferente. Acreditamos num modelo de sustentabilidade e de renda mais coletiva, uma divisão justa nos territórios indígenas, acreditamos que podemos retirar o nosso alimento da nossa terra. Os povos indígenas são conhecedores da agroecologia muito antes de usarem este nome. Sempre trabalhamos com a terra sem agredi-la, veja as queimadas… Nós sempre trabalhamos com roça de toco e nunca produzimos uma devastação como vimos com as queimadas. Existe uma grande diferença e nós podemos contribuir com alimentos. Durante a pandemia, nosso povo tem feito bastante reflexão referente à alimentação saudável… Porque a pandemia é causada justamente por isso, pela forma como o ser humano está vivendo mas, mesmo assim, o ser humano não consegue fazer uma reflexão a respeito disso, principalmente aqueles que detém o dinheiro e o governo, que, ao invés de incentivar a economia solidária e a agroecologia, se omite. Acredito que nós temos muito a contribuir com a nossa forma de geração de renda e a nossa forma de plantação, de trabalho coletivo que desenvolvemos dentro do nosso território.
Penso que nós temos conseguido articular bastante em relação às usinas hidrelétricas aqui na nossa região, e articular não apenas os indígenas… Somos os indígenas, os ribeirinhos, assentados, pescadores, formando uma rede de resistência e pela continuidade dos rios, liberdade dos rios e a preservação do meio ambiente para todos. São muitos não indígenas que começaram a entender essa pauta porque as dificuldades são as mesmas, as retiradas de direitos são as mesmas. Nós estamos articulando agora para além das regiões, estamos no Brasil e fora do Brasil. Porque, quem são as empresas que estão produzindo aqui? Quem são as pessoas que compram os grãos produzidos em cima de sangue indígena, em cima de sangue de quilombola, em cima de sangue de ribeirinho, de assentado, de extrativista, de pescadores, né? Quem são as empresas que estão destruindo nossos rios, que estão roubando nossas riquezas com a mineração? Quem são essas empresas?
Nós temos articulado essa denúncia de forma global porque estamos sofrendo muito com isso. Eu penso que a economia precisa melhorar muito, porque não somos apenas nós que vamos sofrer com isso. Para onde vão essas pessoas depois que acabarem com a Terra? Para a Lua, para Vênus, Marte? Para onde elas vão? Só existe este planeta Terra para a gente viver! Então, é preciso uma reflexão global e, principalmente, por parte daqueles que exploram sem olhar as consequências, essas pessoas que consideram o dinheiro como a única riqueza. Nós consideramos outras as riquezas… Então a gente tem ocupado esses espaços de luta que têm trazido algumas soluções positivas para nós. Temos conseguido articular, temos conseguido amparar nossos direitos nas leis existentes apesar da pandemia e das tantas dificuldades. Continuamos, a partir de nossas aldeias, fazendo essa resistência pelos nossos direitos e pelos direitos daqueles que não conseguem acessar esses espaços.
Notas:
1 https://pib.socioambiental.org/pt/Not%C3%ADcias?id=183719
2 https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Iranxe_Manoki
3 Agência Nacional de Energia Elétrica <https://www.aneel.gov.br/>
4 https://amazoniareal.com.br/acoes-da-funai-e-da-sesai-para-combater-o-coronavirus-sao-confusas-etendenciosas-diz-nara-bare-da-coiab/
Onde estão os novos espaços e as novas formas de resistência
Luciana Ferreira

Quando me coloquei a escrever sobre a pergunta Onde estão os novos espaços e as novas formas de resistência?, imediatamente me veio a lembrança um alerta de Hannah Arendt: “A educação é a posição em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumir a responsabilidade por ele e, pela mesma razão, salvá-lo da ruína que, a não ser pela renovação, a não ser pela vinda do novo e dos jovens, seria inevitável” (1). Sou uma educadora e vejo o mundo a partir deste lugar do entre: de um lado o passado, de outro o futuro. E quando imagino os novos espaços de resistência neste mundo velho, caquético, que dá sinais de esgotamento e cansaço, recorro à capacidade imaginária de inventar mundos, própria da infância.
A criança é sempre o novo que chega. É corpo e afeto antes de tudo. É movimento e intensidade repleta de forças que as formas tentam enquadrar. Um pensamento sem o esquadrinhamento produzido pela disciplina, pela linguagem, pela casa, pela escola. Quando um novo chega, nós que aqui estamos há mais tempo criamos meios para que ela aprenda o essencial para sobreviver. De algum modo, nós nos modificamos nesta investida de explicar e traduzir o mundo a elas. É um movimento muito bonito e importante para o mundo e todos os seres que aqui vivem.
Creio que as palavras infância e resistência são sinônimas, pois as infâncias produzem um modo de existência que, de tão simples e necessário, não cabem no mundo do capitalismo cognitivo. Atividades como brincar, dormir e sonhar, comer, cantar, sorrir, andar por aí, fazer nada, fazer muita bagunça, preparar bugigangas, bolinhos de barro, passar um tempo olhando para uma planta, para a parede, desenhar… são ações de resistência na atualidade onde se exige produção em praticamente todos os setores da vida humana, e cada vez mais sem limite de idade para começar ou acabar.
Tomo distância daqueles que determinam que uma geração é mais ou menos produtiva que a outra. Ou mesmo que um modo de existência possui mais força do que outro. Pelo contrário, com Soriau, acredito que não há potência de existir maior ou menor, “o tênue vapor levemente róseo no céu azulado da tarde não possui menos existência do que a plenitude sólida e iluminada de uma nuvem esplêndida e perfeita, glória de uma bela tarde” (2). No caso das infâncias, existe em Soriau um convite para enxergarmos as existências mínimas. Um ponto de vista de um mundo outro, que em geral nós, adultos, não percebemos. Não notamos porque estamos sempre muito ocupados, fazedores de muitas coisas, de muita produtividade, atentos ao mundo exterior, àquilo que nos empurra para coisas grandiosas, numa perspectiva macro.
Trata-se então de uma provocação das infâncias para uma certa redução. Reduzir para fazer ver o que não é perceptível. Talvez nesta empreitada de fazer-nos ver aquilo que está invisível consigamos suspender aquilo que está no campo dos pressupostos evidentes no mundo velho que, como camadas de poeira, nos impedem de enxergar o novo e a renovação.
Aos olhos da criança, um desenho tem mil ações, um bolinho de barro tem cheiro de comida feita na hora! Uma pipa não é apenas um amarrado de varetas, é o próprio corpo dela ali desbicando no azul infinito do céu. Aos olhos dos povos indígenas um rio é muito mais do que um recurso, uma montanha é parente. E vai por aí…
Que os mais diferentes pontos de vista e os mais diferentes modos de existências nos façam ver, ampliem a nossa capacidade de olhar. Os textos presentes neste Mosaico apresentam um pouco dessa ideia. Pessoas de lugares diferentes, se ocupando de múltiplas lutas, traçam linhas paralelas sobre novos espaços de resistência e, a partir desta pergunta-provocação, buscam elaborar em sua experiência modos de vida e existência inspiradores.
Amália Garcez expressa uma preocupação importante com o mundo. Da Finlândia, ela olha para o Brasil e, junto dos finlandeses, se preocupa com a Amazônia. Encontra na palavra Intersecção possibilidades para o ativismo — justiça climática, justiça social, feminismos se articulando com a luta antifascista. “Não dá para lutar isolado, não dá para falar de meio ambiente sem considerar as pessoas que serão afetadas porque estão em situação mais vulnerável. Não dá para falar de feminismos desconsiderando que tem mulheres ainda mais afetadas pelo machismo e pelo racismo. Eu, por exemplo, não posso dizer que seja a mulher mais afetada pela injustiça social, mas preciso lutar em favor das mulheres que são”. Nessa relação entre os que aqui lutavam e os novos que chegam, vemos ressoar em Amália as palavras de Paulo Freire: “aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo, com eles lutam”(3).
Carlos Augusto, engenheiro florestal com uma relação muito particular com o mundo das florestas entre Marajó, Belém e o Jari no Estado do Pará, expõe seu modo de pensar a partir de uma educação popular das florestas. Carlos revela sua história e militância junto ao município de Afuá e seus 35 anos de luta popular pelo direito à terra. Percebo com Carlos que a luta e os espaços de resistência podem ser criados a partir de um acontecimento, de fatos trágicos, mas a resistência está diretamente ligada à sobrevivência e, no caso das comunidades rurais e da luta pela reforma agrária, o tempo não se configura como um aliado. Talvez pela resistência dessas famílias é que escutamos de Carlos a frase de seu amigo: “Afuá e Gurupá conseguiram domar o capitalismo”. Será? Como? Os espaços de resistência estão na conexão da juventude florestal que a cada dia descobre o poder da comunicação e da tecnologia para ampliar seu movimento junto com a história e a luta por garantia de direitos básicos conquistados pela geração anterior. Carlos se encontra na conexão: “não estou na casa dos 60 nem na casa dos vinte e poucos, minha posição é de transição, meu lugar de fala é da transição de gerações”. Carlos Ramos cita algumas vezes o cantor e compositor Chico Science, olindense, um dos idealizadores do movimento cultural Manguebeat, que revela no manifesto “Caranguejo com Cérebro”, de Fred Zeroquatro, uma imagem símbolo do movimento: uma antena parabólica enfiada na lama.
Diretamente de Recife, mais precisamente de Caranguejo Tabaiares, Sarah Marques se apresenta como essa parabólica. Mulher, negra, mãe, herdou dos pais o apreço pelo trabalho comunitário, que realiza-se na intersecção do fazer político, ora institucional, e sempre na base, junto de seu povo: “aqui, se brinca na lama, mas quando você cresce, vai pra uma entrevista de emprego, vai para a escola, que geralmente não é no seu bairro, essa mesma lama que você gostava de brincar é a lama que quando você chega nesses lugares, as pessoas já falam: ‘Chegou o cheiro de lama! É fulana que mora em Caranguejo!’”. Sarah demonstra que a vida se faz na luta, e a luta territorial acompanha a sobrevivência. Quando se têm um lugar, pode-se dizer que é possível sentir-se livre: “sou do Caranguejo! Prazer! Satisfação! Esse é meu lugar, daqui não saio não!”. Entre Bregas Protesto, formação comunitária de audiovisual, cines e muito debate, surge o Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste! que a cada dia descobre novas formas de energizar a luta iniciada pela geração anterior à de Sarah. Falar em resistência com Sarah significa falar dela própria.
Lutas entre as cidades e a floresta, no Brasil e fora dele, resistências que se apresentam muito antes de aqui estarmos. Os povos indígenas que aqui vivem têm na palavra resistência um modo de existência.
Tipuici Manoki, do povo Manoki, vive no noroeste do estado do Mato Grosso, na região da bacia do Rio Juruena, um lugar muito especial, pois o Juruena é considerado o único rio “selvagem” do Brasil, por não ter uma “grande” usina hidrelétrica instalada. Tipuici detalha o modo traiçoeiro com que projetos grandes e pequenos se instalam, e considera que o modo que encontraram de resistir se deve também à saída de alguns jovens para estudar, para entender o universo “branco” e traçar possibilidades junto com seu povo. Seja em contato com as crianças da aldeia ministrando aulas, seja na universidade, seja na escuta atenta dos mais velhos, Tipuici revela em seu discurso a sabedoria de quem está neste lugar do entre: “Nossa resistência é essa, porque nossa forma de ver o mundo é diferente. Acreditamos num modelo de sustentabilidade e de renda mais coletiva, uma divisão justa nos territórios indígenas, acreditamos que podemos retirar o nosso alimento da nossa terra, os povos indígenas são conhecedores da agroecologia muito antes de usarem este nome”.
Muitas paisagens subjetivas apareceram neste Mosaico. São expressões, linguagens, marcas de existência e modos de resistência. Finalizamos então com arte. Um artista das ruas, do graffiti, que, inspirado pelos OSGEMEOS ainda na adolescência e no skate nos anos 1990, espalha imagens com a técnica realista nos muros e quadros no Brasil e fora dele. Leo DCO nos enviou sua arte na forma de imagens para compor os novos espaços de resistência que, para ele, se revelam a cada dia, a cada situação, a cada obra concluída.
A arte se insere no acontecimento: “Vidas Negras Importam”, grita um de seus quadros. “A arte é e sempre será um canal de resistência na realidade, sobretudo o graffiti, ele age junto com os movimentos sociais e é uma manifestação política. Gosto das minhas obras, a última é sempre a preferida!” Pensamos com Leo DCO no sentido de obra oferecido por Hannah Arendt: “a obra de nossas mãos distintamente do nosso corpo, que produz e literalmente ‘opera em’, fabrica a infinita variedade de coisas cuja soma total constitui o: artifício humano”(4). Por onde passamos deixamos algo: as obras são a materialização da nossa ação e do nosso trabalho. Nas obras de Léo, visualizamos a força nesta atividade de fabricação que tem começo, meio e fim. E que cada coisa produzida pelas mãos humanas pode ser também destruída por elas.
Vimos com Amália, Carlos, Sarah, Tipuici e Leo esse movimento de não se deixar fabricar. De resistir ao projeto de mundo que se orienta pela morte, pela destruição e, ao contrário, constituir para si e para seu coletivo espaços de escuta qualificados daqueles e daquelas que construíram o mundo com as suas mãos e, de posse deste mapa, se organizam para renová-lo.
Notas:
1 Hannah Arendt. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 247.
2 Etienne Soriau. Les diférentes modes de existence. PUF, 2009, p. 106.
3 Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra, 2014.
4 Hannah Arendt. A condição humana. Forense, 2014, p. 169
Alimentar a luta
Formas de ação que têm na prática de cozinhar, comer e conviver sua base e sua expressão
BANQUETAÇO
Os ingredientes básicos são: um local público, uma grande mesa com comida boa e gratuita, pessoas. Está criado um espaço de vivência e aprendizagem que reúne, numa só situação, a denúncia, o protesto, a conscientização e a demonstração de novos modos de viver e conviver. O banquetaço é este tipo de ação múltipla, de várias faces, que se presta a várias funções no âmbito de uma estratégia política e que é, em si mesma, uma experiência transformadora de quem participa dela.
Como em toda prática que tem o alimento como seu eixo central, o ato de comer (e cozinhar) juntos na rua convoca o corpo a perceber e experimentar uma profusão de sensações, sentidos e afetos; realiza uma ação demonstrativa que supera em teor comunicativo o mero uso de materiais de campanha, os cartazes, as cartilhas, as palavras de ordem das manifestações. Num banquetaço, esses recursos são necessários e estão todos lá, mas são potencializados pela interação entre as pessoas em torno de uma mesa de comida.
No Brasil, o banquetaço tornou-se não só um método de ação mas também um movimento
pela soberania e a segurança alimentar, que articula desde agricultoras e agricultores familiares, agroecologistas e o MST até organizações de atendimento à população de rua, movimentos de moradia e direito à cidade, passando por profissionais da gastronomia, especialistas em nutrição e em saúde pública.
Em novembro de 2017, um ato realizado em São Paulo ajudou a pressionar o então prefeito João Dória a suspender o projeto de fornecer, para a rede escolar e grupos vulneráveis, uma farinha ultraprocessada feita de sobras do varejo e da indústria alimentícia (que em compensação receberiam benefícios e isenções fiscais). Nesse banquetaço, duas mil refeições gratuitas foram distribuídas, feitas com alimentos doados e outros que seriam descartados.
Em 27 de fevereiro de 2019, mais de 40 banquetaços (1) ocorreram em todo o país em protesto contra o fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), que acabou extinto por meio de sucessivas medidas provisórias assinadas por Jair Bolsonaro.

A BELEZA DA XEPA
O banquetaço não é só um ato de protesto em que se usa comida. É um espaço de (re)educação alimentar, de combate ao desperdício e de conscientização sobre a produção de desigualdade, pobreza e doença dos circuitos capitalistas do agronegócio e da indústria alimentícia.
O resgate da “xepa” é um elemento-chave desse processo de conscientização. A xepa é um jeito popular de designar os alimentos do fim de feira ou aqueles descartados por terem pouco valor comercial, feios, assimétricos, machucados ou simplesmente fora dos padrões estéticos do mercado.
Nas Disco Xepas realizadas pelo movimento Slow Food, pelo menos 80% dos ingredientes dos banquetes públicos e gratuitos vêm das “sobras” de feiras e supermercados que iriam parar no lixo sem necessidade. O restante é de produtos doados e de plantas alimentícias não-convencionais (Pancs) cultivadas ou coletadas nas ruas e quintais da cidade. Nesses eventos, a parte “disco” é também essencial: música, apresentações artísticas e festa compõem o combo metodológico da ação (2).
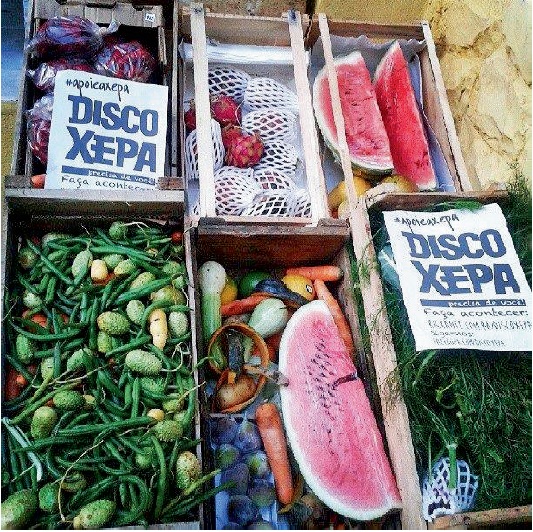
COMER É ARTE
O coletivo de arte relacional Opavivará (3), criado no Rio de Janeiro em 2005, constrói algumas de suas intervenções como experiências imersivas em torno da cozinha, da comida e do alimento. Algumas se assemelham às práticas do ativismo alimentar, outras apontam caminhos estético-políticos ainda não aproveitados em sua potência máxima pelos ativistas.
O projeto das intervenções denominadas Cozinha Coletiva, realizadas no Rio de Janeiro (2012) e em Vitória/ES (2016), lembram em muitos aspectos os banquetaços: há comida gratuita, e também são instalados bebedouros, tanques para lavagem de alimentos e da louça usada, forno e fogão a lenha, mesas e bancos e espreguiçadeiras para descanso. A população se apropria do espaço, dos utensílios e da proposta de ação. No projeto Parabéns pra Você, Mercadão de Madureira, realizado em 2010 no Rio de Janeiro, os participantes também comem: comida (bolos de festa) – e imagens junto com a comida.
Durante a fase de pesquisa, o coletivo Opavivará fez registros fotográficos de lojistas do mercado. As fotos foram impressas em papel de arroz e depois dispostas na superfície dos bolos, emolduradas com glacê. Durante a festa de comemoração, as pessoas convidadas, inclusive os próprios lojistas fotografados, comeram seus retratos coloridos.

MASSA E PODER
Se depender da artista e poeta Laís Velloso (4), a mensagem política é a própria comida. No sentido literal. Laís produz massas estampadas – e ideias impressas em “tecidos gustativos”.
Há raviólis e capelettis antifa. Numa mídia social, um texto explica a tática:
“A massa vai congelada ou pronta para comer?
– Vai congelada!
– Por quê?
– Para que as pessoas se lembrem de que as grandes revoluções acontecem junto ao fogo. Ao fogo do fogão de suas casas.”
É comer e lutar.

ACABAR COM A FOME
Nesta edição, que chega a público num cenário de genocídio e terra devastada, é impossível falar do alimento, da comida, do comer e do cozinhar como base das formas de agir sem dizer da fome e da insegurança alimentar como motivo e motor de toda luta. Para isso, valem e precisam valer todas as táticas, todos os métodos de ação, sem descanso. Como nesta ação de distribuição de alimentos pelo Coletivo Papo Reto no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, durante a pandemia.

Notas:
1 Saiba mais sobre o Banquetaço do Consea – https://www.abrasco.org.br/site/noticias/movimentossociais/banquetaco-mobilizou-mais-de-40-cidades-pela-alimentacao-saudavel-e-pelo-retorno-doconsea/39816/
2 Um guia de como fazer uma Disco Xepa: https://slowfoodbrasil.org/wp-content/uploads/2016/05/slowfoodbrasil.com_documentos_guia-pratico-para-organizar-umadisco-xepa.pdf
4 https://www.instagram.com/lais.velloso/
Quem colabora em Tuíra #3
Acácio Augusto é professor no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do LASInTec (Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento). Pesquisador no Nu-Sol/PUC-SP e professor no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo. Autor de Política e polícia: cuidados, controles e penalizações de jovens, Rio de Janeiro: Lamparina, 2013 e Anarquía y lucha antipolítica – ayer y hoy, Barcelona, NoLibros, 2019. Coordenador da Coleção Ataque, Editora Circuito, Rio de Janeiro, desde 2018.
Airton Krenak é ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia krenak. É professor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional.
Alana Moraes é feminista, doutora em antropologia pelo Museu Nacional UFRJ, pesquisadora interessada em práticas não-proprietárias, cosmopolíticas e tecnologias do Comum. Durante a pandemia, ativa um projeto de extensão chamado Zona de Contágio, uma investigação coletiva sobre modos de conhecer contra coloniais, autonomias e ciências de um mundo por vir: https://www.tramadora.net/category/zonadecontagio/
Alexandre Filordi de Carvalho é educador e psicanalista, atuando no Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo.
Alexandre Simão de Freitas é professor adjunto do Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional e do Programa de Pós-graduação em Educação, na Universidade Federal de Pernambuco. Contato: alexkilaya@uol.com.br
Allan Rodrigo de Campos Silva é geógrafo com mestrado e doutorado na área de Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Atua como tradutor no selo editorial Igrá Kniga. É pesquisador associado do Observatório das Migrações no Estado de São Paulo e membro do Fórum Popular da Natureza.
Amália Garcez nasceu em 2003 em Porto Alegre (RS). Ativista climática do sul do Brasil, faz parte do movimento Fridays for Future (FFF), atuando em nível local, nacional e internacional. Amália foca seu ativismo na luta pela justiça social e climática. É fundadora e coordenadora da campanha SOS Amazônia (sosamazonia.fund). Deseja conectar e incentivar pessoas de grupos diferentes e de todas as idades a tomar medidas para evitar a crise climática. Localmente, está envolvida na oposição à mineração e ao fracking de carvão. Amália também está interessada em encontrar novas maneiras de o planeta Terra permanecer cheio de vida.
Ana Carolina Alfinito é pesquisadora e advogada popular. Atua em coletivos e movimentos sociais que lutam pelo direito à cidade e que buscam instituir formas mais plurais e autônomas de significação e ocupação de territórios comuns, no campo e nas cidades.
Carlos Augusto Ramos é nascido em Portel em 1975, registrado em Belém, criado no Jari. Filho de uma trabalhadora rural, Dona Ana Tereza Pantoja, do município de Breves (PA), de um rio chamado Macacos, de um casamento dela com Waldir Ramos, operário de uma empresa madeireira. Cresceu em meio às florestas de eucaliptos e pinhos de Monte Dourado, Almeirim (PA). Seu projeto de vida é fortalecer organizações comunitárias, tentando construir a cidadania juntamente com famílias agroextrativistas.
Carlos Eduardo Ribeiro é professor e psicanalista, atuando no curso de Filosofia e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do ABC em São Paulo.
Carolina Munis é graduada em Relações Internacionais. Foi co-fundadora do Cursinho Popular Transformação e integrante da Escola de Ativismo.
Felipe Burato é jornalista.
Gabriela Vuolo é graduada em Relações Internacionais e atualmente lidera a campanha de Justiça Urbana do Greenpeace em todo o mundo. Trabalha há 20 anos com temas socioambientais e de 2010 pra cá vem focando sua atuação na intersecção entre as pautas urbanas e mudanças climáticas.
Juman Asmail é uma ativista palestina. Completou seus estudos jurídicos na Universidade de Southampton e tem interesse por movimentos anticoloniais e pela luta universal por justiça.
Leo DCO iniciou na arte do graffiti em 1996, ainda adolescente e residente em São Paulo. Recebeu influência d’Os Gêmeos. Trabalha com uma linguagem realista tanto em quadros como na rua. Para conhecer sua arte, visite @leo_dco no Instagram.
Luciana Ferreira é doutoranda em educação na Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Rio Claro. Integra a Escola de Ativismo desde 2016 com o Núcleo de Aprendizagens e Invenções. Curiosa com os temas água, território, agroecologia, mundos indígenas, educação popular e processos de subjetivação.
Marcelo Marquesini é ativista por direitos, técnico agrícola, engenheiro florestal, mestre em ecologia e manejo de florestas tropicais e co-fundador da Escola de Ativismo. Já experienciou atuar no Greenpeace, no Laboratório de Silvicultura Tropical da Esalq/USP e em órgãos ambientais nas três esferas: municipal, estadual e federal. Tem há 26 anos seu coração na Amazônia.
Maria Clara Belchior é graduada em Fotografia pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), em 2016. Mestre em Educação Sexual pela Universidade Estadual Paulista (campus Araraquara), pesquisadora do movimento indígena e especificamente, das mulheres indígenas.
Maysa Lira é recifense e mãe do Kayodê. Enfermeiranda com enfoque em saúde mental, trabalha com comunicação e produção cultural. No Recife, luta em temas que envolvem o cicloativismo e o direito à cidade. Amiga e companheira de ativismo de Marina Kohler Harkot nos coletivos RAMO, Ameciclo e Ocupe Estelita.
Marina Kohler Harkot, cientista social, cicloativista. Recebeu o título póstumo de doutora em Arquitetura e Urbanismo, pela FAU/USP. Participou de muitos projetos em várias cidades brasileiras. Faleceu com 28 anos, em 8 de novembro de 2020, vítima de atropelamento enquanto pedalava em São Paulo. Integrou o coletivo da Escola de Ativismo.
Mario Campagnani é jornalista e comunicador popular. Faz parte da Escola de Ativismo.
Pafy (Alonso Pafyeze) é realizador, diretor, diretor de arte, fotógrafo e designer de curtas, longas, séries de ficção, documentários, videoclipes e publicidade. Idealizador do projeto de intervenção audiovisual Tela Rodante realizado na Argentina, Brasil, Equador e Colômbia. Idealizador e coordenador do projeto de educação ambiental Ecomicrodocs: do Audiovisual à Consciência Ambiental.
Rafael Coelho Rodrigues é psicólogo, doutor em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. É docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB no Centro de Ciências da Saúde.
Sarah Marques é educadora popular no Centro Popular de Direitos Humanos, co-fundadora do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, negra, favelada, mãe de Rafael e Juliana. O Coletivo Tabaiares Resiste foi fundado, em meio ao conflito com a prefeitura do Recife e imobiliárias, para defender o direito da comunidade de mais de 100 famílias a permanecer no seu território.
Tipuici Manoki é moradora da Aldeia Treze de Maio, município de Brasnorte (MT). Mestranda em Antropologia Social pelo IFCH/Universidade de São Paulo (USP). Fotógrafa, fundadora e diretora do Coletivo de Cinema Manoki e Myky Ijã Mytyli. Apoiadora de projetos sustentáveis que possam trazer geração de renda e qualidade de vida dentro da comunidade Manoki.
A terra é pra quem trabalha
Ruas ativistas – A disputa pelo protagonismo nas manifestações
A Escola de Ativismo realiza a série “10 anos de ativismos” analisando e debatendo as mudanças nas lutas políticas durante seu tempo de existência.
Por Mario Campagnani (colaborou Velot Wamba)

Durante a Copa do Mundo de 2014, enquanto manifestantes eram atacados na Praça Saens Peña, torcedores de camisa da CBF tiravam fotos com a PM em frente ao Maracanã. Quem estaria nas manifestações de direita anos depois?
“A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres... A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas”.
A mais igualitária e niveladora das obras, como descreve o cronista João do Rio no início do Século XX, segue até hoje com seu poder, glória ou mesmo tragédia de forma inabalável. Milhões de comentários do Twitter, stories do Instagram, textos ou textões do Facebook têm sua importância na medição de certa (in)satisfação da sociedade, mas é no encontro de corpos com sua obra que se conjura uma força que a “realidade virtual” – termo por si só contraditório – ainda ou talvez nunca dará conta. Em 29 de maio deste ano, as ruas voltaram a ser ocupadas por todo o país, e não mais manifestações de apoio à morte, à opressão, mas na luta pela vida. O lado oposto, todavia, não pretende abandonar esse espaço tão facilmente, como mostram as manifestações previstas para 7 de setembro, nas quais os dois lados estarão claramente definidos, numa reafirmação do protagonismo desse espaço na disputa política.
Porque se é certo que ela é de todos, é mais que justo admitir que ela não tem lado. Que está acessível para ser tomada por aqueles que estiverem dispostos a ocupá-la ou a resistir a isso, seja pela força de massas humanas ou de tanques e armas. Na última década, as pautas, corpos e cores que ocuparam espaços foram variados e, diversas vezes, completamente antagônicos. Revisar e analisar o que ocorreu é uma forma de compreender processos em andamento hoje, mas também de entender que um certo grau de incerteza é uma constante.
Um marco não apenas dos últimos dez anos, mas de todo o novo século certamente foram as famosas Jornadas de Junho, que a bem da verdade, começaram em abril de 2013 e foram até julho de 2013. O que começou inicialmente como manifestações pontuais contra mais um aumento de passagem do transporte público na cidade de São Paulo convocadas pelo Movimento Passe Livre (MPL), logo eletrificaram a insatisfação popular a esquerda e a direita, frequentemente para além dos partidos políticos estabelecidos. Pra se ter uma ideia da magnitude desse movimento multitudinal, no dia 20 de julho, a manifestação na cidade de São Paulo amealhou entre 1,25 milhão e 1,55 milhão de manifestantes. Durante as jornadas, inclusive, a Escola participou através de brigadas que contavam tanto com pessoas para registrarem os diversos pontos das imensas manifestações quanto com apoio jurídico e enfermeir@s para socorrer as pessoas vítimas da truculência policial. Com as Jornadas de Junho, inaugura-se um período onde tanto a esquerda – que tradicionalmente dinamizava as manifestações pós-Ditadura – quanto a direita vem tomando as ruas do país, com reivindicações das mais diversas.
Passados 8 anos daqueles protestos, o sentido do que as “Jornadas de Junho” representaram segue em debate. Para muitos, ali estava um “ovo” do que viria a ser o avanço da extrema-direita e a consequente eleição de Jair Bolsonaro. Essa responsabilização dos manifestantes que levantavam pautas progressistas – redução da passagem, os absurdos investimentos dos mega-eventos – pelo avanço da direita deixa de fora toda a complexidade sistêmica. Escutar os anseios e atender aos pedidos de então, que sim, não eram apenas por 20 centavos, poderia ter sido um caminho. A opção do governo federal, então sob controle do PT, assim como governadores e prefeitos, como Eduardo Paes no Rio e Fernando Haddad em São Paulo, foi outra, vide a defesa das empresas de ônibus, o crescimento das polícias militares estaduais e os retrocessos na legislação federal, com aprovações de medidas como a Lei Anti-terrorismo e dispositivos para facilitar a ocupação militar de territórios periféricos.

Junho de 2013. Fonte: Unisinos
Havia, é claro, pessoas de direita nas ruas então, mas as pautas protagonistas dos protestos eram de esquerda, indiscutivelmente. A análise de onde a direita se fortaleceu em 2013 não pode deixar de ver a responsabilidade das próprias instituições de Estado e daqueles que as controlavam. A lei da delação premiada, por exemplo, foi assinada por Dilma Roussef naquele ano.
A institucionalidade não foi criada para atender demandas diretas. Seus pesos e contrapesos tendem a manter o startus quo, algo inerente aos estados modernos. A criminalização das manifestações apenas seguiu o roteiro histórico. O que poderia ter sido uma oportunidade de uma “guinada à esquerda” acabou se tornando uma ampliação do Estado repressor, com seu viés direitista gritante.
Apesar dos duros ataques dos governos e da mídia, as manifestações continuaram em andamento, especialmente nas cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. O Rio de Janeiro, em particular, sofreu mais que outros locais, pelos preparativos das Olimpíadas de 2016. A remoção de famílias pobres de comunidades como Vila Autodromo e Metrô Maracanã foi um dos principais motivos dos protestos nas ruas.
Se houve um 7×1 em campo, pode-se dizer que houve o mesmo nas ruas, mas com vitória “verde amarela”. Uma blitzkrieg (guerra relâmpago) que contou inclusive com detenções arbitrárias e criminalização de ativistas. A repressão certamente funcionou. O medo da brutalidade policial foi esvaziando cada vez mais a rua. A final da Copa ficou notabilizada pelo cerco da Praça Saens Peña, próxima ao Maracanã, onde manifestantes foram mantidos por horas encurralados, sendo atacados por bombas e tiros. Enquanto alguns eram bombardeados, havia aqueles, de camisa da CBF e ingressos na mão, que tiravam fotos com um Caveirão em frente ao estádio. Seriam ambos grupos de direita?

Junho de 2013. Fonte: Brasil de Fato
Os estudantes vão às ruas
A mobilização estudantil paulista de 2015, através de manifestações e ocupações de escolas, foi obra dos estudantes secundaristas em diversas regiões do estado de São Paulo (tiveram reflexo pontual em outros estados) entre outubro e dezembro do mesmo ano, tendo como objetivo protestar contra a reorganização do ensino público paulista, proposta pelo governador Geraldo Alckmin.
As manifestações alcançaram seu objetivo: a reorganização do ensino público foi suspensa e o então secretário de Educação, Herman Voorwald, foi tirado do cargo. Se o Brasil sentira a força das organizações autônomas em 2013, reviveu a experiência com a luta dos estudantes, que aconteceram, em sua grande maioria, para além do controle das organizações que representam os estudantes.
Não há vácuo na rua
Com grupos autonomistas varridos, estudantes sem estruturas nacionais de suporte e populações pobres, negras e periféricas cada vez mais vigiadas e assassinadas, a rua virou o espaço perfeito para ser ocupado por aqueles que já tiravam fotos com caveirões e policiais com fuzis.
Os protestos contra o governo Dilma Rousseff marcaram os anos de 2015 e 2016. As manifestações massivas ocorreram em diversas regiões do Brasil, no contexto da crise político-econômica iniciada em 2014, tendo como principais objetivos protestar contra o governo Dilma Rousseff e defender a Operação Lava Jato. Palavras de ordem fortes desse período foram “Lula preso” e “Fora PT”. Foram coroadas novas forças da direita brasileira, representada por grupos como o MBL e o “Vem pra rua”, por exemplo, com apoio direto de entidades conservadoras, como a FIESP.
As bases do golpe estavam plantadas nesses atos, com convocações públicas feitas pelos grandes grupos de mídia, inclusive. A manifestação de 13 de maio de 2016 é considerado o maior ato político na história do Brasil, superando as Diretas já. Houve até uma tentativa de atos de apoio à presidenta, mas o golpe, transvestido de impeachment, e a Lava Jato, operação jurídico-policial fraudulenta, já estavam consolidados. Se em 2013 as denúncias tendenciosas do Ministério Público e o uso de escutas serviam para criminalizar somente manifestantes, em 2016 até mesmo a presidenta era grampeada e tinha conversas divulgadas em rede nacional.

“Fora Temer”
A mobilização estudantil no Brasil em 2016 foi formada por uma série de manifestações e ocupações de escolas secundárias e universidades brasileiras que se intensificaram durante o segundo semestre de 2016, realizadas por estudantes secundaristas e universitários em diversos estados do Brasil. As manifestações visavam barrar projetos e medidas dos governos estaduais e do governo do então presidente Michel Temer, como os projetos de lei da “PEC do teto de gastos”, a PEC 241, projeto “Escola sem Partido”, o PL 44 e da medida provisória do Novo Ensino Médio.
Muito espalhadas Brasil afora, contagiando grandes centros e o interior dos estados, teve inspiração da onda de mobilizações estudantis em São Paulo em 2015, e a organização se deu através das redes sociais nos grupos de ocupação. Taticamente, abriram mão de ocupações, com manifestações em frente às escolas e prédios públicos atacando medidas e reformas educacionais propostas pelos governos estaduais e federal.
As manifestações “Fora Temer” em 2016 e 2017 foram as primeiras tentativas do campo progressista de responder ao golpe aplicado à presidenta Dilma. Uma movimentação de alcance nacional, centrada na corrupção de membros do governo e do próprio presidente, assim como em alegações de que não havia justificativa suficiente para a configuração de “crime de responsabilidade” no processo de impeachment. Os pontos altos dessas manifestações se deram em agosto de 2016, no qual Temer foi vaiado aos gritos de “Fora, Temer” no início e fim dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, bem como na abertura dos Jogos Paralímpicos, e no dia da independência do Brasil, com protestos contra o governo Temer em 25 estados e no Distrito Federal.

Estudantes ocupam as ruas / Fonte: Agência Brasil
A greve geral no Brasil em 2017 aconteceu no dia 28 de abril, 100 anos depois da primeira greve geral, em junho de 1917, e a primeira greve geral desde os anos 1990. Foi um protesto contra as reformas das leis trabalhistas, que posteriormente foram aprovadas, e da previdência social, propostas pelo governo Michel Temer e em tramitação no Congresso Nacional. Segundo organizadores, a greve teve adesão de 40 milhões de trabalhadores.
Caracterizado por muitos como uma tentativa de locaute patronal, a greve dos caminhoneiros no Brasil em 2018, foi uma paralisação de caminhoneiros em todo o país iniciada no dia 21 de maio, durante o governo de Michel Temer, e terminou no dia 30 de maio, com a intervenção de forças do Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal para desbloquear as rodovias. Segundo a estimativa de diferentes setores, até o dia 27 de maio a paralisação já teria causado prejuízos de dez bilhões de reais, e talvez tenha sido o maior desafio ao governo Temer dentre todas as manifestações do período.
Ali também foi possível ver a força dos grupos de Whatsapp nas mobilizações, pois as análises até então se centravam especialmente no Facebook e no Twitter, onde é possível avaliar melhor as métricas de alcance e repercussão de temas. A malha de desinformação descentralizada do “zap” foi rapidamente dominada e inteligentemente usada pelos grupos de direita, já num prenúncio do que viria a ser a eleição de 2018.

#EleNão. Fonte: Agência Brasil
No Brasil, sempre pode piorar
Os criativos e animados protestos contra Jair Bolsonaro, conhecidos como Movimento #EleNão, foram manifestações populares lideradas por mulheres que ocorreram em diversas regiões do Brasil e do mundo, com o objetivo de protestar contra a candidatura à presidência da República do deputado federal Jair Bolsonaro. As manifestações ocorreram no dia 29 de setembro de 2018 e se tornaram o maior protesto já realizado por mulheres no Brasil e a maior concentração popular durante a campanha da eleição presidencial no Brasil em 2018.
Seguindo a “tradição” de 2013, os atos foram convocados pelas redes sociais, principalmente no grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” no Facebook, e as mais de 160 cidades que aderiram aos protestos foram motivadas pelas declarações misóginas do candidato e também por suas ameaças à democracia. Após essa convocação inicial pelas redes sociais, muitos movimentos sociais, grupos feministas e partidos também apoiaram e participaram das manifestações.
Não há possibilidade alguma de elogiar a extrema direita, mas é necessário reconhecer que sua estratégia foi vitoriosa nas eleições de 2018. Mesmo com atos importantes como os das mulheres, pode-se dizer que foi constituída o que seria uma “maioria silenciosa” (parafraseando o discurso conservador de Richard Nixon nos Estados Unidos), com Bolsonaro, um político medíocre com décadas de carreira, mas que conseguiu sequestrar o discurso da mudança, o de que ele seria diferente, o “outsider”, aquele que viria para mudar “tudo que está aí”.

Bolsonaro não sai das ruas
A primeira grande mobilização contra o governo Bolsonaro foram os protestos estudantis no Brasil em 2019, que aconteceram nos dias 15 de maio, 30 de maio, e 13 de agosto, contra os cortes na educação do ensino básico ao superior e congelamentos nas áreas de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Houve diversas paralisações no ensino superior e básico, acompanhado de protestos liderados por estudantes e profissionais da educação. Foi o momento que, após um ciclo de lutas mais autônomas, as grandes entidades estudantis como União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e sindicatos tomaram a dianteira do processo. No dia 13 de agosto, a UNE afirmou que houve 1,8 milhão de pessoas nas ruas em mais de 200 cidades de todos os estados do país e Distrito Federal.
Mas em um contexto de intensa polarização, as hordas da extrema-direita puxaram atos pró-Bolsonaro em 26 de maio e 30 de junho de 2019. Bem menores que os atos do campo progressista, foram os primeiros sinais que um núcleo duro de bolsonaristas defende irrestritamente as “conquistas” desse governo e que também estarão a postos a uma possível aventura golpista, possibilidade que vem se tornando mais clara com a redução das chances de vitória de Bolsonaro nas eleições em 2022.
Jair Bolsonaro também inicia um tipo de mobilização que pode ser analisada como uma campanha permanente. Mesmo com a conquista do carga máximo da nação, ele se coloca para sua base como um perseguido, que precisa de um apoio popular ativo nas ruas para manter sua posição. As manifestações da extrema-direita, então, começam a focar nos outros poderes, o Judiciário e o Legislativo, como aqueles que precisam ser combatidos.

Manifestação em defesa da Lava Jato. Fonte: Agência Brasil
Em 2019, uma nova greve geral aconteceu no dia 14 de junho, dois anos após a greve geral de 2017. Dessa vez, os protestos centraram as atenções contra a reforma da previdência do governo Jair Bolsonaro e contra cortes na educação. Menores do que as movimentações de 2017, alcançaram 189 cidades de 26 estados e o Distrito Federal. Com a classe trabalhadora nas cordas, infelizmente as reformas trabalhistas continuaram, afetando milhões de brasileiros de forma negativa.
2020 marcou o ápice do acirramento das forças de direita e esquerda que marcaram toda a década. Manifestações populares ocorreram em diversas regiões do país, no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil. Em 15 março de 2020, aconteceram manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, alvo de várias investigações, e, mais bizarro de tudo, contra as medidas de isolamento impostas pelos governos estaduais. A partir de 31 de maio, aconteceram protestos contrários ao presidente, envolvendo também pautas como o antirracismo e o antifascismo, com resultados variados. Essas manifestações tiveram como dado distintivo o fato de serem puxadas por membros de torcidas organizadas, entre elas dos clubes Corinthians, Palmeiras e Flamengo.
Se a direita estava soberana desde o golpe contra Dilma Rousseff, a rua parece voltar a ser um espaço mais à esquerda em 2021. A massa apoiadora do atual presidente vem se reduzindo, apesar de haver um “núcleo duro” de apoiadores que seguirão com ele, mesmo com todos os escândalos de seu governo. Mas, este núcleo parece cada vez mais constrangida de mostrar apoio público. Por outro lado, no dia 29 de maio se iniciaram protestos contra o governo Bolsonaro, que se espalharam por todo o país, com uma manifestação massiva na capital paulista, por exemplo. Membros de grupos sindicais e torcidas organizadas, unidos a partidos de esquerda, dinamizaram os protestos de rua em pelo menos 85 cidades, com pautas como a volta do auxílio emergencial em R$600, repúdio ao negacionismo, críticas ao incentivo do uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus e o apoio às campanhas de vacinação, além de pautas como o corte de verbas na educação, a repressão policial contra a população negra, usando o contexto da Chacina de Jacarezinho e o apoio a CPI da COVID-19.

Manifestantes a favor da prisão de Lula. Fonte: Agência Brasil
Elas seguem acontecendo com força. Com máscaras, tentativas de manter distanciamento social e pautas anti-Bolsonaro, o movimento tem causado um certo curto circuito nos grupos mais conservadores, como a mídia tradicional, que entrou em clara oposição ao presidente e agora precisa de um certo acordo tácito com aqueles que vêm protestando contra o presidente desde antes da eleição. Da mesma maneira, movimentos como o MBL, que romperam com o presidente, têm reclamado das dificuldades de estarem nas ruas agora por não serem bem-vistos pelos demais manifestantes.
Considerando que 2022 é ano eleitoral e que Bolsonaro não faz questão alguma de esconder que tentará um golpe – talvez a única forma de ele se manter no poder depois de um governo tão desastroso -, as ruas seguirão como protagonistas da história, com talvez uma única grande diferença. Depois de uma pandemia global que fez as pessoas se recolherem e evitarem contatos, teremos um ano onde, salvo alguma má surpresa, haverá um desejo enorme de voltar a encontros, cruzamentos e ações. Resultados imprevistos, como sempre.
Signal com número secundário

Signal com número secundário
Por Gus | Originalmente publicado em seu Blog
Os principais aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram e Signal vinculam a conta do serviço ao número de telefone. Embora esse método de autenticação facilite a descoberta e encontro da sua agenda de contatos de forma bastante imediata, há muitas razões para ter uma conta secundária nesses aplicativos. Se você é um/a jornalista, ativista, defensor/a de direitos humanos ou apenas uma pessoa querendo mais privacidade nas suas comunicações, já se deparou com situações em que gostaria de ter um canal seguro de conversa com uma pessoa, porém não gostaria de ceder o seu número de telefone particular. O Signal está implementando outras formas de identidade e isso pode diminuir a exposição do seu número para terceiros, o que resolveria a questão da privacidade em alguns casos que descrevemos.
Separar os contatos da vida profissional e privada, evitar o doxxing e o assédio online, não vincular a sua localização física ao seu número de telefone ou ainda tornar mais custoso ou impossibilitar um ataque de SIM swap são alguns exemplos e motivações. Mas manter dois ou mais aparelhos de telefone é um trabalho grande e, além do mais, mal damos conta de ter um aparelho com a última atualização de segurança devidamente aplicada.
Este guia ajudará você a comprar um novo número secundário e a registrar com uma conta no Signal. Ter um número secundário ajudará a compartimentar as suas comunicações e a manter contas nos aplicativos desvinculadas ao seu número de telefone privado. Possivelmente será necessário um treinamento de segurança digital para aprender a operar as suas identidades digitais.
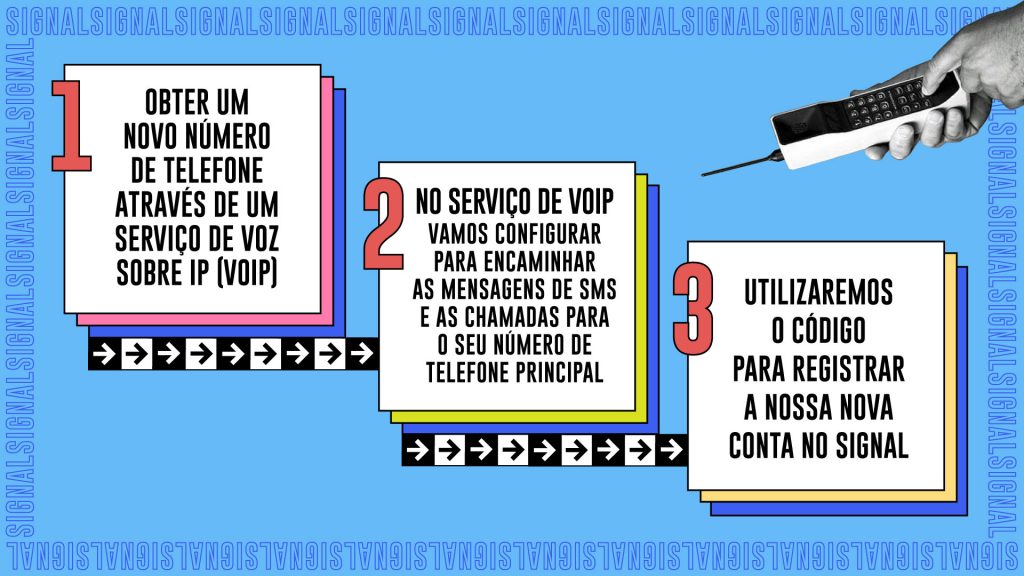
De forma resumida, as etapas para criar a conta secundária no Signal:
- Obter um novo número de telefone através de um serviço de Voz sobre IP (VoIP).
- No serviço de VoIP vamos configurar para encaminhar as mensagens de SMS e as chamadas para o seu número de telefone principal.
- Por fim, utilizaremos o código para registrar a nossa nova conta no Signal.
E antes de começar:
- Para iOS: será mais fácil usar um segundo dispositivo móvel para instalar o Signal, por exemplo, outro smartphone, um iPad ou um iPod Touch. É possível seguir o guia somente com um aparelho, mas neste caso será necessário temporariamente apagar o Signal para criar a nova conta.
- Para Android: para criar um novo perfil de trabalho para o Signal, instale o aplicativo Shelter via Google Play ou F-Droid. Dica: há muitos aplicativos com o mesmo nome, clique no link acima para instalar ou se preferir, procure o aplicativo pelo nome do desenvolvedor.
- Avançado: também é possível registrar o novo número no seu computador usando o signal-cli, porém, deduzo que se você opta por uma ferramenta de linha comando, você saberá o que está fazendo e pode seguir o seu próprio caminho autodidata. 😉
Número de telefone secundário
Há diversas formas para obter um novo número de telefone para registrar o Signal. É possível utilizar um telefone fixo, comprar um chip pré-pago na sua operadora favorita ou utilizar um serviço de VoIP. A vantagem do VoIP é que você pode comprar um número internacional, o que pode tornar um ataque de SIM swap mais trabalhoso, porém, não impossível. Uma outra vantagem é que o VoIP não estará vinculado à sua localização geográfica ou diretamente vinculado a uma operadora brasileira. De todo modo, é importante ressaltar que a sua conta VoIP estará associada a uma forma de pagamento, por exemplo, ao seu cartão crédito. Portanto, não estamos falando de uma comunicação anônima entre o VoIP e o seu número principal, na qual ninguém sabe quem é o proprietário daquele número de telefone, mas sim privada: a empresa de VoIP possui os dados cadastrais e de uso, mas só informará para as autoridades caso exista uma solicitação judicial.
Dito isso, toda a sua comunicação pelo Signal com os seus contatos estará criptografada e o número secundário será utilizado apenas para registrar a conta no aplicativo. Há uma funcionalidade de bloqueio de cadastro, em que uma pessoa não conseguirá registrar uma nova conta no Signal com o seu número de telefone (por exemplo, num ataque de SIM swap), se ela não souber o código PIN que você criou. Observe que o código PIN não é o mesmo código que você recebe via SMS ou chamada telefônica para criar uma nova conta. O código PIN é criado pelo próprio usuário(a). Neste guia utilizarei o Twilio, pois uso o serviço em outros projetos e a criação da conta exigiu uma quantidade pequena de dados pessoais. Fique a vontade para explorar outros serviços de VoIP e criar o seu próprio roteiro de aprendizado. É realmente importante que você compre e tenha controle do número de telefone, por exemplo, adicionando crédito para garantir que o número continue ativo. Ao não manter o número ativo, alguém poderá registrá-lo e tentar assumir a sua conta no Signal. Antes de ingressar no Twilio, leia a política de privacidade do serviço e saiba quais são os dados coletados. O endereço IP do(a) usuário(a), para qual número uma mensagem e/ou chamada telefônica foi encaminhada são exemplos de dados coletados pelo Twilio. A empresa também disponibiliza relatórios de transparência informando quantos pedidos de governos foram recebidos e quantos foram atendidos. Por exemplo, no segundo semestre de 2019, o governo brasileiro requisitou a informação de duas contas, porém os dados não foram fornecidos (não há maiores detalhes sobre).Histórias de usuárias
Nessa hora é importante pensar no seu modelo de ameaça, entender os limites da solução proposta neste guia e o que estaremos protegendo. E ampliando um pouco, além do Signal, vamos imaginar algumas histórias de usuárias e como ter um número secundário pode ajudar na segurança da nossa comunicação.

- A jornalista investigativa Ana é uma jornalista investigativa e deseja ter duas identidades em aplicativos de mensagem, uma profissional e outra privada. Assim Ana segue esse guia e cria a sua conta profissional no Signal. Essa conta será usada para que as fontes entrem em contato de forma segura. Ela poderá divulgar o número Signal em seu site e nas redes sociais, já que esse número é exclusivo para esse uso. Ela usará o número de telefone privado para conversar com a família, as suas amigas e colegas próximos e também orientará essas pessoas que nunca compartilhem o seu contato privado. Usando o número público, Ana participa de grupos de discussão públicos.
- A organizadora de movimentos Luciana participa de vários grupos online em aplicativos de mensagens e ajuda ativamente na luta por mais direitos trabalhistas na sua profissão. Ela descobriu que os donos da empresa querem saber quem está liderando e para isso estão tentando identificar os números dos administradores do grupo do WhatsApp. Os donos solicitam ao RH verificar os números de telefone. Luciana seguiu esse guia e, então, a única informação que os donos terão será um número internacional e não está vinculado a nenhuma outra conta dela como as suas redes sociais.
- A ativista do #EleNão Julia é a figura pública e administradora de diversas páginas online e está preocupada com doxxing, a prática de exposição de dados pessoais online. Ela leu também que um dos ataques durante a campanha do #EleNão foi o SIM swap, em que páginas do Facebook foram sequestradas. Julia segue esse guia e cria dois números internacionais: um para as suas contas em serviços online (Facebook, Twitter, Instagram) e outro para as suas comunicações públicas. Os seus atacantes não terão acesso ao número usado para recuperar a senha nas redes sociais e também não terão acesso ao seu número de telefone privado.
- A trabalhadora sexual A. é uma garota de programa e já houve casos de assédio de clientes. Ao seguir esse guia, A. cria duas identidades nos aplicativos de mensagem e pode separar a sua comunicação online pessoal e do trabalho. Caso ocorra uma nova tentativa de assédio, ela poderá criar um novo número público facilmente seguindo esse guia.
- Uma pessoa comum Natália deu match num aplicativo de paquera. Ela estava sem tempo para fazer um background check no perfil e resolveu passar o número do seu WhatsApp de paquera. Passou uma semana e ela percebeu que o match era alguém com quem ela não queria se relacionar. Ela bloqueou, mas logo apareceu uma nova mensagem vinda de outro número, da mesma pessoa. Ela bloqueou e foi para o seu grupo de amigas com seu outro número:”Aconteceu de novo, gente. Vou mudar o meu número de paquera (de novo).”
Twilio: passo a passo
Para comprar um número no Twilio, o plano básico é de USD 1/mês por um número de telefone nos Estados Unidos e Canadá mais o que for consumido em serviços de texto e chamadas telefônicas. É necessário carregar um saldo de USD 20 na primeira vez. Para determinados países o valor do número de telefone pode ser um pouco mais caro e podem exigir um pacote regulatório. Independente do país que você escolher, é importante um número com suporte a mensagem de texto (SMS) e a chamadas telefônicas.- Após criar a sua conta no Twilio, vamos criar um novo projeto chamado “Signal” no Console. Para conseguir um número de telefone será necessário fazer um upgrade na conta. Após o login, clique em “Upgrade” no canto superior da tela. É possível que o Twilio conceda USD 15 de crédito no período de teste (de 1 mês).
- Confirme o seu e-mail e também o seu número de telefone principal. Não há problema do número ser do Brasil.
- Pule o processo de onboarding (‘Skip to dashboard) e clique para comprar um novo número. Para comprar um novo número, as duas funcionalidades que você vai precisar são: voz e SMS. Se você optar por um número no Brasil, o valor será de USD 4/mês, não poderá receber SMS e ainda precisará preencher todo o pacote de regulamentação para ter o número de telefone. Portanto, sugiro comprar o número de países como Estados Unidos e Canadá que não é necessário essa documentação extra. Atenção: ao clicar em ‘buy’ será descontado USD 1 da sua carteira e a partir daí será feito um pagamento recorrente mensal de USD 1 ou até você cancelar (liberar) o número.
- Após comprar o número, para fazer o telefone secundário funcionar, vamos criar as ações de encaminhamento de voz e texto. Clique em “TwiML Bins“. Dica: é mais fácil clicar nesse link do que encontrar na interface.
- Para adicionar um novo Twiml Bins clique no botão de
+ - Agora é necessário criar dois scripts para encaminhamento das chamadas telefônicas e as mensagens de texto:
Twiml Bins de chamada telefônica
Em “Friendly name” defina como “call-home-signal” e cole esse script:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response> <Dial> +16479316420 </Dial> </Response>
Substitua o número “+16479316420” pelo seu número de telefone principal. Lembre de adicionar o código do país, +55 no caso do Brasil, e também o código da sua cidade.
Clique em “Create”.
Twiml Bins de mensagem de texto
Precisamos repetir o passo acima. Clique em “Twiml Bins” na barra laterial, em seguida em + e repita o processo para as mensagens de texto.
Em “Friendly name” defina como “txt-home-signal” e cole esse script:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Message to="+16479316420">
{{From}}: {{Body}}
</Message>
</Response>
Substitua o número “+16479316420” pelo o seu número de telefone principal. Lembre de adicionar o código do país, +55 no caso do Brasil, e também o código da sua cidade.
Encaminhando as mensagens do seu número secundário
Após criarmos as duas ações de encaminhamento, nós precisaremos associar esses scripts ao novo número que acabamos de comprar.
- Na barra lateral do Twilio, clique em “Phone Numbers” e clique no seu novo número.
- Desça até a seção opção “Voice & Fax”. Em “A call comes in”, clique no primeiro drop down, que está marcando “Webhook” e selecione a opção “TwiML Bin”. No menu ao lado, clique no drop down e selecione “call-home-signal”.
- Agora desça até a seção “Messaging”. Em “A message comes in”, clique no primeiro drop down, que está marcando “Webhook” e selecione a opção “TwiML Bin”. No menu ao lado, clique no drop down e selecione “txt-home-signal”. Finalmente, clique em “Save”.
Parabéns! Agora o seu novo número internacional está plenamente configurado para encaminhar as mensagens de texto e as chamadas telefônicas para o seu número de telefone principal.
Registrando o Signal
Para Android
- Instale o aplicativo Shelter via Google Play ou F-Droid para criar um novo perfil de trabalho para o Signal. Dica: há muitos aplicativos com o mesmo nome, clique no link acima para instalar ou se preferir, procure pelo desenvolvedor.
- Após instalar, abra o Shelter e procure o app Signal, toque e selecione a opção “Clone to Shelter (Work profile)” e depois “Instalar”.
- Um ícone do Signal com uma maleta vermelha aparecerá no menu principal de apps. Utilize esse Signal para registrar o novo número.
- Ao abrir o Signal com a maleta vermelha, ele solicitará o número para instalar. Selecione o país do nosso número secundário e adicione o seu novo número. O código do Signal chegará por SMS e, se não funcionar, solicite o código por ligação internacional.
- Pronto, agora você possui um Signal com um número VoIP no mesmo aparelho do seu número principal, mas sem que este número VoIP esteja atrelado à sua localização física.
Para iOS
Importante: Se você não utilizar um aparelho secundário nesse processo, o Signal vai adicionar os contatos da sua agenda na sua nova conta.- No seu dispositivo secundário instale o Signal da App Store. Se você não possui um dispositivo secundário e o Signal já está instalado no seu celular, você precisará desinstalar e com isso todas as informações serão apagadas. Atenção: Não há como recuperar as mensagens apagadas e os seus contatos receberão uma mensagem informando que você mudou de chave.
- Se você optou por apagar o Signal, agora instale-o novamente. Toque para abrir o Signal e ao solicitar o número para registro da nova conta, adicione o seu novo número secundário. O código do Signal chegará por SMS e, se não funcionar, solicite o código por ligação internacional.
- Pronto, agora você possui um Signal com um número VoIP que não está atrelado a sua localização física!
- Se você possui apenas um dispositivo, instale o Signal Desktop no seu computador. Se você já possui Signal Desktop com o seu número primário, é possível criar mais uma conta Signal instalando a versão beta do Signal Desktop. Outras opções: criar uma nova usuária no sistema operacional ou uma máquina virtual.
- Para recuperar a sua conta Signal principal, você precisará repetir os passos acima e, ao invés de adicionar o número secundário, você utilizará o número principal.
Finalizando
Após finalizar o registro da sua conta Signal, você deve desativar as chamadas de voz e de texto no Twilio. Como o consumo desses serviços tem um custo (cada chamada ou mensagem encaminhada), alguém poderia utilizar o seu número público para gastar o seu crédito. Para desabilitar, volte na seção deste guia Encaminhando as mensagens do seu número secundário. No Twilio entre na seção “Phone Numbers”, selecione o seu telefone e altere de Twiml Bins para Webhook nos dois scripts que adicionamos anteriormente e salve a nova configuração. Posteriormente se você precisar usar o SMS ou a chamada telefônica será necessário habilitar esses scripts, por exemplo, em alguns serviços que exigem a autenticação em dois passos (2FA) via SMS.
Você pode usar esse mesmo guia para criar números de telefones únicos para a recuperação de contas online de redes sociais ou mesmo para outros aplicativos de mensagem. Ataques de SIM swap contra VoIP serão mais difíceis, pois o atacante precisará primeiro descobrir o número e, no caso do VoIP internacional, será mais difícil tentar se passar por outra pessoa para conseguir o acesso ao número. Essa matéria da Vice mostra o tamanho do problema atual com as operadoras de telefonia e o ataque de SIM swap. Se você estiver com muitas dificuldades em acompanhar o guia e precisa de um número secundário, entre em contato.Referências
Esse guia foi elaborado e baseado a partir dos artigos abaixo:
- Locking down Signal, Freedom of Press Foundation.
- Beyond Signal phone numbers, Freedom of Press Foundation.
- How to Use Signal Without Giving Out Your Phone Number, Micah Lee, The Intercept.
- “I don’t want to give out my phone number”- A gendered security issue, Jillian York.


