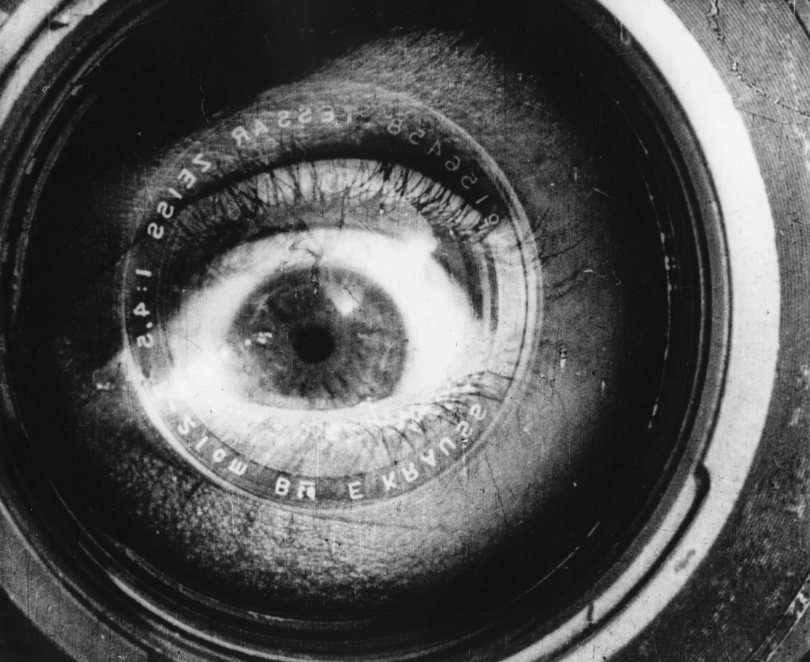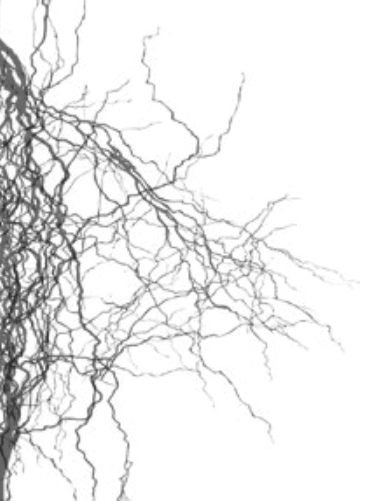NOTA INTRODUTÓRIA
Tuíra preparou uma seleção de trechos dos dois livros do coletivo anônimo denominado Comitê Invisível publicados no Brasil: Aos nossos amigos: crise e insurreição(2016) e Motim e destituição agora (2017), ambos da n-1 Edições.
Os diferentes trechos foram organizados de acordo com um critério de proximidade temática, sem obedecer à ordem das publicações. Em seguida, foram enviados a um conjunto de pessoas que se mostraram dispostas a ler e comentar a seleção feita.
O conjunto de comentários, publicados a seguir, dá uma resposta à disposição do Comitê de dialogar com seus amigos e amigasespalhados pelo mundo e se pretende um momento desse diálogo.
O resultado de tal processo apresenta uma espécie de muro grafitado a muitas mãos, com inscrições que dão a pensar um amplo conjunto de temas ligados às lutas, à teoria e aos modos de vida contemporâneos.
Legenda das referências bibliográficas dos trechos citados
ANACI – Aos nossos amigos: crise e insurreição. São Paulo, n-1 edições, 2016.
MDA –Motim e destituição agora. São Paulo, n-1 edições, 2017.
+++
MARGEM DE AÇÃO
O estado de exceção no qual vivemos não deve ser denunciado, deve ser virado contra o próprio poder. E eis-nos libertos, da nossa parte, de qualquer consideração em relação à lei (…). Temos o campo completamente livre para qualquer tipo de decisão, qualquer iniciativa, (…). Para nós não há mais do que um campo de batalha histórico e as forças que aí se movem. A nossa margem de ação é infinita. A vida histórica nos estende a mão. (ANACI, 45)

Comentários
A luta política, “realista”, tende quase sempre a ser condicionada ora pelo contexto – que exige de nós algumas ações e não outras –, ora pela natureza da causa – que estabelece a priori seus fins e suas condições –, ora pelo próprio quadro de referência ideológico que nos diz o que é luta, o que vem a ser ou não política, o que se deve ou não se deve fazer, quem é ou não é o sujeito histórico. A noção de uma “margem de ação infinita” muda o jogo. Menos talvez pelo fato de estender a perder de vista o horizonte da ação (o que, de todo modo, aguça e estimula a imaginação), e certamente porque estabelece que o horizonte que está posto é limitado demais e que é possível e desejável ultrapassá-lo.
Para o ativismo, essa noção amplia o campo estratégico e renova as opções táticas. Altera o escopo da ação e também a própria autodefinição dos agentes da luta, suas capacidades e seus propósitos. É surpreendente que nós, ativistas, ainda nos mantenhamos facilmente circunscritos a esferas específicas de ação (o ambientalismo, a reforma agrária, o feminismo, a cidade, a floresta, a tecnologia, etc.), observando de forma respeitosa os limites de cada campo, e que ousemos tão pouco embaralhar ou desconstruir tais esferas, muito menos criar outras.
Todo campo é inventado. Uma vez que só a ação pode inventar um campo, que a ação política, portanto, faça existir aquilo que ainda não existe.
++
Repetir repetir – até ficar diferente, escreveu o poeta pantaneiro. Em certa medida, assim o fizeram alguns filósofos. Há uma espécie de repetição estéril no campo das lutas que cria muitos movimentos simultâneos, mas que essencialmente são constituídos de: eliminar aquilo que não é espelho. Bagunçar as fronteiras poderia ser uma forma possível de expandir a potência de todas e cada uma das lutas? Às vezes, sim. Mas quase sempre recuando a essa forma primeira de reduzir o campo infinito de possibilidades a uma repetição que não promove diferença.
+++
O QUE FAZER
Quando o centro da cidade de Atenas estava de novo em chamas, atingiu-se, nessa noite, um paroxismo de júbilo e de esgotamento: o movimento vislumbrou toda a sua potência, mas também compreendeu que não sabia o que fazer com ela. (ANACI, 162)
Vencer a polícia, arrasar os bancos e derrotar temporariamente um Governo ainda não é destituí-lo. O que o caso grego nos ensina é que, sem uma ideia concreta do que seria uma vitória, só podemos ser derrotados. A determinação insurrecional não basta por si só; nossa confusão ainda é demasiado espessa. Que o estudo das nossas derrotas nos sirva, pelo menos, para a dissipar um pouco. (ANACI, 163)
Comentários
Há, em pelo menos um aspecto, enorme diferença entre os agentes da esquerda hierárquica tradicional (marxista-leninista, de corte disciplinador e autoritário) e a constelação dos agentes da multidão que lutam por um “outro mundo”: os primeiros têm um modelo de sociedade e um modelo de governo, e procuram implantá-los. Têm uma formulação do que é a “vitória”. Do outro lado, sem modelo, sem governo, o que temos é “confusão espessa”, como afirma o Comitê.
É provável que, diante da pergunta “O que é vitória para nós?”, decorra um sem fim de platitudes (“justiça social”, “igualdade”, “liberdade”, “diversidade” etc) e de imagens idílicas de mundo que acabam por não dizer nada e por se perder na vala comum das boas intenções.
A pergunta pode estar mal formulada. Ou pode ser que a pergunta exija ser bem respondida. Se eu não tenho resposta para ela, isso dirá mais de mim do que da pergunta. De todo modo, parece que precisamos mesmo é de coragem para encará-la, nem que seja para dizer, ao final, que a questão não nos serve mais. Se for para invalidar a pergunta, que seja por uma boa resposta – ou por uma pergunta melhor.
++
Há uma pista para o enfrentamento do problema do que fazer no tópico “Inteligência da situação”.
++
Um plano de estudos para as derrotas. Somos todos derrotados. E é isto que nos faz outros em relação a todos os vitoriosos.
A convocação da imagem de uma vitória é um flerte, sim, com os formulários ou cartilhas da militância que, sem pestanejar, se aliam ao tucanato para decretar guerra à multidão!!! Mas a multidão não para de se recompor. Vinte centavos foi uma vitória? Para o problema então colocado, sim. Para os problemas que se colocam logo depois, não. Qual o problema? Qual a vitória?
+++
REVOLUÇÃO
Uma insurreição pode estourar a qualquer momento, por qualquer motivo, em qualquer país; e levar não importa aonde. (…) As insurreições chegaram, mas não a revolução. (…) Mas por maior que seja a desordem sob os céus, a revolução parece sempre se asfixiar na fase de motim. Nesse ponto, é preciso admitir, nós, os revolucionários, fomos derrotados. Não porque não perseguimos a “revolução” enquanto objetivoapós 2008, mas porque fomos privados, continuamente, da revolução enquantoprocesso. (ANACI, 11-13)
Comentário
Viver o processo: é isso a revolução!
Se nossa guerra, ou nossa luta, não é contra a teleologia, não deixamos de buscar viver a revolução enquanto processo, e o processo enquanto revolução. O que isso muda nas coisas mesmas? Lembremos Foucault que, sempre para nosso estranhamento, comenta Kant:
“Por outro lado, o que faz sentido e o que vai constituir o signo do progresso é que, em torno da revolução, diz Kant, há ‘uma simpatia de aspiração que beira o entusiasmo’. O que é importante na revolução, não é a revolução em si, mas o que se passa na cabeça dos que não a fazem ou, em todo caso, que não são os atores principais; é a relação que eles mantêm com essa revolução da qual eles não são agentes ativos.” (Michel Foucault, O que é o Iluminismo?)
+++
TRAIÇÃO
Se as revoluções são sistematicamente traídas, talvez isso seja obra da fatalidade; mas talvez seja o sinal de que há, na nossa ideia de revolução, alguns vícios escondidos que a condenam a esse destino. Um desses vícios reside no fato de ainda pensarmos (…) a revolução como uma dialética entre o constituinte e o constituído. Ainda acreditamos na fábula de que todo o poder constituído se enraíza num poder constituinte, de que o Estado emana da nação, como o monarca absoluto de Deus, de que existe permanentemente sob a Constituição em vigor uma outra Constituição, uma ordem ao mesmo tempo subjacente e transcendente (…). Essa ficção do poder constituinte serve apenas, na verdade, para mascarar a origem propriamente política, fortuita, o golpe de força pelo qual todo poder se institui. Aqueles que tomam o poder retroprojetam a fonte de sua autoridade sobre a totalidade social que, a partir de então, controlam e, dessa forma, fazem-na calar em seu próprio nomede maneira legítima. Assim se realiza, em intervalos regulares, a façanha de disparar sobre o povo em nome do povo. (ANACI, 86-87)
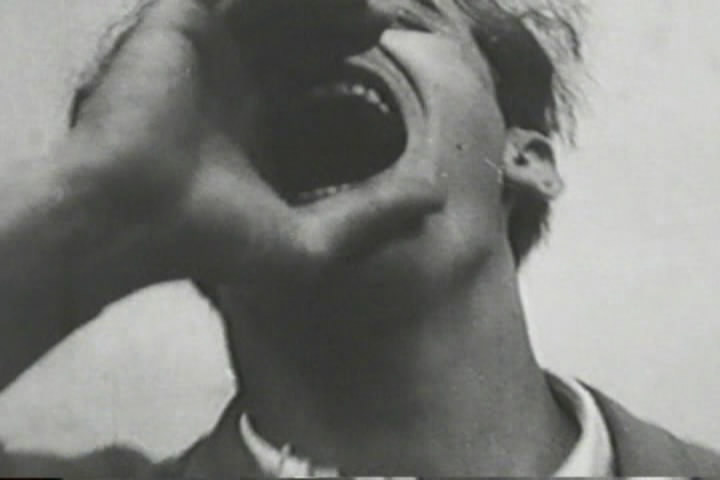
Comentários
Se a revolução é entendida, numa perspectiva totalizadora, como aquilo que muda tudo ou a situação em que tudo mudou (ou será mudado), então não há como não haver traição da revolução, seja num sentido contrarrevolucionário, seja numa perspectiva ainda revolucionária que segue seu curso, incansavelmente. Isso porque não é possível, nem desejável, mudar tudo. Esse projeto totalitário é preciso trair.
A ideia de insurreição parece menos suspeita, pois há algo nela que a limita: é o seu fim. Uma espécie de revolução que se contém – e se contenta por isso. Pode querer muito, mas não tudo. E, pelo fato de muito às vezes ser muito pouco, haverá muito a ser feito, sempre.
++
Fortuita: aqui me parece mesmo haver um certo apelo a um misticismo. Que as revoluções fracassem tão logo o povo descubra que toda revolução é particular, compreendemos. Mas qual a explicação material para o processo que chegamos a chamar de revolucionário? Qual força conjura o golpe e formata o governo revolucionário? Aqui, há uma sensação de questões conceituais, narrativas, que pouco têm que ver com o sangue derramado, o gás inalado. A ver…
+++
POTÊNCIA
Uma força revolucionária deste tempo deve zelar sobretudo pelo crescimento paciente de sua potência. Essa questão foi reprimida durante muito tempo por trás do tema obsoleto da tomada do poder. (ANACI, 292)
“O que é a felicidade? O sentimento de que a potência aumenta”. (ANACI, 284)
Comentários
Nota mental: tomar o “aumento de potência” como critério para a adoção de estratégia ou tática; da mesma forma, usar o “aumento de potência” como indicador na análise dos fenômenos, das situações e das ações políticas.
++
Em Espinosa: não desejo algo porque é bom; mas porque o desejo é que ele se torna bom. Mas o que seria o crescimento da potência de uma força revolucionária? Força revolucionária: um agrupamento? De que tipo? Potência desta força: o que a torna mais forte, com maior condição de ação? Tudo isso em relação a quê?
++
Potência é abandonar algo da vida que a obstrui!
+++
GUERRA
No fundo, a rejeição da guerra só exprime uma recusa infantil ou senil em admitir a existência da alteridade. A guerra não é a matança, mas sim a lógica que regula o contato de potências heterogêneas. Se há uma multiplicidade de mundos, se há uma irredutível pluralidade de formas de vida, então a guerra é a lei de coexistência nesta terra. (ANACI, 167)
A paz não é possível nem desejável. O conflito é a própria matéria daquilo que se é. Resta adquirir uma arte de como conduzir isso, que é uma arte de viver situacionalmente, e que supõe delicadeza e mobilidade existencial mais do que vontade de esmagar aquilo que não somos. (ANACI, 168)

Comentários
É inspirado em Michel Foucault o conceito de guerra (ou guerra civil) que CI põe em circulação aqui – e que também se encontra em Tiqqun (Contribuição para a guerra em curso, n-1, 2019). Diz o filósofo francês em A sociedade punitiva (citado em ANACI, 179): “A guerra civil é a matriz de todas as lutas pelo poder, de todas as estratégias do poder e, por conseguinte, também a matriz de todas as lutas a propósito do poder e contra ele”, um “processo através do qual e pelo qual se constituem diversas coletividades novas, que não tinham vindo à tona até então”.
Em Tiqqun, a formulação é quase idêntica ao trecho do CI reproduzido acima: “A guerra civil é o livre jogo das formas-de-vida, o princípio de sua coexistência” (p. 25). Lá temos uma breve, mas precisa, explicação sobre o uso do termo: “Guerra, porque, em cada jogo singular entre formas-de-vida, a eventualidade do confronto bruto, do recurso à violência, jamais pode ser anulada” (p.26).
Nesses trechos todos, talvez seja preciso compreender, como alerta CI, que “a guerra não é a matança”, mas a lógica do encontro, do “jogo” entre potências diferentes. É por isso que, do outro lado do espelho, a paz não seja possível. Guerra e paz jogam aqui o seu jogo de antinomias.
Curiosa a escolha pela guerra e a recusa da paz. Ora, seria possível afirmar, também com o intuito de ressignificar um conceito, que a paz não é a harmonia, o bem estar indiscriminado que supõe o fim de todos os conflitos, mas, sim, considerando que “o conflito é a própria matéria daquilo que se é”, ela é justamente “a arte de viver situacionalmente, e que supõe delicadeza e mobilidade existencial mais do que vontade de esmagar aquilo que não somos”. Delicadeza e mobilidade existencial parecem ser, em política, talvez o que mais se aproxima de um sentido ativo e potencializador de “paz”.
Antes de ser qualquer recusa, em qualquer condição etária, da alteridade, rejeitar a guerra, isso que comumente se entende por guerra – esta expressão do poder que se manifesta em matança (individual ou coletiva, velada ou escancarada, no estrangeiro ou em território nacional), genocídio, carnificina, massacre, chacina, assassinato (qualquer nome que se dê a isso) –, ao contrário, pode ser a melhor ou a maior afirmação da alteridade que se possa fazer neste mundo. E a isso se segue, como decorrência necessária, a recusa da recuperação ou retomada do conceito de guerra como potência da criação das coletividades novas; simplesmente a recusa em dourar a pílula da ideia de guerra, uma forte rejeição da guerra (e da violência) inclusive como metáfora da potência da vida.
++
Há um pressuposto que orientou ou orienta a vida social: “o homem é o lobo do homem”, a vida é a “guerra perpétua de todos contra todos”. Isto se traduz em um problema para a paz e, principalmente, para a liberdade: “a minha liberdade acaba quando interfere na do outro”.
Ora, o esforço é para ampliar as esferas de liberdade: a liberdade de um aumenta junto com a dos demais. Mas não há ponto pacífico nesta formulação. Na mesma medida em que diferentes interesses se chocam é que aparecem os conflitos. Sua resolução implica algo que pode ser diverso da sua pacificação e aproximar-se da sustentação do conflito enquanto sustentação da vida em si mesma e de todas as formas de vida que lhe acompanham.
Quanto de guerra, no sentido mais frequentemente usado do termo, não se fez em nome da “paz”?
++
“Se quer guerra terá! Se quer paz, quero em dobro!” (Vida Loka, parte 1 – Racionais Mc’s)
A paz não é algo presente nos corpos daqueles que vivem na guerra. Falo daqueles e daquelas que nascem, vivem e morrem nela e com ela se constituem. Falo de gente da pele escura que ao nascer lhe é declarada guerra! São mortos por ela, são potentes a partir dela. Arrasados pelos seus destroços, multiplicados pela herança, pela história dos que não estão mais para contar. Se a paz prometida vier pelo decreto, que a guerra se faça em dobro!
++
Para alguns povos indígenas a guerra não visa acabar com os inimigos. Ela é apenas uma forma de comunicação – incluir em si um traço do inimigo e assim ampliar o repertório, tornar-se mais forte. A aposta é de que o conflito alimentará a cultura e o conhecimento. A guerra como tática de afirmação da vida.
+++
DESTITUIÇÃO
Repensar a ideia de revolução como pura destituição. (ANACI, 88)
Para destituir o poder não basta portanto vencê-lo na rua, desmantelar seus aparelhos, incendiar seus símbolos. Destituir o poder é privá-lo de seu fundamento. É isso o que justamente uma insurreição faz. (…) Destituir o poder é privá-lo de legitimidade, é conduzi-lo a assumir sua arbitrariedade, a revelar sua dimensão contingente. (…) Na insurreição, o poder vigente é mais uma força entre outras forças sobre um plano de luta comum, e não mais essa metaforça que rege, ordena ou condena todas as potências. (…) Destituir o poder é mandá-lo por terra. (ANACI, 89-90)
Quebrar o círculo que faz de sua contestação o alimento daquele que domina, marcar uma ruptura na fatalidade que condena as revoluções a reproduzir aquilo que elas perseguem, tal é a vocação da destituição. A noção de destituição é necessária para liberar o imaginário revolucionário de todos os velhos fantasmas constituintes que a entravam, de toda herança enganadora da Revolução Francesa. Ela é necessária para fazer um corte no seio da lógica revolucionária, para operar uma partilha no próprio interior da ideia de insurreição. Pois há as insurreições instituintes, aquelas que acabam como acabaram todas as revoluções até hoje: retornando a seu contrário, aquelas que se fazem “em nome de…” – em nome de quem? do povo, da classe operária, de Deus, pouco importa. E há as insurreições destituintes, como foram as de maio de 1968, o maio desenfreado italiano e tantas comunas insurrecionais. (MDA, 91)
Comentários
Negri, citado e atacado pelo CI, advoga em prol de uma releitura do conceito a partir da materialidade das lutas que emergem a partir de 2011, contra uma leitura estritamente jurídica e moderna dos mesmos. Em seu último livro com Hardt, ambos defendem a invenção de instituições não-soberanas, construídas sobre as bases das redes de cooperação. Afirmam a importância da tomada de poder, mas não a permanência das instituições como formas jurídicas em si mesmas.
++
As revoluções até hoje não deram conta de realizar uma ruptura drástica no sentido de propriedade. Não basta destituir o sentido de propriedade, deslocá-la de um polo a outro. A propriedade precisa ser destruída!
Nenhuma instituição pode ser capaz de governar a vida das pessoas, ponto.
+++
SAIR
Destituere significa, em latim: colocar em pé à parte, erigir isoladamente; abandonar; pôr de lado, deixar cair, suprimir; decepcionar, enganar. Enquanto a lógica constituinte choca-se contra o aparelho de poder sobre o qual ela pensa ter controle, uma potência destituinte se preocupa muito mais em dele escapar, em retirar desse aparelho qualquer controle sobre si, na medida em que agarra o mundo que forma à margem. Seu gesto próprio é a saída, enquanto o gesto constituinte é a tomada de assalto. Em uma lógica destituinte, a luta contra o Estado e o capital vale sobretudo por uma saída da normalidade capitalista, na qual se vive, por uma deserção das relações de merda consigo, com os outros e com o mundo que, na normalidade capitalista, se experimenta. (MDA, 94-95).
Comentário
Não se está falando apenas em tomar ou não tomar o poder, mas em esvaziamento das instituições, num movimento em que a coletividade passa a assumir seu papel, realizar suas funções, sufocar as instituições pela positividade de suas ações. Se Syriza e Podemos, ao tentarem ocupar o poder, foram por ele ocupados (citação que o CI faz de um militante do próprio Podemos ao referir-se ao mesmo), isto nos alerta para o fato mesmo de que a estrutura que sustenta esse mundo de pé está falida. Romper a normalidade capitalista é romper a dependência institucional?
Experiências vividas por nós vêem que as lutas se dão simultaneamente, não uma em detrimento da outra (como um território quilombola que tem condições de viver autonomamente em relação às instituições, mas não abre mão das mesmas – seja a eletricidade do Luz Para Todos, seja a construção da escola estadual ou da unidade de saúde).
+++
CONSTRUIR, ATACAR
O gesto revolucionário, portanto, não consiste mais em uma simples apropriação violenta deste mundo, ele se desdobra. De um lado, há mundos por fazer, formas de vida que devem crescer distantes do que impera, aqui compreendido o que pode ser recuperado do atual estado de coisas, e, por outro, é preciso atacar, é preciso destruir o mundo do capital. (MDA, 104)
Só uma afirmação tem a potência de cumprir a obra da destruição. O gesto destituinte é assim deserção e ataque, elaboração e saque, e isso em um mesmo gesto. Ele desafia, ao mesmo tempo, as lógicas admitidas da alternativa e do ativismo. O que se joga nele é uma junção entre o tempo longo da construção e aquele mais intermitente da intervenção, entre a disposição em gozar de nosso pedaço de mundo e a disposição para colocá-lo em jogo. (MDA, 106)
Comentário
O esvaziamento dos poderes constituídos, das instituições, pela afirmação de formas de vida que podem interromper a normalidade da vida atravessada pelo capitalismo: interromper e destruir.
Construção, intervenção. Destruir para recriar?
Na base da criação está a destruição.
+++
SECESSÃO
Vamos (…) assumir a secessão que o capital já pratica, mas ao nosso modo.Fazer secessão não é cortar uma parte do território do conjunto nacional, não é se isolar, cortar as comunicações com todo o resto – isso é a morte certa. Fazer secessão não é constituir, a partir do refugo deste mundo,contraclusters em que comunidades alternativas se comprazeriam em sua autonomia imaginária relativa à metrópole (…). Fazer secessão é habitar um território, assumir nossa configuração situada no mundo, nossa forma de aí permanecer, a forma de vida e as verdades que nos conduzem e, a partir daí, entrar em conflito ou em cumplicidade. É, portanto, criar laços de maneira estratégica com outras zonas de dissidência, intensificar as circulações com as regiões amigas, ignorando as fronteiras. Fazer secessão é romper não com o território nacional, mas com a própria geografia existente. É desenhar uma outra geografia, descontínua, em arquipélago, intensiva – e então partir ao encontro dos lugares e dos territórios que nos são próximos, mesmo se for necessário percorrer dez mil quilômetros. (ANACI, 220-221)
Comentário
Não se trata, então, de algo tipo “walden” [1] ou qualquer remissão a comunidades hippies. A menção a Deligny [2] e seu grande trabalho com as pessoas com autismo talvez possa dar uma materialidade. Ou talvez o que os zapatistas construíram até aqui. Ou talvez, de novo, a terra quilombola, que não abdica de seu direito ao título que lhes amplia direitos, mas não se entrega a um modo de vida da economia capitalista, mantendo muito de sua forma de vida tributária há três séculos de existência.
1 Walden ou a vida nos bosques é uma obra de Henry David Thoreau, publicada nos EUA em 1854.
2 Fernand Deligny (1913-1996), educador francês.
+++
ORGANIZAÇÃO
Se organizar nunca quis dizer se filiar a uma mesma organização. Se organizar é agir segundo uma percepção comum, em qualquer nível que seja. Ora, o que faz falta à situação não é a “cólera das pessoas” ou a penúria, não é a boa vontade dos militantes nem a difusão de consciência crítica, nem mesmo a multiplicação do gesto anarquista. O que nos falta é a percepção partilhada da situação. Sem essa ligatura, os gestos se apagam no nada e sem deixar vestígios, as vidas têm a textura dos sonhos, e os levantes terminam nos livros escolares. (ANACI, 18-19)
Como construir uma força que não seja uma organização? (ANACI, 277)
É preciso sair de nossa casa, ir ao encontro, tomar o caminho, trabalhar a ligação conflitiva, prudente e feliz, entre os fragmentos de mundo. É preciso se organizar. Organizar-se verdadeiramente nunca foi outra coisa do que se amar. (MDA, 57-58)
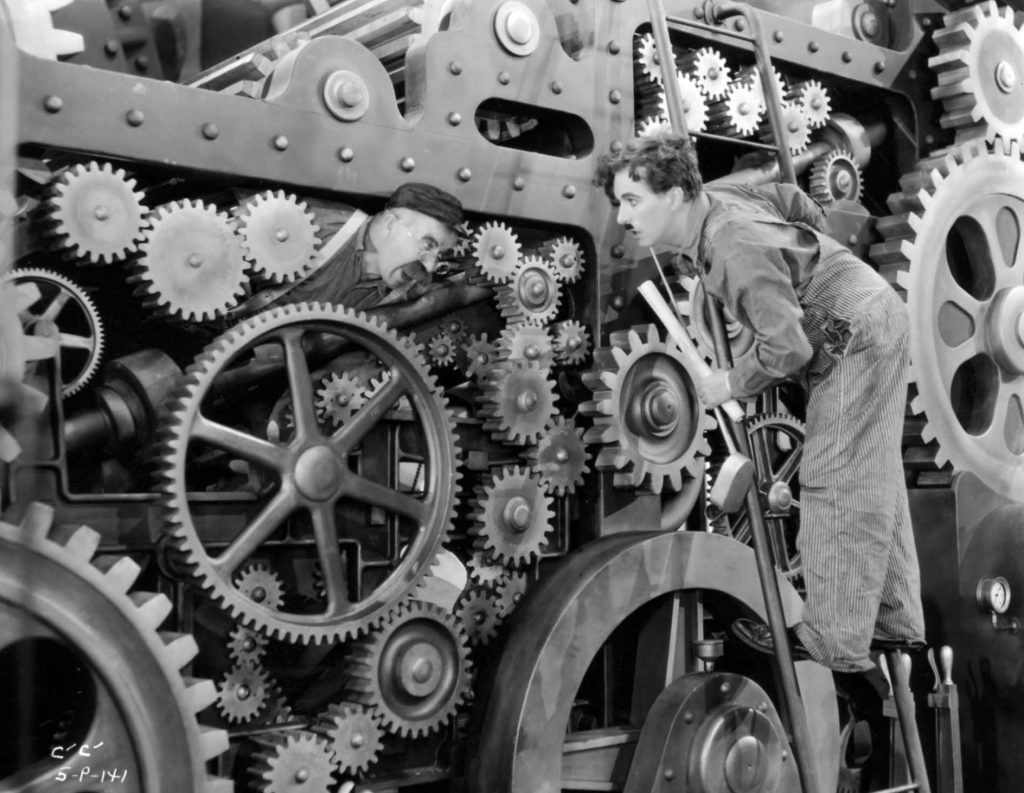
Comentários
Que bom seria se a nossa percepção partilhada da situação partisse, então, da organização verdadeira chamada amor. Isso se o que organiza não for o papel, mas o valor e o sentimento. Eu poderia me basear na ideia de que a única coisa mais forte do que o medo é a esperança e partilharia, então, a esperança de que um mundo melhor é realmente possível. Quem sabe, daí, se organizaria uma revolução.
++
Uma primeira ideia, para ser elaborada: qualquer tentativa de organização contra-hegemônica precisaria assumir-se, antes de mais nada, como não-hegemônica, ou não hegemonista.
E isso é o contrário do que querem e do que fazem nossos amigos e amigas da “esquerda”, de seus partidos, movimentos associados e aparelhos. Qualquer pessoa ciente de sua liberdade e de sua independência irá dizer Não a tais pretensões de subordinação mascaradas de “frente ampla”. A história da fagocitação política das múltiplas potências pelas organizações de massa centralizadas e hegemonistas já é velha conhecida.
Dizer “Não!” aos hegemonistas não resolve muita coisa do problema da “organização” – só exige que pensemos em outros pontos de partida.
+++
MODA
Quem quer que comece a freqüentar os meios radicais se admira de início com o hiato que reina entre seus discursos e suas práticas, entre suas ambições e seu isolamento. Eles parecem como que condenados a uma espécie de autodestruição permanente. Não demora muito tempo para perceber que eles não estão ocupados em construir uma força revolucionária real, mas em alimentar uma corrida de radicalidade que satisfaz a si própria – e que se desenrola indiferentemente no terreno da ação direta, do feminismo ou da ecologia. O pequeno terror que aí reina e que torna o mundo tão duro não é o do partido bolchevique. É antes o da moda, esse terror que ninguém exerce pessoalmente, mas que se aplica a todos. Teme-se, nesses meios, deixar de ser radical, como do outro lado se teme deixar de estar na moda, de ser cool ou hipster. Precisa-se de pouco para manchar uma reputação. Evita-se ir à raiz das coisas em proveito de um consumo superficial de teorias, de manifestações e de relações. A competição feroz entre grupos, como também entre si, determina uma implosão periódica. Há sempre carne fresca, jovem e iludida para compensar a partida dos esgotados, dos traumatizados, dos enojados, dos esvaziados. (ANACI, 172-173)
Comentários
Antigamente (é preciso usar este advérbio com muita ênfase), antigamente o militante preocupado com o povo, envolvido com a classe trabalhadora, queria fazer desaparecer sua identidade burguesa, sua consciência culpada, e, assim, se dissolvia ele mesmo num devir-operário. Seu horror era parecer diferente do povo. Queria se misturar ao povo, pertencer ao sujeito coletivo, dispor de si para se amalgamar na figura sem rosto da classe revolucionária que faria tudo mudar.
Contemporaneamente, o ativista é, antes de qualquer coisa, um ser distinto – incomum, diferente. Tudo isso em nome da premissa da singularidade, aquilo que é mais próprio da vida e da liberdade, o mais radical exercício do viver: ser único, sem igual. Pior é que nem é tanto assim. Uma vez que essas e esses singulares todes acabam no final tão parecides.
++
Então, numa consideração com viés menos sarcástico, é preciso reconhecer que o ativismo está inscrito, em suas formas contemporâneas, no âmbito maior das modas culturais juvenis, e que se expressa com base em pressupostos conceituais e atitudinais delas, sendo indissociável do curso desses fenômenos mais abrangentes. Então, é preciso reconhecer no ativismo suas influências hippies, góticas, punks, cristãs, leninistas, guevaristas, gandhianas, rastafáris… No mínimo, isso nos abre novas abordagens sobre os desafios da mobilização e da interlocução com a “sociedade” – este conjunto dos que habitam conosco e estão ao nosso redor e aquilo que, de uma forma ou de outra, todo ativismo pretende transformar.
Na verdade, talvez caiba reconhecer o ativismo ele próprio como uma moda cultural, um “estilo de vida”, com seus códigos, seus discursos, suas manifestações estéticas, seu visual e suas roupas. Quando um estereótipo se constitui, ele o faz a partir de uma base original empírica; o estereótipo é falso, no mínimo, enganoso, mas pode dar boas pistas para abordar um fenômeno. Se alguém usa o qualificativo “ativista” – como em pessoa ativista, atitude ativista, revista ativista – é porque há uma forma cultural de características definidas que se instituiu. Qual forma é essa, e quais são suas características? Isso dá uma boa pesquisa.
++
Se os “meios radicais” são ambiente de moda, como insinua este trecho do CI, os radicais tem de lidar com isso, seja 1) superando e ultrapassando essa condição, seja 2) assumindo um perfil e um estilo correspondente à sua moda, seja 3) abolindo sua própria radicalidade, aquilo que os distingue e caracteriza. É o momento em que o ativista pode ou não negar o seu ativismo sem negar sua luta.
++
Me parece que está também em jogo o sentido e a possibilidade de um devir ativista. Não no sentido de vir a ser isso ou aquilo, na maneira utópica de ser e estar em uma sociedade que se deseja, mas de assumir a radicalidade de não se enclausurar em uma identidade fixa, em uma causa sublime e única. Permitir transformar-se em qualquer coisa que a luta exigir. Ser floresta, ser terra, ser água, ser sem terra, sem teto, refugiado, trans, estudante, o que for preciso. E antes de tudo: não se deixar capturar pela moda.
+++
ATIVISMO PERFORMÁTICO
Ao se definir como produtor de ações e de discursos radicais, o radical acabou de forjar uma ideia puramente quantitativa de revolução – como uma espécie de crise de superprodução de atos de revolta individual. “Não percamos de vista”, escrevia Émile Henry, “que a revolução será a resultante de todas essas revoltas particulares”. A história está aí para desmentir essa tese: seja a revolução francesa, russa ou tunisiana, todas as vezes a revolução é resultante do choque entre a situação geral e um ato particular – a invasão de uma prisão, uma derrota militar, o suicídio de um vendedor ambulante de fruta –, e não a soma aritmética de atos de revolta separados. Essa definição absurda de revolução está provocando os danos previsíveis: esgotamo-nos num ativismo que não se enraíza em nada, entregamo-nos ao culto mortífero da performance, no qual se trata de atualizar a todo momento, aqui e agora, a identidade radical – seja nas manifestações, no amor ou no discurso. Isso dura um tempo – o tempo de burnout, de depressão ou de repressão. Sem que ninguém tenha mudado nada. (ANACI, 174-175)

Comentários
CI faz uma crítica ao modelo greenpeace de ativismo espetacular. Mesmo que a organização ambientalista mundial possa fazer mais do que executar foto-oportunidades e cenas telegênicas para delícia da mídia, não resta dúvida que produziu um estilo de ativismo midiático, copiado e reproduzido por muitas.
Esse “culto mortífero da performance” é fácil de ser verificado entre nós, ativistas do Brasil, especialmente no ambiente das grandes cidades. Trata-se de uma espécie de ativismo de atos, um “atismo”, doença juvenil da luta, contemporânea dos likes e das selfies, dos vlogs e influencers digitais. Eis um tema controverso, pois o espetáculo pode/deve ser uma arma, dirão algumas; e o espetáculo precisa ser derrotado, dirão outras.
CI sugere a alternativa de um ativismo que se enraíze.
Em outra chave, a gente poderia dizer: no mínimo, um ativismo que não seja banal. Eis um critério muito simples, de fácil uso, como nesta pergunta singela: Este ato (marcha, ação criativa, ocupação etc) que iremos fazer é um ato banal?
++
Se essa revolução que se faz montar como um quebra cabeça, uma soma extenuante entre partes “particulares” – se ela é absurda, podemos dizer que a estratégia é também um instrumento absurdo de revolução. A estratégia fatia a luta em partes, apostando que será também uma “crise de superprodução” de táticas certeiras que levarão a um resultado – que, francamente, é desconhecido.
O radical nunca encontrará as raízes de nada. Não pode se orgulhar de muito mais do que fingir decifrar o indecifrável. Não é a toa que a destituição proposta pelo Comitê quer “mandar o poder por terra” (ANACI, 90), tombá-lo de uma vez como uma estátua milenar.
Paremos de tentar encontrar, talvez, aquilo de que a revolução é resultante.
+++
POLÍTICA
Eis a grande mentira e o grande desastre da política: colocar a política de um lado e de outro da vida: de um lado, o que se diz, mas que não é real e, do outro, o que é vivido, mas não se pode dizer. (MDA, 71-72)
“Política” jamais deveria ter se convertido em um nome. Deveria ter continuado um adjetivo. Um atributo e não uma substância. (MDA, 73)
Comentário
“Ativismo” jamais deveria ter se desdobrado em adjetivos ou nomes que caracterizam sujeitos (“ativista”). Deveria ter continuado a ser tratado como um fenômeno, designado sempre a posteriori, isto é, que só pode ser percebido depois que acontece. Como a paixão, ou o amor.
+++
AGIR
Um movimento que exige está sempre por baixo de uma força queage. (ANACI, 86)
O velho mito da greve geral [deve] ser colocado na seção dos acessórios inúteis.(MDA, 24)
Mostrou-se evidente, para todo manifestantevivo, que os desfiles em marcha lenta exibiam a pacificação pelo protesto. (MDA, 35)
Os amadores desses cortejos fúnebres nomeados “manifestações”, todos estes que, tomando um vinho tinto, apreciam o gozo amargo de ser sempre derrotados, todos estes que soltam um flatulento “Isso vai dar merda!”, antes de sabiamente entrarem em seus carros. (MDA, 14)

Comentários
Pode-se falar de uma crise do ativismo? A primeira frase reproduzida acima, retirada de um livro do Comitê Invisível, e que poderia constar de qualquer coletânea de citações vendidas baratinho num saldão de livros usados, diz quase tudo sobre essa crise. Uma grande parcela do ativismo brasileiro das manifestações e atos criativos na Paulista ou na Esplanada dos Ministérios parece nitidamente estar por baixo, pois a única coisa que faz é “exigir”. E ir-para-a-rua é a fórmula caduca de seu modusoperandi que só trai a sua impotência.
Primeiro, ir-para-a-rua é, quase sempre, reação – e não ação. E, quase sempre, reação tímida e fraca, diante de uma ação ostensiva e forte do adversário (o Estado, as corporações, o Poder).
Segundo, ir-para-a-rua é, quase sempre, iniciativa descolada de uma estratégia de força, de oposição e luta, que prevê escaladas, avanços súbitos ou retiradas táticas, confrontação radical. Em geral, os atos de rua se esgotam neles mesmos – são fins em si mesmos. Por isso, inócuos, quase sempre.
Terceiro, os atos de rua, em geral, com seus cartazes e palavras de ordem, são menos situações de força que extravasam para o espaço público e mais uma espécie de modo espetacular de transmitir nossa mensagem para a televisão. Quase sempre, nesse sentido, são uma forma de mídia – e nada mais que isso. Num mundo midiatizado, rodeado de imagens por todos os lados, esses atos desaparecem instantes depois que vêm à luz, desmancham no ar depois de seus 15 segundos de fútil fama.
Quarto, as mensagens dos atos de rua quase sempre interpelam os agentes do poder fortalecendo sua posição de poder: exigem que o Estado cumpra a lei; que os deputados votem ou deixem de votar; que as autoridades ajam ao ordenar algo ou ao retirar uma ordem; que as empresas deixem de fazer ou façam alguma coisa para o bem. Reivindicação é, no fundo, isso: pedir. “Parem as motosserras!”. Quem irá pará-las?
Quinto, ir-para-a-rua é item típico de uma cartilha de táticas na categoria “Formas básicas de luta”, algo como um “abaixo-assinado” das vias públicas (enquanto no abaixo-assinado os signatários reivindicantes colocam seus nomes, os aqui-presentes das passeatas colocam seus corpos – não à toa os resultados de ambas as táticas costumam ser parecidos). É uma forma codificada demais, já sabida, de fácil combate e anulação. Então, por que insistimos tanto nela?
Para além do argumento da demonstração de forças (reunir gente na rua é prova de nossa determinação) e de servir como indicador de mobilização das causas, os atos públicos que só fazem reivindicar parecem evidenciar, no fundo, a incapacidade do ativismo de ir além do discurso e de dar conta de uma luta política verdadeiramente conseqüente – isto é, com conseqüências, quaisquer que sejam elas. Por isso, esses clichês táticos de certo ativismo são sinais de crise – crise de responsabilidade, crise de visão, crise da própria potência.
++
Perguntas orientadoras:
O que seria um agir distinto de um exigir? Como sair da reivindicação pura e simples para a ação que não pede, faz?
Como podemos substituir o ato midiático de rua por alternativas táticas mais conseqüentes? Se a ideia é não ir para a rua (pelo menos, não no modo automático), iremos para onde? E para fazer o quê?
Se a rua é o lugar onde a polícia certamente estará, onde a polícia não vai estar?
Você já tomou a dianteira hoje?
+++
TÁTICA
Ocupar praças bem no centro das cidades e aí montar barracas, e aí montar barricadas, refeitórios ou tendas, e aí reunir assembleias, tudo isso em breve se tornará um reflexo político básico, como ontem foi a greve. (ANACI,12)
O motim, o bloqueio e a ocupação formam a gramática políticaelementarda época. (MDA, 38)
Comentário
Uma gramática elementar não tem de ser baseada em táticas elementares, mas num modo de agenciar processos e formas de luta capazes de incidência e efeito. Uma gramática sem formas prontas, isto é, que sugira apenas modos de produzir formas, nunca a reprodução do que um dia foi feito. Sem cases, sem melhores práticas – apenas uma linguagem da ação.
+++
NUNCA
Numa de suas publicações, os opositores à construção da linha-férrea Lyon-Turim escreveram; “O que significa serno-TAV? É partir de um enunciado simples; ‘o trem de grande velocidade nunca passará pelo Vale de Susa’ e organizar sua vida para que esse enunciado seja confirmado.” (ANACI, 221)
Comentários
Faço coro: Nunca!
Acredito que sem essa dimensão de determinação, os trabalhos, mesmos estes realizados no híbrido campo das organizações não-governamentais, não têm qualquer sentido. Não lutamos esperando pela derrota. Lutamos porque sabemos que nunca vai acontecer o mal que está prestes a nos acometer.
++
Nunca um Não ganhou tanta força como este Nunca.
Passar a usar mais este Nunca.
Por exemplo, na recusa e no combate às obras de infraestrutura que só nos vem arrasar e destruir.
Por exemplo, no caso do Porto Sul, em Ilhéus: “Nunca um porto para exportar minério será construído no sul da Bahia”.
Por exemplo, no Mato Grosso: “Nunca hidrelétrica de qualquer porte tomará o rio Juruena”.
Por exemplo, naquele estado montanhoso das Gerais: “Nunca mais se implantará aqui uma barragem de rejeito de minério”.
Em tantos lugares: “Nunca quem quer que seja fará qualquer coisa à nossa revelia”, “Nunca um direito a menos”, “Nunca terei ou serei eu mesmo/a chefe”… A lista é extensa.
Nunca houve palavra mais radical.
+++
TOMAR A DIANTEIRA
É preciso ler as doutrinas contrainsurrecionais, então, como teorias de guerra dirigidas contra nós, e que tecem, entre outras coisas, nossa situação comum nesta época. (…) Se as doutrinas de guerra contrarrevolucionária se modelaram a partir de sucessivas doutrinas revolucionárias, não podemos deduzir negativamente, contudo, uma teoria da insurreição a partir de teorias contrainsurrecionais. Eis a armadilha lógica. Não basta que mantenhamos uma guerra latente, que ataquemos de surpresa, que derrubemos todos os alvos do adversário. Até essa assimetria foi reabsorvida. Em matéria de guerra, como de estratégia, não basta recuperar o atraso: é necessário tomar a dianteira. Precisamos de um plano que vise não o adversário, mas a sua estratégia, que a volte contra ele. De tal maneira que, quanto mais acredita estar vencendo, mais rápido ele está caminhando para sua derrota. (ANACI, 186-187)
Comentário
Imagine um certo cenário sombrio num certo país distópico da América Latina, no qual as forças de resistência encontram-se atarantadas e confusas. As formulações do final do texto acima podem ajudar.
Ler novamente as três frases finais.
Ler em voz alta e bem devagar.