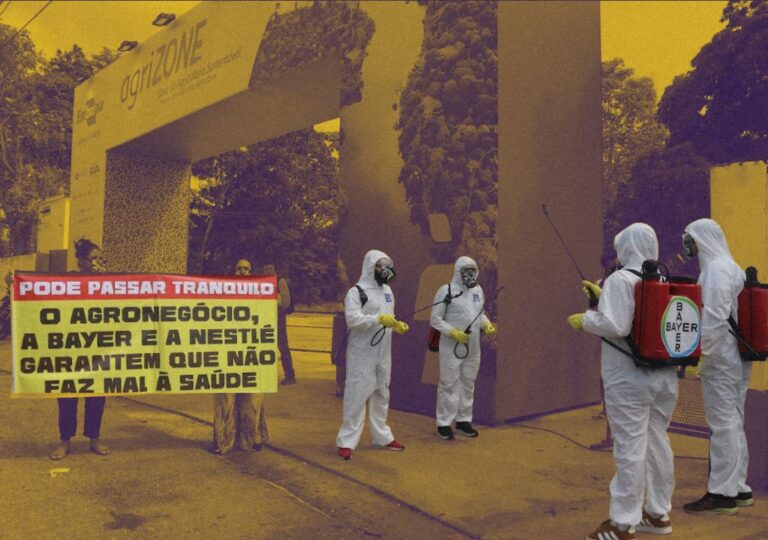Mapear territórios por nós mesmos: cartografias sociais como ferramenta de resistência
O processo metodológico de representação espacial inclui as comunidades na sua elaboração ao considerar seus modos de vida e culturas e pode ser usado como reivindicação para um planejamento territorial mais inclusivo e justo.

“Só entram as informações que os moradores querem que entre. É o que pode ser dito nessa cartografia. Existe o invisível que também é produzido, aquilo que não aparece”, diz Fransérgio Silva l Foto: Casa Fluminense/Reprodução
Já imaginou usar um mapa como ferramenta de defesa territorial? Mas esqueça os modelos tradicionais e as formas de representação espacial baseadas em métodos cartesianos, inclusive aquelas que, institucionalmente, são utilizadas como apagamento. Aqui estamos falando da cartografia social, uma abordagem que utiliza metodologias participativas na construção de mapas sociais que revelam modos de vida, simbologias, culturas e ameaças de determinada comunidade.
Giovanna Castro, mestra e doutoranda em Geografia na Universidade Federal do Ceará, define que a cartografia social “é uma forma de fazer emergir o reconhecimento de territórios, demonstrando suas potencialidades e limitações, ao mesmo tempo em que evidencia parte dos conflitos e ameaças que as comunidades atualmente vivenciam”.
A discussão sobre esse tipo de processo metodológico começa no final da década de 1970, conta Fransérgio Silva. O historiador, que acumula décadas de experiência na metodologia em contextos urbanos e milita no movimento de favelas há mais de 25 anos, cita como exemplo pioneiro no Brasil o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), que desde 2005 realiza cartografias sociais com os povos tradicionais do bioma amazônico, envolvendo não só diversos povos mas também centros de pesquisa, organizações sociais e poder público.
O processo de desenvolvimento da cartografia social
A premissa das cartografias sociais é ser participativa, ou seja, envolver as pessoas da respectiva comunidade em seu processo de desenvolvimento. Como primeiro passo, Giovanna explica que estuda-se a viabilidade da execução do projeto no território, sendo “o mais importante ter o aval da comunidade para realizar e aplicar qualquer metodologia”.
TEXTO
Bárbara Poerner
Jornalista, gestora de projetos e documentarista independente na área socioambiental.
publicado em
TEMAS

Mas o que significa cartografia?
-
“A cartografia compõe o grupo de ciências mais antigas estudadas pelo homem (…) é a disciplina que trata da concepção, produção, disseminação e estudo de mapas (…). Desse modo, a cartografia é considerada a ciência e a arte de representar o conhecimento da superfície terrestre através de mapas e cartas.”
Fonte: Introdução à Cartografia: Conceitos e Aplicações do Ministério do Planejamento
Newsletter
É importante, continua a pesquisadora, manter a ética em toda a condução da pesquisa – antes e depois. Para tal, faz-se necessário conhecer a realidade local e definir as demandas juntamente com a população, garantindo que os cidadãos e cidadãs estejam cientes da realização do processo em seus territórios. “Isso não é uma fase isolada do pesquisador associado ao seu projeto de pesquisa”, avalia. “O tempo da minha pesquisa deve, também, ser condizente com o tempo que a comunidade pode estar disponível”.
É comum haver a organização de mapeamentos participativos, com oficinas temáticas. A condução desta etapa varia de acordo com cada localidade, complementa Giovanna. Para exemplificar, ela cita os trabalhos que realiza nos laboratórios de pesquisa da UFC. “Nós atuamos muito na zona costeira, então os dados que devo obter daquela comunidade são em relação ao uso e ocupação, às atividades produtivas em relação à pesca, às infraestruturas pesqueiras, às principais atividades econômicas, à geodiversidade, à biodiversidade, conflitos, ameaças etc.”
A validação, pela comunidade, das informações mapeadas é crucial para garantir o sucesso da cartografia. “Só entram as informações que os moradores querem que entre. É o que pode ser dito nessa cartografia. Existe o invisível que também é produzido, aquilo que não aparece”, complementa Fransérgio, que já realizou projetos como esse relacionando-os com a militarização no Rio de Janeiro e efeitos da violência.
Pensar nas legendas, por exemplo, é um estágio importante para o historiador. Invés de apenas sinalizar com ícones tradicionais, ele prefere ter tempo para construir os signos em conjunto com a população. “Os desenhos que são produzidos tem a proporcionalidade que os participantes querem dar e uma tradicionalidade diferente de uma legenda, que, às vezes, já são pré-determinados”.
Além disso, é preciso produzir boas perguntas para a condução da cartografia social. Segundo Fransergio, é importante “historicizar” o processo, ou seja, garantir que ele tenha contexto, mas ele reforça que “outras perguntas podem vir sendo fomentadas pelos próprios participantes”.
Embora seja comum que pesquisadores, pesquisadoras e organizações sociais articulem essa proposta, “a comunidade tem total autonomia de fazer as suas cartografias, até porque o que é produzido é através da comunidade”, defende Giovanna. Segundo ela, existem formas de executar as cartografias e criar representações cartográficas que envolvem imagens de satélites e sem elaboração de mapas convencionais, chamada de cartografia efêmera. “O pesquisador leva uma problemática de pesquisa, aplica determinada metodologia, mas a comunidade sim possui essa total autonomia”, completa.
Tudo isso pode ser aplicado em contextos urbanos ou rurais. Fransérgio cita como exemplo um trabalho que fez na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, com a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE). “Os jovens queriam produzir um vídeo, então isso virou parte da cartografia. A partir dele, eles narravam os espaços de violação”. As metodologias se modificam, continua o historiador, dependendo das ferramentas que dialogam com o local.
Essa constante atualização é necessária para que “haja diálogo com outros espaços e articulações entre as cartografias, porque, senão, acabamos isolando os espaços”, diz ele. Falar das potencialidades é importante, mas também devem ser mapeados e apontados os problemas e violências, complementa. “O espaço é uma produção de relações e relações de poder, então uma cartografia hoje pode não ser a mesma cartografia de amanhã”, diz, referenciando o geógrafo Milton Santos. Por isso, atualmente ele prefere usar termos como “cartografia insurgente e/ou decolonial, numa perspectiva de contra-colonização”.
Ferramenta de luta
As cartografias sociais têm sido usadas como dispositivos de luta, resistência e memória por diversas comunidades, sejam elas indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pesqueiras, caiçaras etc., ao questionarem os modos convencionais de representação espacial. “No início da cartografia, era para construirmos identidades, mas a partir do reconhecimento, no qual as pessoas vão se vendo, elas também vão se percebendo como os atores principais do enfrentamento às violações do Estado”, argumenta Fransérgio.
Giovanna apresenta como exemplo os Protocolos de Consulta Livre Prévia e Informada. Esse mecanismo é parte da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário, e diz que todos os povos tradicionais devem ser consultados sobre empreendimentos que afetem direta ou indiretamente seus territórios.
A partir da construção das cartografias, as comunidades conseguem iniciar também seus próprios protocolos de consulta, “nos quais elas podem estabelecer a sistematização desses conhecimentos por meio do mapeamento pela cartografia social”, completa a pesquisadora.
Outro caso, citado por ela, são os Documentos do Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira do Estado do Ceará (ZEEC), em que foram realizadas cartografias sociais junto às comunidades tradicionais na zona costeira do estado cearense. “Esse é um dos primeiros exemplos de aplicação da Cartografia Social na construção do zoneamento costeiro no Brasil. As comunidades foram as reais protagonistas de toda essa conquista, elas reivindicaram a participação na construção desse material”, conta Giovanna.
Além disso, os mapas sociais podem ser também uma ferramenta de desenvolvimento territorial, incidindo em políticas públicas específicas. “Aqui [Rio de Janeiro], a cartografia social gerou um planejamento para construção de um aplicativo que, durante quatro anos, funcionou com categorias de denúncias criadas pela cartografia e pelos jovens”. Já na área da saúde o material foi usado para demandar políticas públicas de Saúde da Família, exemplifica Fransérgio.
Por fim, o historiador resume as cartografias sociais como uma forma “de fortalecer a identidade de quem não é visto e de quem é negada a participação na produção de conhecimento”.

Quer saber como fazer uma cartografia social?
-
Existem diversos níveis de cartografia social: mapeamento comunitários e participativos, construção de relatórios detalhados, criação de percursos afetivos e por aí vai. Podem ser uma atividade numa oficina ou um projeto de longa duração com alto nível de detalhamento. Abaixo, listamos algumas dicas para quem quiser começar nessa jornada!
Por onde eu começo?
Um dos primeiros passos para iniciar o processo de cartografia social é entender as demandas do seu território. Ou seja, perguntas iniciais podem ser: minha comunidade deseja uma cartografia social? Qual seria seu uso e utilidade? Como essa ferramenta poderá fortalecer nossos direitos?
Procure quem sabe!
Pesquisadores e pesquisadoras de instituições de ensino, como universidades, podem ser consultadas em departamentos como os de Geografia ou Ciências Sociais, para buscar apoio técnico para o projeto. O desenvolvimento da cartografia social une os saberes e necessidades das comunidades, mas também o aparato metodológico proposto pela academia.
Reúna-se com sua comunidade!
Realize encontros formativos, de escuta ativa e mapeamento. O tempo de duração, os meios de publicação e a estrutura da cartografia social vão depender do contexto do seu território.
Parta para o mapa!
Você pode começar de um mapa do seu bairro ou território. Ou da bacia em que sua comunidade está inserida. Ou pelo percurso de um rio. Tudo vai depender da especificidade da sua região ou de sua luta. Ela é pela defesa de um rio? Ou por políticas públicas?
Não deixe nenhum ator de fora!
É essencial entender todos os atores que compõem um território. O bar, o postinho, a escola, a associação comunitária, a igreja e até mesmo ameaças. Isso pode ajudar a calcular riscos e potencialidades.
Aposte no afeto!
Mapear um território deve partir da afetividade das pessoas que estão ali. O que as emociona? Onde estão suas memórias? O que cada espaço diz? Ter uma visão panorâmica é um ótimo momento para reavivar histórias e entender pertencimentos. É importante considerar não só as materialidades, mas também os valores simbólicos da comunidade.
Deixamos abaixo alguns manuais práticos e fontes de leiutura:
Leia mais:
-
Cartografia Social – Tutorial (Exercícios Práticos)
Exemplos promissores
- Cartografia Social da Amazônia
- Cartografia social da ONG Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional)
Foto: Auto-Cartografia do Acampamento Dom Tomás/Reprodução
Mais recentes
Funcional Sempre ativo
Preferências
Estatísticas
Marketing
Coletivo independente constituído em 2011 com a missão de fortalecer grupos ativistas por meio de processos de aprendizagem em estratégias e técnicas de ações não-violentas e criativas, campanhas, comunicação, mobilização e segurança e proteção integral, voltadas para a defesa da democracia e dos direitos humanos.
Temas
assine nossa NEWSLETTER
Material de aprendizagem, reflexões, iniciativas, resistências. Um conteúdo exclusivo e analítico sobre o cenário, os desafios e as ferramentas para seguir na luta.